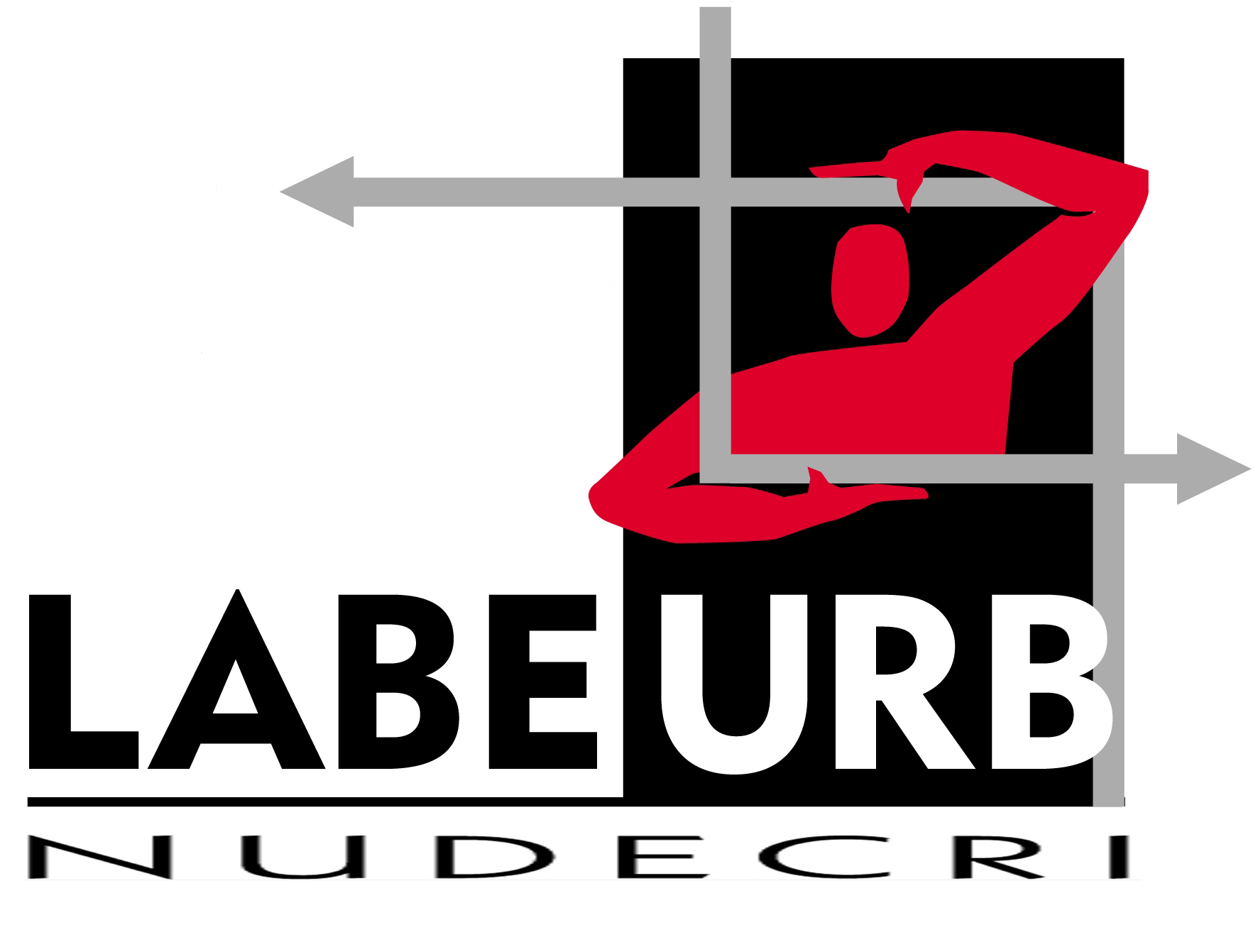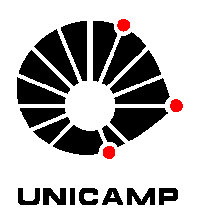Formações imaginárias sobre o médico no Brasil: algumas repercussões na língua


Deborah Pereira
Ela é médica
E tem todo o direito de arrancar o que quiser de mim
Eu que estou como qualquer sujeito
Sujeito a dar defeito ou coisa assim
(Gilberto Gil – Quatro Pedacinhos)
Palavras iniciais
Em maio de 2021, surgiu nos jornais e redes sociais a notícia de que um falso médico estava atuando como plantonista em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Sobre o ocorrido, o Portal de Notícias G1 publicou a seguinte manchete: “Falso médico que atuava em UPA do Rio é desmascarado após erros de português em receita”[1]. O que me chama atenção, neste caso, é que a descoberta da ocupação indevida do cargo não aconteceu em razão de algum equívoco documental ou por uma prescrição de tratamento suspeita, mas, sim, por um “erro de português”: o falso médico escreveu “potaciu” em vez de “potássio” na receita (figura 1). Assim que li a respeito desse episódio, logo me veio à mente outro ocorrido, de 2016, que teve grande repercussão na mídia: quando um médico – debochando da fala de um paciente – postou nas redes sociais a foto de um receituário no qual havia o seguinte enunciado: “não existe peleumonia e nem raôxis!”[2].
Figura 1 - Imagem da receita, com destaque para a palavra “potaciu”,
retirada de notícia veiculada pelo G1.
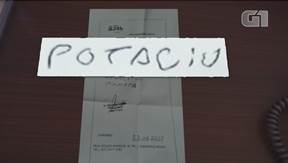
Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/05/25/mais-um-falso-medico-e-preso-no-rio-farsante-foi-descoberto-por-erros-de-grafia-como-potacio.ghtml
Partindo, então, desses dois eventos e considerando os pressupostos teóricos da História das Ideias Linguísticas articulada com a Análise de Discurso materialista, proponho tecer uma reflexão que aborde como uma dada maneira de escrever e falar é considerada (des)legitimadora de uma determinada profissão e como isso é efeito de um projeto de “unidade linguística”. Se, de acordo com Vargas (2010), medicina, direito e engenharia são nomeadas como profissões imperiais em nosso país (de maneira tal que a medicina, especificamente, é dotada de um prestígio universal e perene), me pergunto: como esse prestígio relacionado à medicina repercute na língua?
Para isso, penso nas formações imaginárias em jogo, especialmente no Brasil, acerca do sujeito que ocupa a posição de médico, tentando estabelecer uma relação entre o que se imagina discursivamente sobre o médico e as tensões de poder que se manifestam na língua. Busco, também, pensar a respeito da escrita, em particular sobre o que significa saber ler e escrever em nosso país, tratando de sua relação com a urbanidade e com o sujeito-médico.
Entre a Análise de Discurso e a História das Ideias Linguísticas
Este artigo se situa, como já disse, entre dois campos científicos: a Análise de discurso e a História das Ideias Linguísticas. A análise de discurso materialista é uma disciplina que procura lançar luz para o caráter histórico e contraditório da linguagem, constituindo-se, conforme Orlandi (2008), como uma disciplina de entremeio que opera no batimento entre três regiões do conhecimento: o materialismo histórico, a linguística e a psicanálise (empregando, desta teoria, a consideração de que o sujeito é afetado pelo inconsciente). Já a História das Ideias Linguísticas lança um modo de pensar, dentro dos estudos linguísticos, a constituição dos saberes sobre a linguagem e as línguas, procurando “difundir estudos sistemáticos que toquem a questão da história do conhecimento linguístico e da história da língua, articuladamente, explorando novas tecnologias de pesquisas” (ORLANDI, 2008, p. 9).
Horta Nunes (2008, p.70), ao refletir sobre uma articulação entre HIL e AD, afirma:
Visto que a AD se constitui como um modo de leitura, sustentado por um dispositivo teórico e analítico, que considera a historicidade dos sujeitos e dos sentidos, ela traz uma contribuição considerável para o estudo da história das ideias linguísticas. Tomando as diversas formas de discurso sobre a(s) língua(s) para análise, efetuam-se leituras que remetem esses discursos a suas condições de produção, considerando-se a materialidade linguística na qual eles são produzidos e evitando-se tomá-los como instrumentos transparentes ou simplesmente como antecessores ou precursores da ciência moderna.
A AD, então, possibilita conceber a historicidade e a contradição na análise e, justamente assim, contempla um olhar para os documentos, retirando-os da transparência, como aborda Nunes. O trabalho que empreendo neste texto não se volta a nenhum instrumento linguístico ou documento específico (dicionário, gramática, livro didático, lei, relato de viagem, glossário, etc.), mas versa sobre eles, uma vez que esses instrumentos legitimam uma língua em detrimento de outras, atestando onde “podemos encontrar a certeza e a verdade” (SILVA, 2003, p. 112) e nos distanciar do “erro” (linguístico e social). É, também, pelo saber construído pelos instrumentos linguísticos (e pelos efeitos produzidos por esse saber) que os dois casos abordados aqui podem ser interpretados.
Além disso, é importante destacar que, segundo Ferreira (2018), as pesquisas em HIL começaram a se desenvolver no Brasil a partir de um projeto da área de Análise de Discurso. Este projeto, cujo título era “Discurso, Significação, Brasilidade”, tinha como proposta estudar “como, em nossa história, no Brasil, discursos sobre a nossa identidade foram sendo construídos: discursos que fazem com que nos signifiquemos como brasileiros” (ibid., p. 18). No que diz respeito às condições de produção que deram especificidade à História das Ideias Linguísticas do Brasil, Ferreira nos lembra do livro Terra à Vista, de Eni Orlandi, que “já contemplava a questão da identidade do sujeito brasileiro em nossa história” (ibid., p. 18). Assim, quando opto por explorar as situações médicas expostas, sob o olhar da HIL, interessa-me fortemente pensar nas relações tensas dos brasileiros com a história (e com as línguas) do Brasil.
Quem pode falar sobre a língua?
O caminho de partida deste artigo, como já dito na introdução, é traçado por dois casos que ganharam alcance midiático, envolvendo um médico e um falso médico. Esses dois acontecimentos me permitem pensar não necessariamente na medicina, ou em procedimentos de saúde e doença, mas na língua. São, curiosamente ou não, questões de ordem linguageira que esses episódios evocam. Pagotto (2011), ao analisar as polêmicas envolvendo o parecer de Rui Barbosa a respeito do projeto do Código Civil, afirma que Barbosa, ao invés de apresentar emendas de cunho jurídico (o que era esperado, já que ele era um importante político e jurista), escreve um parecer proeminentemente de análise linguística, revisando quase todos os 1.832 artigos que faziam parte do projeto. O acontecimento estudado pelo autor, embora muito diferente dos eventos que destaco aqui, suscita a mesma pergunta: por que assuntos de natureza linguística permearam, pelo menos nesses casos específicos, essas profissões que não têm como exigência central de seu ofício discutir sobre práticas linguísticas?
Nesse sentido, vale mencionar que, na história da gramatização brasileira[3], discursos sobre questões da esfera linguística nem sempre eram reservados apenas aos gramáticos, literatos, linguistas ou estudantes das letras – até hoje, inclusive, são legitimados socialmente discursos (prescritivos ou descritivos) acerca da língua feitos por quem é de fora da área de estudos da linguagem (mas nunca por “qualquer um”). Por isso, a pergunta: quem pode falar sobre a língua? No estudo de Pagotto (ibid.), é um sujeito na posição de jurista quem revisa detalhadamente o texto do projeto; no objeto que trago para análise, é um sujeito assumindo a posição de médico que debocha do modo de falar do outro ou que não pode errar a ortografia na prescrição de um medicamento.
A história do ensino superior no Brasil pode ser uma chave para refletir sobre isso. Pereira (2019) compreende que houve resistência à fundação de uma Universidade brasileira que perdurou até 1920. Isso configurou um ensino superior tardio em relação ao cenário visto na América espanhola; desse modo, a Universidade instaura, na história brasileira, uma “divisão entre saber e fazer, entre o intelectual e o manual: há os índios, os negros, os mestiços, a quem se destina uma educação primária, doutrinal e moralizante; e há, para os filhos dos colonos, uma instrução acadêmica” (ibid., p. 786). Para esses últimos, de acordo com a autora, havia uma formação que possibilitava o ingresso em universidades europeias – quando aqui ainda nem havia educação universitária. Dessa divisão entre o “saber e fazer” apontada por Pereira, podemos pensar na correspondência entre o trabalho intelectual e o trabalho com/sobre a língua. Aqueles formados por universidades, que podem produzir um trabalho intelectual, devem efetuá-lo na língua “correta”, seguindo uma dada norma linguística representada pela Universidade que, como sugere a pesquisadora, trabalha retratando a unidade do Estado e a relação Língua/Nação/Estado. Ou seja, fala e trabalha com/sobre a língua quem sabe a língua (do Estado).
Cabe lembrar que as primeiras instituições de ensino superior no Brasil priorizavam cursos de Medicina, Direito e Engenharia, cursos que não necessariamente produzem um pensamento de cunho linguístico, mas que formavam intelectuais. Orlandi (2002), ao tratar das relações entre o conhecimento linguístico e a organização social (do trabalho e do próprio conhecimento), afirma que, no século XIX, os autores de nossa produção linguística e literária eram
historiadores, médicos, engenheiros, e letrados que se dedicam ao estudo e ensino da língua, assim como à produção de instrumentos linguísticos e da literatura, produções que legitimam nossa escrita [...]. Todos estes intelectuais são, em geral, capazes de uma escrita jornalística, que constitui, por assim dizer, o lado de divulgação desse conhecimento e dessa prática erudita, do saber a língua. (ORLANDI, 2002, p. 204).
A autora entende que naquele período importante da história brasileira (o século XIX, marcado pela gramatização das línguas no Brasil), havia uma efervescência ligada à transformação do Brasil em um país independente. Com isso, vinha a necessidade de praticar modelos de língua não mais fixados aos de Portugal, de tal modo que é formada uma escritura (literatura) “legitimamente nacional para a nossa língua” (ibid., p. 203). Já mais para o fim do século XIX estruturam-se locais legítimos de conhecimento da língua, locais que garantem a unidade linguística (nacional), uma vez que os Colégios[4], criados no início do século, já estavam altamente consolidados.
De acordo com Orlandi, os Colégios são os lugares de formação de nossos representantes, já que estas instituições asseveram o domínio da “boa” língua, da “boa” retórica e da “boa” escrita. Assim, o ensino da língua nesses grandes Colégios passava pela inscrição de “valores, metas e perfis da formação de quadros para gerir nossas instituições e nossos projetos políticos de nação” (ibid., p. 180)[5]. Dessa maneira, falar sobre a língua, divulgar o conhecimento linguístico tinha conexão direta com a formação da sociedade brasileira; quem podia tecer falas a respeito da língua, de certa forma, era quem representava a cidadania, quem podia auxiliar o Estado na manutenção da Língua Nacional.
Segundo Orlandi (2002), “o conhecimento de língua durante muito tempo se resumiu, no discurso social, a “falar e escrever corretamente”” e mesmo com o “desenvolvimento da Linguística, mantém-se esse traço de ideologia sobre a língua nacional” (ibid., p. 206). Ainda hoje, a língua nacional circula como um bem público[6] e, sendo um bem público, é possível entender que ela não deve ser “deteriorada”, pelo contrário, precisa ser preservada. E é neste ponto que residem, ainda em concordância com a autora, processos de inclusão, de exclusão e de valorização de sujeitos pelos modos como falam. Portanto, quem é visto como autorizado a falar sobre a língua são os incluídos, aqueles que, de algum modo, na hierarquia social, possuem mais bens, dos quais cabe destacar o chamado “nível superior”, que inclui, necessariamente, o bem da “boa” língua.
Adentrando na análise: os Imaginários sobre o médico no Brasil
Pêcheux (1990), na Análise automática do discurso, escreve que uma série de formações imaginárias funciona nos processos discursivos que designam “o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (ibid., p. 82). O discurso, portanto, é considerado como uma relação de “efeitos de sentido” entre locutores – e não como uma simples troca de informações entre eles. E esses sentidos são produzidos por imaginários (sociais) e pelo funcionamento da ideologia. Para pensar, então, acerca das formações imaginárias sobre o médico no Brasil, priorizo: i) algumas questões relativas à criação das primeiras faculdades de medicina no século XIX; ii) o cenário brasileiro do século XX, marcado por intensas campanhas higienistas, pensando em como essa conjuntura ajudou a cristalizar certos imaginários sobre o médico; e iii) a situação do médico no século XXI, considerando o poder que esta profissão assume até os dias atuais. Após isso, articulo esses imaginários[7] com teorizações acerca da escrita, traçando um gesto de análise acerca das duas situações já expostas anteriormente.
O médico no século XIX
Quando a família real portuguesa desembarca no Brasil, em 1808, são fundadas as primeiras escolas de ensino superior. Dentre elas, duas são voltadas à prática médica: em Salvador, é criada a escola de Cirurgia e Anatomia (hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia); no Rio de Janeiro, institui-se a escola de Anatomia e Cirurgia (atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de janeiro). É importante considerar que a criação desses cursos gerou uma série de impactos, ao longo do século XIX, não somente na forma como as doenças passaram a ser tratadas, mas por conta da deslegitimação estatal de certos saberes terapêuticos comuns nos quase 300 anos do período colonial.
Sobre isso, Vergueiro (1979) afirma que, com a chegada da corte portuguesa, as relações entre Medicina e Sociedade se estabeleceram de modo que os órgãos institucionais passaram a controlar a vida na cidade e o “exercício a-científico da Medicina” (ibid., p. 96). Desta forma, o saber médico ganha um caráter organizador e normalizador da população; a Medicina passa a ser formuladora de uma teoria da cidade que pressupunha a vigilância constante,
a saúde pública era essencial para o bom funcionamento do Estado, e a Medicina deveria defender o homem da desordem do próprio homem, o que levou os médicos se envolverem na teoria e no planejamento urbano, procurando, através da “intervenção totalizadora”, obter uma cidade submetida à norma do conhecimento. (VERGUEIRO, 1979, p. 97).
Para essa medicina urbana, intimamente ligada ao Estado, a população negra foi, como descreve a autora, “uma pedra no caminho”. E isso aconteceu não porque os médicos estavam preocupados com a mão de obra escravizada, mas pela escravização doméstica, que propiciava o contato entre senhor e mucama, entre criança branca e ama de leite, o que causava uma contaminação “à moral” (ibid., p. 97). Por essa via, outro ponto importante diz respeito aos sangradores – pessoas que utilizavam métodos terapêuticos com a sangria. Na época, na Europa Ocidental, a sangria fazia parte da medicina acadêmica, mas, no Brasil, “esse ofício era relegado aos grupos mais subalternos da sociedade: escravos e forros” (PIMENTA, 2003, p. 94).
A partir da década de 1830, com a consolidação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro (criada em 1829) e com a instauração de alguns periódicos médicos especializados – como o Semanário de Saúde Pública, o Diário de Saúde e a Revista Médica Brasileira –, o título de sangrador deixou de ser concedido e essa prática começou a passar por um processo de extinção e desqualificação. Sabendo que na sociedade brasileira o domínio da sangria pertencia, primordialmente, à população negra, podemos entender que a sua deslegitimação – e condenação – era resultante da divisão, já abordada aqui, entre “o saber e o fazer”, ou seja, entre aqueles a quem o acesso ao estudo médico era garantido (brancos, descendentes de colonos) e os “estúpidos africanos, que às vezes nem sabem expressar-se, principiam aprendendo a sangrar sobre talos de couves!” (COSTA, 1841, p. 17)[8].
É possível notar, então, um imaginário de médico que vai se opor ao que se entendia por “charlatanismo”; a medicina, aliada ao Estado, ia contra aquilo que não obedecia aos critérios civilizatórios. Da citação acima, chama especial atenção o termo “expressar-se”, já indicando um julgamento linguístico sobre aqueles que não podiam exercer práticas terapêuticas, ou seja, que não foram graduados, que não pertencem à civilização. Há, então, uma memória na qual são colocados em relação saberes linguísticos e saberes profissionais que se repete e se sustenta até os dias de hoje. Portanto, esse saber imperial, raro, concedido a poucos, era visto como base para “a construção de uma ordem mais justa, assessora indispensável de qualquer governo esclarecido” (VERGUEIRO, 1979, p. 96). Junto com a corte, a Faculdade de Medicina chega para limpar o país de sua indisciplina, estabelecendo, por meio de uma “polícia médica”, a moral e a ordem. Além disso, é relevante dizer que já nesse momento havia uma preocupação, nas práticas médicas, com métodos de higiene – que se intensificará, como veremos no próximo tópico, no século seguinte.
As campanhas sanitaristas e a Medicina no século XX
Para pensar nos imaginários do médico no século XX, meu ponto de partida é Jeca Tatu, um dos personagens mais famosos da cultura popular brasileira, que foi apresentado ao público através do conto Urupês, de Monteiro Lobato, publicado primeiramente em 1918.
No conto, Jeca é representado como “um piraquara do Paraíba” (LOBATO, 1972), que vive de cócoras, não importa o que aconteça; o homem interiorano é construído como um sujeito parasita, indolente, sem vontade, ignorante, sendo o seu conhecimento embasado em crenças e histórias populares. Em uma das narrativas mais conhecidas protagonizadas por Jeca Tatu, que circulou amplamente no Brasil através de Almanaques publicitários do remédio Biotônico Fontoura[9], há a figura de um médico. Esse médico, ao chegar no interior, depara-se com o caipira, descrito como um “grandíssimo preguiçoso”, “bêbado”, “imprestável”, “um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de sapé” e que “vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muita magra e feia e de vários filhinhos pálidos e tristes”. O médico, vendo a situação de Jeca Tatu, resolve examiná-lo e conclui que o camponês está doente. Assim, o “doutor” receita-lhe um remédio e aconselha-o a deixar de beber pinga e de andar descalço. Ao seguir as prescrições médicas, Jeca muda radicalmente: “a preguiça desapareceu”, “só pensava em melhoramentos, progressos, coisas americanas. Aprendeu logo a ler, encheu a casa de livros e por fim tomou um professor de inglês”. Graças à ciência[10], as terras de Jeca Tatu prosperam ainda mais que a fazenda de seu vizinho italiano. O caipira, agora disposto ao trabalho, fez diversas melhorias na região e adquiriu instrumentos tecnológicos para cuidar da sua propriedade: carros, telefone, caminhão, telescópio, etc.
Ou seja, após o encontro com um médico, o “caboclo indolente” passa por uma intensa transformação. Nesse sentido, Lima e Hochman (2000) apontam que Monteiro Lobato começa a defender a tese de que um caipira modesto pode tornar-se agente de uma mudança social ao deparar-se com as propostas (e os intelectuais) presentes na campanha em prol do saneamento do Brasil, ocorrida no período de 1916 a 1920. Os autores salientam o seguinte:
No mesmo ano de 1918 em que Belisário Penna publicou Saneamento do Brasil, Monteiro Lobato lançou Problema vital, que reúne série de artigos sobre o tema do saneamento divulgados originalmente em O Estado de São Paulo, entre os quais um dedicado à ressurreição do Jeca Tatu. [...] O diagnóstico sobre a preguiça do caboclo mudara; às doenças, reveladas à nação através dos relatórios das viagens dos cientistas do Instituto Oswaldo Cruz ao interior, cabia a responsabilidade pela situação de miséria e indigência em que se encontrava o caboclo. A frase que sintetiza essa espécie de “conversão” de Lobato ao ideário sanitarista é bastante conhecida e serve de epígrafe para o livro: O Jeca não é assim: está assim (LIMA; HOCHMAN, 2000, p. 322).
Naquele momento da história brasileira, compreendido principalmente pelas três primeiras décadas do século XX, os debates sobre saúde e saneamento estavam bastante acalorados. Lima e Hochman (2000) mostram que, por conta dos impactos da Primeira Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas ganharam bastante protagonismo no Brasil e no mundo. Esses movimentos traziam à baila questões acerca do alistamento e recrutamento militar, favorecendo discussões, bastante disseminadas na época, a respeito do “determinismo e melhoria racial, nos quais o debate sobre as condições de saúde tiveram um papel relevante” (p. 315). A presença de discursos médico-sanitaristas, portanto, estava sintonizada com o desejo de “salvação nacional”, que visava formar corpos aptos para a guerra e para o trabalho, produzindo efeitos nos mais diversos âmbitos da sociedade.
Na esfera escolar, por exemplo, Junior e Carvalho (2012) frisam a presença massiva do discurso médico-pedagógico na educação nacional na primeira metade do século XX, que ganhava legitimidade porque a medicina era considerada portadora do saber científico, percebida como “capaz de corrigir e implantar hábitos e influenciar práticas sociais – dentre elas a escolarização –, pela força persuasiva da argumentação científica presente no discurso médico” (ibid., p. 432). Desse modo, a ação educacional era tomada como uma “obra de saneamento dos males que afligiam o povo brasileiro, visto como indolente, doente e necessitado de uma atuação higiênica por parte da elite para debelar esses males” (ibid., p. 433).
Não pretendo, aqui, discorrer exaustivamente a respeito da tônica higienista e dos projetos sanitaristas que percorreram o Brasil no início do século passado. Também não é meu objetivo fazer uma análise da obra de Monteiro Lobato, mas pensar em como esses discursos nos ajudam a refletir sobre como são significados os médicos – e a medicina – no Brasil. Assim, me amparo no que Orlandi (2001) nos ensina acerca do Discurso Fundador. Para a autora, o discurso fundador não se apresenta como um já definido; ele é, antes, uma categoria do analista que será delimitada pelo próprio exercício de análise. No que toca, especificamente, à história de uma nação, “os discursos fundadores são discursos que funcionam como referência básica no imaginário constitutivo deste país” (ibid., p. 7). Como exemplo, Orlandi cita o enunciado “em se plantando tudo dá” – uma formulação que ressoa e repercute os mais variados sentidos no sentimento de brasilidade: “Terra pródiga. Gigante pela própria natureza. Mas mal administrada, pilhada há séculos e que embora seja explorada continuamente não se esgota” (ibid., p. 12). Esse enunciado fundador é ponto de partida, então, para um discurso específico sobre o Brasil, que retumba, para a pesquisadora, falas relativas à preguiça inerente à raça e à corrupção natural ao brasileiro, servindo como argumento que justifica a pobreza: “este país não tem jeito. Ou, no outro lado da mesma moeda, vai dar no país da esperança: tem que dar certo” (ibid., p. 13).
Nessa perspectiva, podemos pensar que as narrativas de Jeca Tatu reiteram, são ecos desse discurso fundador, já que (re)produzem sentidos, justamente, de um brasileiro preguiçoso, que desperdiça as riquezas da terra, inapto ao trabalho, cujo destino seria a miséria. No entanto, através da sensatez médica e das prescrições científicas, esse sujeito pode mudar, pode ser salvo, pode ser curado. É interessante notar que práticas de “salvamento” estão presentes na história brasileira desde a colonização: tanto os indígenas quanto os negros deveriam ser salvos por serem pagãos e, portanto, dotados de uma inferioridade moral com relação aos superiores europeus[11]. Com isso, sob o amparo da doutrina cristã, populações negras e indígenas passaram por processos violentos de catequização, de trabalho escravo, de apartação de suas terras e de dizimação de seus povos.
Já no Brasil do início do século XX, os sujeitos que eram considerados inferiores, jecas, não seriam salvos, como no período colonial, através de uma conversão ao cristianismo, mas curados por meio da conformidade aos preceitos da ciência, da norma médica. Nesses dois momentos diferentes da história, transformar sujeitos, salvá-los, curá-los de seus “males” tinha, de certa maneira, os mesmos objetivos: gerar corpos trabalhadores e formar um país (no primeiro momento, formar um país para (sujeito a) Portugal e, mais recentemente, formar um país que afirmasse e reclamasse os princípios e valores da nacionalidade[12]).
Assim sendo, os discursos higienistas das primeiras décadas do século passado, além de reverberarem o enunciado fundador citado anteriormente (“em se plantando tudo dá”), também produzem novos sentidos, novas filiações. Não são meras repercussões do mesmo, do anterior. Nessa seara, vale destacar que o discurso fundador
cria uma nova tradição, ele re-significa o que veio antes e institui aí uma memória outra. É um momento de significação importante, diferenciado. O sentido anterior é desautorizado. Instala-se uma nova “filiação”. Esse dizer irrompe no processo significativo de tal modo que pelo seu próprio surgir produz sua “memória”. Esse processo de instalação do discurso fundador, como dissemos, irrompe pelo fato de que não há ritual sem falhas, e ele aproveita fragmentos do ritual já instalado – da ideologia já significante – apoiando-se em ‘retalhos’ dele para instalar o novo (ORLANDI, 1993, p. 13).
Ora, sustentando-se em retalhos (ou até mesmo tecidos) dos discursos colonizadores acerca do Brasil, os dizeres sanitaristas criam uma outra tradição de sentidos sobre a brasilidade e sobretudo sobre os médicos. Ao romperem, ou “desautorizarem” os fundamentos cristãos como justificativas de “salvamento”, colocando a ciência médica no centro da argumentação, novas filiações são criadas – e isto não quer dizer que as precedentes sejam descartas, pelo contrário, dão condições, possibilitam que esse novo signifique. Desse modo, é possível entender que as formulações em prol do saneamento que percorreram, principalmente, os anos 1910, 1920 e 1930 são discursos fundadores, basilares para as significações acerca do ofício médico no Brasil, salientando certos imaginários acerca dessa profissão: profissional detentor do saber correto (o científico); aquele que, por ser científico, nunca falha; especialista em controlar e erradicar doenças; pessoa competente para salvar um povo (e um país).
Nesse ponto, é válido sublinhar que não cabe à investigação que teço discutir os impactos das campanhas sanitaristas (e das variadas manifestações atreladas a elas) na saúde pública brasileira, mas, sim, entender como esses discursos (re)criam imagens específicas sobre a medicina e sobre o médico. A partir disso, posso propor a pergunta: como esses imaginários sobre o médico reverberam na língua? Retomo, então, para refletir sobre essa questão, um trecho de um discurso bastante conhecido, do médico Miguel Pereira, pronunciado em 1916:
Não será exercito o que não fôr homogêneo; na luta pela Pátria todos se acamaradam e emparceiram como diante da morte, que essa luta tantas vezes preludia, todos se nivelam na terra profunda. E bem que se organizem milícias, que se armem legiões, que se cerrem fileiras em torno da bandeira, mas melhor seria que se não esquecessem nesse paroxismo de enthusiasmo que, fora do Rio ou de S. Paulo, capitaes mais ou menos saneadas, e de algumas outras cidades em que a previdência superintende a hygiene, o Brasil é ainda um immenso hospital. Num impressionante arroubo de oratória já perorou na Camara illustre parlamentar que, se fosse mister, iria elle de montanha em montanha, despertar os caboclos desses sertões. Em chegando a tal extremo de zelo patriótico uma grande decepção acolheria sua generosa e nobre iniciativa. Parte, e parte ponderável, dessa brava gente não se levantaria; inválidos, exangues, esgotados pela ankylostomiase e pela malária; estropiados e arrazados pela moléstia de Chagas; corroídos pela syphilis e pela lepra; devastados pelo alcoolismo; chupados pela fome, ignorantes, abandonados, sem ideal e sem letras [...]. E isso sem exagero a nossa população do interior. Um a legião de doentes e de imprestáveis. Quaes os soldados que o orador ira equipar? Os do seu Estado natal? Mas foi exactamente ahi que o descobrimento genial de Chagas, numa zona que se alonga e se dilata por centenas de kilometros quadrados, revelou ao paiz, sem nenhum resultado pratico ou conseqüência prophylatica, espectaculo dantesco de uma morbilidade fatal e progressiva que amontoa gerações sobre gerações de disformes e paralyticos, de cretinos e idiotas (PEREIRA, 1916, p. 6, grifos meus).
Esse discurso célebre foi publicado e amplamente discutido pela imprensa da época; a tese famosa, que colocava o Brasil como “imenso hospital”, ficou largamente popular, de tal forma que, posteriormente, diversos intelectuais e personalidades públicas compactuaram e difundiram essa imagem de Brasil doente em uma série de artigos, obras literárias, performances e reproduções. É importante pontuar, ainda, que a fala de Miguel Pereira foi inspirada no relatório de viagem da expedição científica[13] chefiada por Artur Neiva e Belisário Penna. Nos dizeres de Lima e Hochman (2000), esse relatório foi fundamental para um “diagnóstico, ou melhor, uma redescoberta do Brasil” (ibid., p. 316), que impulsionou a campanha pelo saneamento.
Mas, para o que venho construindo nesse trabalho, salta aos olhos a classificação do sertanejo como “sem ideal e sem letras”. “Sem ideal e sem letras” aparece ao lado do seguinte grupo de adjetivos: “inválidos, exangues, esgotados pela ancilostomíase e pela malária; estropiados e arrasados pela moléstia de Chagas; corroídos pela sífilis e pela lepra; devastados pelo alcoolismo; chupados pela fome, ignorantes, abandonados”. Portanto, o “sem letras” – que provavelmente indica um cidadão interiorano analfabeto ou semianalfabeto, falante de uma variante não padrão da língua portuguesa e que, assim, é significado como aquele que não sabe a própria língua – é posto como um mal, uma doença responsável por deteriorar este corpo em desperdício, esse corpo que poderia ser uma força trabalhadora ou combatente de guerra em um Brasil que precisa tanto se (re)conhecer como país.
Convém repetir aqui que Jeca Tatu, quando curado pelo médico, “aprendeu logo a ler, encheu a casa de livros e por fim tomou um professor de inglês”. Ou seja, não era somente o corpo físico de Jeca que precisava de transformação para que ele se tornasse “rico e estimado”, mas também a sua língua. Além disso, Jeca Tatu é um personagem tão exemplar que não se dedicou apenas aos estudos do português; o aprendizado do inglês, a língua da ciência, também fez parte da recuperação do sertanejo-paciente. Em dado momento da narrativa, a população local expressa que Jeca “nem parece o mesmo. Está um “estranja” legítimo, até na fala”. Esta fala “estranja” não se restringe, simplesmente, ao fato de que o camponês começou a aprender um outro idioma. Após a intervenção médica, Jeca Tatu tornou-se “estranja” porque deixou de ser doente; ele passa a ser um “estranja”, justamente, quando passa a ser legitimamente brasileiro (ou, ao menos, aquilo que se almejava para o brasileiro: saudável, ativo, conhecedor dos símbolos nacionais e da língua portuguesa), deixando de ser um “paralítico”, “cretino” e “idiota” enfermo do “imenso hospital”.
Com isso, se “fora do Rio ou de São Paulo, capitais mais ou menos saneadas, e de algumas ou outras cidades em que a previdência superintende a higiene” há um país doente, é porque, nesse Brasil apartado, há também um povo que “não sabe” português, que desconhece a sua língua, uma multidão padecida pela ausência das letras. E essa multidão foi diagnosticada, com o amparo do Estado, pela medicina, pelos homens ilustres que curam, também, os “males” da língua.
Alguns apontamentos sobre o médico no século XXI
Feitas essas considerações, é interessante perceber como a criação do ensino superior, sobretudo do curso voltado para as “artes médicas”, cria uma divisão entre os fazeres intelectuais e manuais que ecoa, justamente, numa categorização entre o civilizado e o não civilizado, o que sabe falar a língua e o que não sabe, o que pode exercer práticas terapêuticas e o que não pode. Já a perspectiva médico-higienista do início do século XX, que resgatou o prestígio e os imaginários em torno dos médicos já consolidados no século XIX, se transformou, naquele momento, numa questão cultural, linguística e política que produz efeitos até os dias atuais. Assim, algumas breves observações a respeito de como a medicina e, especialmente, de como o “ser médico” significa atualmente, um século depois das campanhas sanitaristas, é fundamental para entender as duas situações que propus.
É válido começar pontuando que uma pesquisa realizada pelo INEP[14] e publicada em 2020 constatou que 80% dos formandos em medicina no ano de 2019 não tinham renda própria, isto é, eram financiados pelos pais ou pessoas próximas; 67% dos formandos se declaravam brancos e mais da metade possuía mãe que concluiu um curso de graduação ou pós-graduação. Esses dados, postos aqui de modo bem simplificado, já revelam asserções bastante conhecidas no que concerne à graduação de medicina: é um curso extremamente excludente, configurando-se como uma área de estudos (e uma profissão) quase inacessível para a maior parte da população brasileira.
Vargas (2010), em estudo da área de sociologia das profissões, afirma que os grupos profissionais possuem grande capacidade de organizar as relações sociais, “capacidade essa que passa a influenciar a estruturação e hierarquização do mundo social como um todo” e, assim, “o atributo profissional é informado ou perscrutado como forma de localização social dos indivíduos” (ibid., p. 109). Essa mesma autora, como já dito na introdução, coloca Medicina, Direito e Engenharia como “profissões imperiais” e a medicina, especificamente, possui uma legitimação e poder quase inquestionável – que, como vimos, ultrapassa os limites da saúde e doença, afetando a cultura, a política e a língua. A memória em torno dessa profissão, portanto, está ligada a uma espécie de “raridade” uma vez que poucos podem alcançá-la; recentemente, ela se filia também, intimamente, a uma memória de meritocracia, tão disseminada pelas práticas neoliberais, e, assim, quem “chega lá”, quem se torna médico ou estudante de medicina é socialmente significado como diferente dos outros, acima hierarquicamente, passando a ser uma autoridade cujo poder é “salvar vidas” – e, seguindo as observações expostas anteriormente, mais do que salvar vidas, ao menos no Brasil, o médico é visto como aquele que salva/cura um povo, um país.
Nesse sentido, lembro do termo “biopoder”, cunhado por Michel Foucault e amplamente estudado em diversas áreas do conhecimento. As discussões que Foucault promove sobre essa noção são bastante amplas e densas, mas me limito a destacar que o biopoder é uma tecnologia que exerce gestão e controle da vida pelo poder e possui um elo forte com as práticas médicas; nas palavras do filósofo, o biopoder versa a respeito de uma “assunção da vida pelo poder”, formando uma espécie de “estatização do biológico” (FOUCAULT, 1976, p. 286). Assim, de acordo com o autor, o biopoder foi um elemento indispensável para o desenvolvimento do capitalismo, de forma tão intensa que os sistemas capitalistas só podem ser garantidos através da “inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos” (idem, 1988, p. 132). Com isso, na sociedade em que vivemos, atravessada por estas práticas (biológicas) de controle, a medicina ocupa um papel central, já que é comumente posta nessa posição de divulgadora e produtora de verdades científicas[15], sendo um objeto de prestígio e de desejo (até mesmo pela (in)alcançabilidade deste saber/poder). Por isso, o médico “se torna o grande conselheiro e o grande perito, se não na arte de governar, pelo menos na de observar, corrigir, melhorar o ‘corpo’ social e mantê-lo em um permanente estado de saúde” (idem, 2000, p.203).
Agamben (2007), em uma retomada do que Foucault nos ensina sobre o biopoder, afirma que o poder soberano[16] de decisão sobre a vida (ou de estabelecer valor sobre a vida) passa do soberano, na contemporaneidade, para os juristas, cientistas e médicos, de modo que “médicos e soberanos parecem trocar os seus papéis” (p. 150); assim, na biopolítica atual, “soberano é aquele que decide sobre o valor ou sobre o desvalor da vida enquanto tal” (AGAMBEN, 2007, p. 149).
Então, as formações imaginárias construídas socialmente sobre o médico vão além do cientista, daquele que não falha, daquele que salva/cura um povo de todos os seus males (incluindo aí suas “ignorâncias” linguísticas). O médico também é significado como detentor de um poder soberano sobre a vida – ou seja, na sua relação com as instâncias de poder estabelecidas pelo Estado, mais do que salvar, este sujeito pode estipular quanto vale determinada vida. O médico, tendo em vista o lugar a que ele é atribuído na hierarquia social, portanto, é visto como um vigia (científico) de corpos e, com base no que tecemos até agora, um perito da língua.
Considerações sobre “potácio”, “peleumonia” e “raôxis”: uma entrada pela escrita
Seria difícil finalizar este trabalho sem, antes, trazer alguns apontamentos acerca da escrita, essa tecnologia que chega ao território brasileiro através da língua da colonização, a portuguesa. Silva (2001), ao nos atentar para o fato de que, com a República, a escrita passa a ser critério de inclusão e exclusão de pessoas (adquirindo inclusive estatuto jurídico), explica que o espaço social foi aberto para uns na mesma medida em que se fechou para a maior parte da população: “sou cidadão mas não possuo as qualidades necessárias para o exercício da cidadania” (ibid., p. 142). Essa “falta” que fecha(va) o ingresso às práticas de cidadania pode ter a ver com o prestígio em torno do domínio de línguas estrangeiras escritas – latim e português – em um país marcado por uma vasta heterogeneidade linguística. Segundo os estudos da autora, saber escrever em latim e português revelava a possibilidade de “ser civilizado, logo de ser homem” (ibid., p. 145). Adentrando nesse modo de conceber a escrita – como se fosse uma qualidade da natureza humana –, Pfeiffer (2015) dialoga com Silva (1998) e explica que a não existência da escrita significa, portanto, um traço de falta de humanidade, o que permite a erradicação daqueles que “não portam a escrita” consigo como “estratégia colonial” (p. 100).
Pfeiffer salienta, ainda, que “a memória discursiva dentro de uma história da língua portuguesa no Brasil significa escrever na relação com deixar de ser índio” e, assim, ler e escrever “é deixar de ser algo para tornar-se outro” (p. 102). Desse modo,
a relação de um sujeito brasileiro com a alfabetização se dá por sentidos sustentados pelas seguintes evidências: cruzada contra o analfabeto; professor missionário, com apagamento de seu lugar político; deriva do analfabetismo e, consequentemente, do analfabeto para a imoralidade, para a ignorância, a falta de urbanidade, de civilidade (PFEIFFER, 2015, p. 103).
Orlandi (2002), quando reflete sobre escrita e educação indígena, expõe a forte vinculação existente entre escrita e urbanidade, evidenciando a impossibilidade de se pensar a cidade, na sociedade capitalista, sem a escrita. A autora aponta que o ideal de sujeito, no mundo ocidental, é “trabalhado nas formas de relação com a linguagem: um sujeito adulto (responsável), letrado, cristão e, eu acrescentaria, capaz de urbanidade” (p. 232). Numa sociedade de escrita que idealiza este sujeito, a escrita é estruturante, sendo o “lugar de constituição de relações sociais, isto é, de relações que dão configuração específica à formação social e a seus membros” (ibid., p. 233). Essa relação imaginária escrita-urbanidade não se dá ao acaso. Nesse ponto, o trabalho de Rodriguez-Alcalá (2011) explana que, no processo de gramatização no Brasil, os gramáticos tomavam como modelo de língua o português citadino que, aos poucos, se espalhou e afastou a língua geral (e as demais línguas) para as habitações interioranas. Com isso, o imaginário da escrita e do urbano
passou a opor, de um lado, aqueles que vivem na cidade ou no campo, como analisa O. Payer, mostrando que estes últimos não são nunca sujeitos de enunciação, mas objetos dos quais se fala (cf. Payer 2001, entre outros); de outro lado, mesmo no interior do espaço da cidade, esse imaginário passou a situar, num extremo, o analfabeto analisado por M. Vieira nas definições do dicionário, em que quem não domina as tecnologias da escrita é representado como um sujeito intrinsecamente incapaz (cf. Silva 1996), e o sujeito urbano escolarizado, no outro extremo, que ao bem dizer a língua constrói também sua urbanidade, a legitimidade de seu lugar na cidade, como mostram os trabalhos de C. Pfeiffer (cf. Pfeiffer 2001, entre outros). (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2011, p. 214).
Dessa forma, pensando na imagem – posta em circulação pelas campanhas sanitaristas – do Brasil interiorano como imenso hospital, é interessante notar que, justamente, o sujeito que vive no campo, além de ser sempre objeto porque é doente, é objeto também porque não domina a língua nacional (e a escrita nacional), sendo visto como incapaz (de enunciar e de ser cidadão). E é quando o Brasil, afetado por ideias nacionalistas, precisa se afirmar enquanto nação, que há o interesse em salvar os jecas de suas doenças, de sua ignorância das Letras, de sua falta de humanidade.
Isso continua ecoando na contemporaneidade: quando o médico posta em uma rede social “não existe peleumonia nem raôxis”, ele está atualizando uma memória de colonização linguística e coloca o paciente neste lugar de ignorância, de falta de civilidade e de humanidade. Mariani (2003) nos ensina que quando a língua portuguesa foi imposta aos índios, também estava se impondo uma memória outra, a do “português cristão” e que “do ponto de vista da metrópole, para servir a Deus deve-se doutrinar, e isto pode ser feito incialmente em qualquer língua, mas para servir ao Rei é necessário ensinar a língua materna do Rei” (ibid., p. 80). Então, sabendo do poder soberano instituído aos médicos pelo Estado através das biopolíticas (como proposto por Agamben), é como se o médico – que tem o “poder de salvar vidas” e é lido como praticante de uma profissão quase inatingível para a maior parte da população – se colocasse como um Rei; o sujeito, ao falar “peleumonia”, se afasta da língua homogênea, nacional, é incapaz; por ser considerado incapaz, não inscrito na organização da cidade, esse sujeito não “serve” a esse médico, o incomoda e, no tempo presente, não passa por sanções produzidas séculos atrás, mas sofre uma violência, uma vez que a ridicularização exposta na rede social reafirma o que o Estado, o urbano, a escola, o jurídico, a igreja, etc. Sempre o impuseram: sua língua precisa ser lapidada, você precisa tornar-se outro. Ao produzir o efeito de deboche sobre esse “erro”, põe-se o sujeito no lugar de devedor[17] (ao médico (Rei), ao Estado, ao Brasil).
Em relação ao falso médico que foi descoberto por escrever “potácio”, é preciso dizer que, certamente, médicos, professores, advogados e quaisquer outras pessoas que praticam esta ou aquela profissão (ou nenhuma), mais ou menos privilegiada, podem cometer desvios de/na escrita de uma norma de língua. No entanto, a maneira como o caso repercutiu nas mídias jornalísticas, exibindo o erro ortográfico como gatilho para a constatação de que aquele que escreveu errado não poderia ser médico, afirma a oposição entre o “sujeito urbano escolarizado” e o “intrinsecamente incapaz” – ou parcialmente incapaz, uma vez que ele domina a escrita, mas não plenamente, já que trocou “ss” por “c”. Porém, para usar um jaleco branco, para diagnosticar um povo doente é preciso, imaginariamente, ser plenamente capaz, isto é, ser um sujeito “adulto (responsável)”, “capaz de urbanidade” e sobretudo “letrado” – caso contrário, não seria chamado de “doutor”. Este, portanto, que ocupa essa profissão rara para a maior parte da população, não poderia infringir a língua ensinada nas escolas, não poderia ser doente, não poderia ser um jeca.
Considerações Finais
Para finalizar, gostaria de retomar o trecho da música de Gilberto Gil, presente na epígrafe deste texto: “ela é médica e tem todo o direito de arrancar o que quiser de mim; eu que estou como qualquer sujeito, sujeito a dar defeito ou coisa assim”. Acredito que a poesia de Gil ilustra bem o que tentei mostrar ao longo da discussão: o imaginário sobre o médico como aquele que tem direitos sobre um outro qualquer, um outro sujeito ao defeito, à falha. Essa formação imaginária envolvendo a relação médico-outro não se deu por acaso e, para pensar sobre ela, parti da criação das primeiras faculdades (de medicina) no Brasil e de discursos atrelados às campanhas sanitaristas que marcaram a sociedade brasileira no início do século XX. Sem dúvida, há outras maneiras de tentar buscar, com o aparato teórico do (des)encontro entre AD e HIL, esses vestígios de sentidos que atravessam os imaginários trabalhados aqui. No entanto, a singularidade desses discursos se dá por eles lançarem luz não somente para o que se imaginava sobre o médico em seu ofício, mas principalmente por possibilitarem uma escuta a respeito da “ignorância” linguística, diagnosticada como doença, no imenso hospital do Brasil.
Desse modo, no primeiro caso que expus, o sujeito foi colocado como “não médico” não por sua prática médica equivocada, mas por uma “ignorância” marcada na escrita. Se ainda resiste na memória que a “falta de urbanidade”, a “imoralidade” são atributos dos que possuem pouca educação formal escolar e que estes, portanto, devem, eles jamais poderiam ocupar o papel de Rei (ou de médico). Outras profissões, menos majestosas, já estão reservadas para esses que não se inscrevem nessa língua imaginária[18], na cidadania, na cidade. E isso fica claro quando o médico – esse com formação – debocha e escreve, num receituário, que não existe “peleumonia” e nem “raoxis”, ou seja, que não existe a língua do outro. Esse gesto atualiza a memória, portanto, de que aquele que não se enquadra à língua imposta está doente, tão doente que se torna menos humano.
Por fim, gostaria de fechar este texto acenando para algo que não trouxe ao longo da reflexão: a polêmica gerada em torno da afirmação do médico de que não existia “peleumonia” e nem “raôxis”. Este caso específico teve uma proporção significativa, gerando uma grande comoção no país e o médico foi demitido “de todos os seus empregos”[19]. O afastamento do médico de suas funções indica que, institucionalmente, parece não ser mais possível sustentar publicamente uma posição sobre os pacientes como esta – o que não quer dizer que esta prática tenha deixado de existir. Além disso, uma médica, conhecida no país por participar de um Reality Show, postou em suas redes sociais o seguinte: “existe peleumonia, eu mesma já vi várias. Incrusive com febre interna”[20]. Isso mostra que a situação trazida aqui é ilustrativa para pensarmos nesses imaginários sobre o médico na sua relação com a língua, mas não é possível dizer, pelo menos até o ponto em que segui na análise, que o discurso médico dominante desemboca necessariamente em um deboche contra um paciente pelo seu modo de falar. Então, pensar nos imaginários sobre o médico foi uma chave para interpretar esse incômodo do médico com a língua do outro (e o incômodo dos outros com a língua do falso médico), mas não a ponto de tomá-lo como um caso típico, geral ou corriqueiro.
Assim, os imaginários pelos quais me debrucei não são únicos. Eles são, no interior de sua própria rigidez, passíveis de deslocamentos, podendo romper, fluir, fugir, ruminando em outras promessas de sentidos sobre a relação médico-outro-língua em nosso país.
Referências
AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. H. Burigo (Trad.). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.
COSTA, T. Alguns apontamentos para uma história da HIL na França e no Brasil. Línguas e Instrumentos Linguísticos, n. 44, p. 9 – 34, 2019.
FERREIRA, A. C. F. A Análise do Discurso e a Constituição da História das Ideias Linguísticas no Brasil. Fragmentum, [S. l.], n. ESPEC, p. 17–47, 2018. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/fragmentum/article/view/36580. Acesso em: 08 jul. 2022.
FOUCAUL, M. Aula de 17 de março de 1976. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
FOUCAUL, M. História da sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988
FOUCAUL, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2000
JUNIOR, A; CARVALHO, E. O discurso médico-higienista no Brasil do início do século XX. Trabalho, Educação e Saúde. v. 10, n. 3, pp. 427-451, 2012.
LIMA, N; HOCHMAN, G. “Pouca saúde, muita saúva, os males do Brasil são... Discurso médico-sanitário e interpretação do país”. Ciência & Saúde Coletiva, vol. 5, n. 2, p. 313-332, 2000.
LOBATO, M. Urupês. São Paulo: Brasiliense, 1972
MARIANI, B. Políticas de Colonização Linguística. Revista do Programa de Pós Graduação em Letras, n. 27, p. 73 -82, 2003.
MARIANI, B. Entre a evidência e o absurdo: sobre o preconceito linguístico. Letras, n 37, 19–34, 2008.
NUNES, J. H. Uma articulação da análise de discurso com a história das ideias linguísticas. In: SHERER, Amanda Eloina; PETRI, Verli (orgs). Língua, Sujeito e História. v. 18. n.37. Santa Maria, UFSM: Programa de pós-graduação em Letras, jul/dez. 2008.
ORLANDI, E. “A lingua imaginária e a lingual fluida: dos métodos de trabalho com a linguagem”. In: Orlandi (org.). Políticas lingüísticas na América Latina, Campinas, Pontes, 1988.
ORLANDI, E. “Vão surgindo sentidos”. In.: ORLANDI, ENi (org.) Discurso fundador. Campinas: Pontes, 2001.
ORLANDI, E. Língua e Conhecimento Linguístico: para uma história das ideias linguísticas no Brasil. São Paulo: Ed. Cortez, 2002.
ORLANDI, E. Discurso e Texto. Campinas: Pontes, 2008.
ORLANDI, E.; GUIMARÃES, E. Apresentação. Identidade linguística. In: ORLANDI, E.; GUIMARÃES, E. (Orgs.). Língua e cidadania. O português no Brasil. Campinas: Pontes, 1996. p. 09-15.
ORLANDI, E; GUIMARÃES, Eduardo (Orgs.). Institucionalização dos estudos da linguagem: a disciplinarização das ideias linguísticas. Campinas: Pontes, 2002.
PAGOTTO, E. G. Rui Barbosa e a crise normativa brasileira. In: D. Callou e A. Barbosa (orgs.) A norma brasileira em construção: Cartas a Rui Barbosa (1866 a 1899). UFRJ/Fundação Casa de Rui Barbosa/Quartet Editora, Rio de Janeiro, 2011.
PÊCHEUX, M. Análise automática do discurso. Trad.: Eni P. Orlandi. In: GADET, F.; HAK. T. (Orgs.) Por uma análise automática do discurso; uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1990.
PEREIRA, M. “O Brasil é ainda um imenso hospital” – Discurso pronunciado pelo professor Miguel Pereira por ocasião do regresso do professor Aloysio de Castro, da República Argentina, em outubro de 1916. Revista de Medicina. Vol. 7, n. 21, p. 3 -7, 1916.
PEREIRA, V. A história da Universidade no Brasil e o processo de gramatização brasileira. In: Anais do Enelin, 2020, Pouso Alegre.
PFEIFFER, C. Discursos sobre a língua escolarizada, leituras possíveis. In: Giovanna Flores; Nádia Neckel; Solange Gallo. (Org.). Análise de Discurso em Rede: Cultura e Mídia. 1ed.Campinas: Pontes Editores, 2015, v. 1, p. 95-108.
PIMENTA, T. Entre Sangradores e doutores: práticas e formação médica na primeira metade do século XIX. Cedes, Campinas, v. 23, n. 59, p. 91-102, 2003.
RODRÍGUEZ-ALCALÁ, C. Escrita e gramática como tecnologias urbanas: a cidade na história das línguas e das ideias linguísticas. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, SP, v. 53, n. 2, p. 197–217, 2011.
SILVA, M. Instrumentos lingüísticos: língua e memória. Revista do Programa de Pós-graduação em Letras, n. 27. p. 111-118, 2003.
SILVA, M. Alfabetização, escrita e colonização. In: ORLANDI, E. (Org.). História das Ideias Linguísticas; construção do saber metalinguístico e constituição da língua nacional. Cáceres: Unemat, 2001.
VARGAS, H. Sem perder a majestade: “profissões imperiais” no Brasil. Estudos de Sociologia, Araraquara, v.15, n.28, p.107-124, 2010.
VERGUEIRO, Laura. Presença foucaultiana. Discurso, São Paulo: USP, n. 10, p. 95-100, 1979
Data de Recebimento: 02/05/2023
Data de Aprovação: 18/09/2023
[1] Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/05/25/mais-um-falso-medico-e-preso-no-rio-farsante-foi-descoberto-por-erros-de-grafia-como-potacio.ghtml. Acesso em: 02 mar. 2023.
[2] É possível consultar mais detalhes sobre o caso através desta notícia, publicada no portal Metrópoles: https://www.metropoles.com/brasil/medico-e-afastado-apos-debochar-de-paciente-nas-redes-sociais?amp. Acesso em: 03 mar. de 2023.
[3] Conforme estudos de Orlandi e Guimarães (1996, 2002).
[4] “lugares de formação e elaboração de programas que configuram formas de cidadania” (ORLANDI, 2002, p. 179).
[5] Os estudos de Mariza Vieira da Silva (2001, 2002) sobre o Colégio de Caraça também são importantes, dentre muitos outros, para ilustrar a “produção de normatividades” instaurada pelas práticas pedagógicas dos Colégios.
[6] cf. Orlandi, 2002, p. 198
[7] O recorte analítico deste artigo parte do século XIX e concentra-se na realidade brasileira, mas é válido ressaltar que em outros períodos históricos (anteriores ao século XIX) e em outras partes do mundo já eram feitas sólidas discussões acerca da medicina – que, sem dúvida, influenciaram o imaginário de médico que se impõe atualmente.
[8] Esta citação está presente na tese de Francisco de Paula Costa, intitulada “Algumas reflexões sobre o charlatanismo em medicina”, apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1841.
[9] Esta versão pode ser lida em: https://miniweb.com.br/literatura/artigos/jeca_tatu_historia1.html. Acesso em 01 jul. 2022.
[10] Na narrativa, há o seguinte trecho que remete à ciência:
“- Pois é isso, sêo Jeca, e daqui por diante não duvide mais do que a ciência disser.
- Nunca mais! Daqui por diante nha ciência está dizendo e Jeca está jurando em cima! T'esconjuro! E pinga, então, nem p'ra remédio... Quero mostrar a esta paulama quanto vale um homem que tomou remédio de Nha Ciência, que usa botina cantadeira e não bebe nem um só martelinho de cachaça.”
[11] O sociólogo Ricardo Luiz de Souza, no livro Catolicismo e Escravidão: o discurso e a posse, publicado em 2020, tece uma reflexão bastante densa acerca da visão salvadora que se tinha sobre as práticas escravagistas. O autor traz uma citação de Vendrame (1981) bastante ilustrativa sobre o assunto: “Na doutrina dos Padres da Igreja, vem em primeiro plano o aspecto moral que justifica a escravidão; aquele que não é capaz de governar a si próprio, especialmente por causa da sua inferioridade moral, deve ser guiado por aqueles que lhe são moralmente superiores. A escravidão aparece assim como castigo e, ao mesmo tempo, como meio de salvação” (VENDRAME, 1981, p. 65 apud SOUZA, 2020, p. 41).
[12] Lima e Hochman, sobre o relatório da comitiva sanitarista – falarei sobre ele mais adiante –, observam que um importante argumento dos médicos para que se fizesse uma Reforma Sanitária no país consistia na tese de que o Brasil tinha uma população abandonada e esquecida e que, mesmo doente, poderia apresentar-se com robustez e resistência. Esse quadro de isolamento era culpado, de acordo com o relatório, pela ausência de sentimentos de identidade nacional, de modo que a população interiorana desconhecia “qualquer símbolo ou referência nacional, ou melhor, [...] a única bandeira que conhecem é a do divino” (PENNA; NEIVA, 1916 apud LIMA; HOCHMAN, 2000, p. 317).
[13] A expedição passou por quatro estados do Brasil, incluindo o norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do Pará e quase todo o Goiás.
[14] É possível ler sobre esta pesquisa na seguinte notícia veiculado pelo portal do G1. https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/10/20/enade-80percent-dos-formandos-de-medicina-sao-bancados-pela-familia-e-70percent-se-declaram-brancos.ghtml. Acesso em: 05 de jul. 2022.
[15] É importante dizer que a medicina é muito mais uma prática do que uma ciência propriamente. Um médico, não necessariamente, produz conhecimento científico. No entanto, não é raro vermos, principalmente em discursos midiáticos, o médico neste lugar de quem faz ciência e fala sobre ela.
[16] “Soberana é a esfera na qual se pode matar sem cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício” (AGAMBEN, 2007, p. 91).
[17] Mariani (2008), em “Entre a evidência e o absurdo: sobre o preconceito linguístico”, salienta que o sujeito que afirma não saber falar sua própria língua se coloca como devedor. Aqui, apenas desloquei a reflexão da autora, entendendo que não somente aquele que “afirma não saber falar sua própria língua” se põe numa posição de devedor, mas, também, pode ser posto (por outros) nessa posição.
[18] Cf. Orlandi (1988).
[19] Segundo notícia veiculada pelo portal de notícias do G1. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/07/dizer-peleumonia-raoxis-nao-desmerece-ninguem-diz-medico.html. Acesso em: 20 jul. de 2022.
[20] A notícia do Jornal O Estado de Minas Gerais traz a postagem na íntegra. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/07/30/interna_gerais,789264/peleumonia-medica-mineira-resposta.shtml. Acesso em: 20 jul. de 2022.