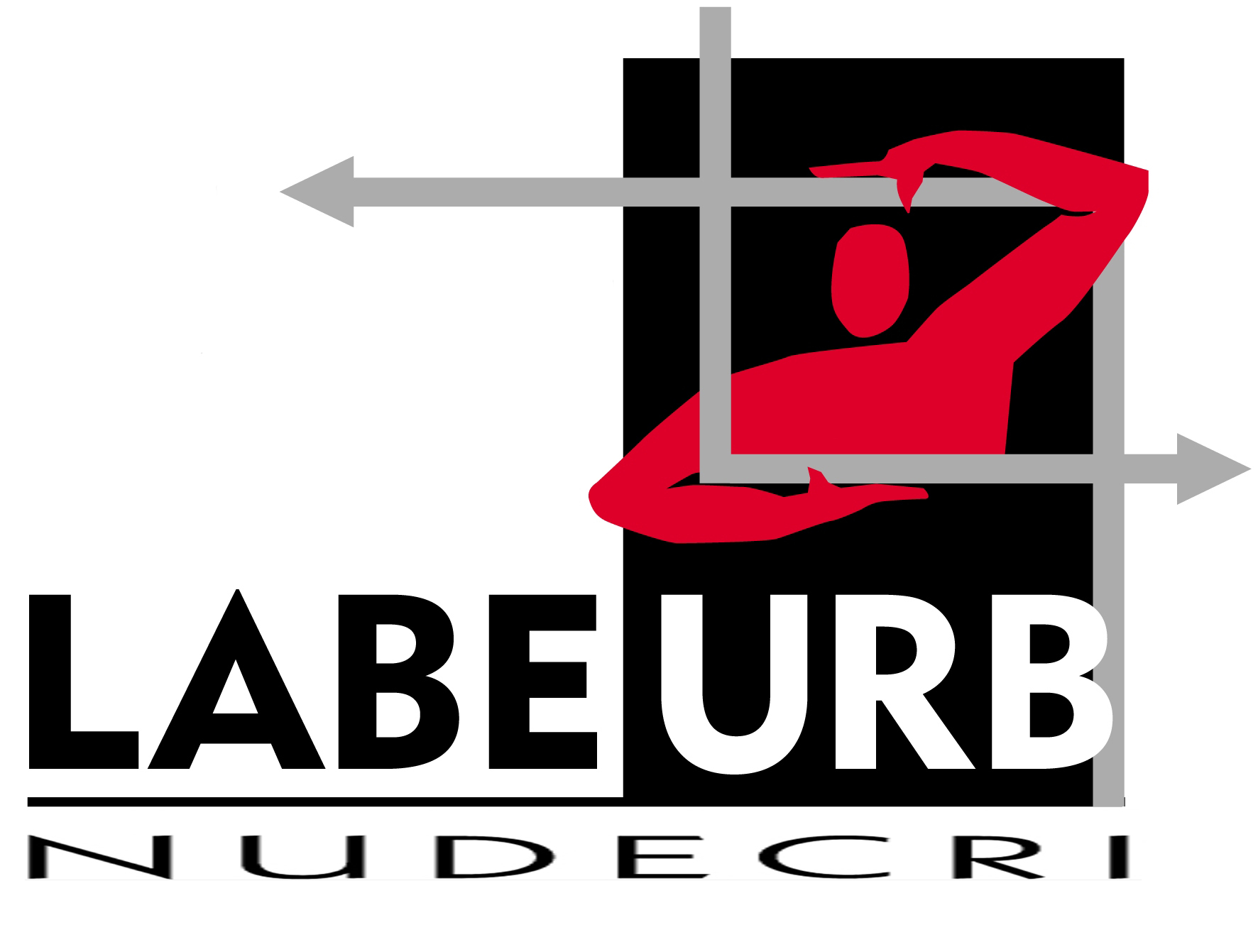“Do alto da minha goiabeira”: as crônicas de Aldir Blanc como resistência epistemológica.


Breno Góes
Introdução
A Sra. Damares Alves – senadora e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil – notabilizou-se nos anos recentes, entre outros motivos, por afirmar publicamente com certa frequência que o momento mais decisivo de sua vida teria sido a experiência mística e transcendental de ter se encontrado com Jesus Cristo aos dez anos de idade no alto de uma goiabeira. Dado o compreensível desconcerto que o relato tende a provocar em quem o escuta, é pouco provável que alguém tenha atentado para um pormenor fundamental: para além de um flagrante manifestação de uso demagógico de tema religioso na seara política, a história de Damares Alves também é um possível caso daquele fenômeno descrito pelo crítico literário Harold Bloom em seu livro A angústia da influência (BLOOM, 2002). Refiro-me à situação do poeta que se recusa a confessar os laços de estilo e temática que unem sua obra à de um outro autor mais antigo, cuja grandiosidade o intimida. Isso porque o tropo da experiência infantil mística e transformadora vivida no alto de uma goiabeira não é original de Damares: a ministra está apenas repisando uma trilha ficcional que foi aberta e percorrida diversas vezes antes pelo compositor, poeta, cronista, percussionista e psiquiatra Aldir Blanc. E o fato dele ter se debruçado tantas vezes sobre o motivo que poderíamos chamar de “goiabeira mística” estabelece um estranho laço de natureza poético-botânica entre o autor de Mestre Sala dos Mares e a citada senadora, que será uma presumível fonte de muita angústia para esta última. Cito um trecho de Vila Isabel - Inventário de Infância, uma das obras memorialísticas de Aldir, em que se narra um encontro sobrenatural entre o poeta e a dita árvore:
Atirei a primeira pedra num pardal, errei o alvo, mas acertei em cheio a vidraça da vizinha. Era um começo — de pouca pontaria, não muito promissor, mas era o meu começo. E uma goiabeira branca se curvou quase até o chão, verde, verde, e me pediu: suba, eu sou a escada, suba que a vida são meus ramos, viver é trincar uma goiaba, olhar o céu azul, verde, azul, olha pra fora, menino, e nasce (...). (BLANC, 2017, p. 12)
A goiabeira descrita neste trecho é a imensa árvore branca a qual Blanc se refere em inúmeros de seus textos em prosa como o elemento que dominava o quintal da casa de sua infância. O autor não se cansa de descrever como “subia por ela e ficava lá em cima sonhando, lendo Monteiro Lobato, atirando com atiradeira em manga, porque não tinha coragem de matar passarinho” (BLANC, 2016). Blanc faz da árvore um dos símbolos centrais de suas reminiscências de Vila Isabel, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, onde morou dos três aos dez anos durante a década de 1950.
Este trabalho toma como seu objeto exatamente os primeiros textos em que Aldir Blanc trata dessas reminiscências infantis, uma extensa série de crônicas que datam da segunda metade dos anos 1970. O período em questão corresponde ao momento de consagração crítica e comercial de Blanc como um dos grandes nomes da música popular brasileira, devido à profícua e aclamada parceria musical estabelecida entre o autor e João Bosco, imortalizada dezenas de vezes na voz consagradora de Elis Regina. É de conhecimento geral o teor frequentemente político-social dessas canções, entre as quais podem ser citadas, por exemplo, “O cavaleiro e os moinhos”, “Rancho da goiabada” e a já referida “Mestre-sala dos mares” – todas lançadas ainda sob a arbitrária vigência da censura prévia à imprensa e às artes instituída pela Ditadura Civil-Militar que se apossara do governo brasileiro desde 1964; são canções produzidas com a intenção explícita de constituir um discurso de oposição a esse regime autoritário à direita. É na efervescência de um momento tão dramático da história brasileira, e tão crucial para sua própria biografia, que Aldir Blanc, aos 29 anos, é convidado pelo cartunista Ziraldo para escrever crônicas no Pasquim, o mítico jornal carioca seminalmente identificado com a esquerda e a resistência à ditadura. Não deixa de ser inusitado, portanto, dado o contexto aqui citado, que o combativo Blanc tenha escolhido fazer de sua tribuna semanal no “Pasca” um prosaico espaço de rememoração ficcionalizada – dir-se-ia “proustiana” – da Vila Isabel de sua infância.[1] Sua produção, iniciada em dezembro de 1975 (com uma crônica sobre a ocasião em que, aos seis anos de idade, prendera o pênis no fecho ecler da calça em plena aula de catecismo) será depois coligida nos volumes Rua dos Artistas e arredores (contendo crônicas de 1975 a 1978) e Porta de Tinturaria (abrangendo o período até 1980).[2]
A intenção deste texto é compreender de que maneira as crônicas de “vertente memorialística” (BATISTA, 2010, p. 180) publicadas por Aldir Blanc no Pasquim constituem um tipo específico de resistência cultural à Ditadura Civil-Militar e aos valores que o cronista entendia estarem representados pelo regime. Trata-se de um objetivo que pretendo cumprir em três etapas: na primeira seção, “Transversais do Tempo”, explorarei de que maneira Aldir Blanc utiliza recursos metafóricos em suas crônicas para fazer referência ao regime militar. Na segunda seção, “Mudou Vila Isabel ou mudei eu”, tratarei da questão da expansão urbana do Rio de Janeiro nos anos 70, e da responsabilidade da Ditadura na gestão desse processo. Na terceira e última seção, finalmente, “A lua da Zona Norte”, procurarei integrar o que foi tratado nas duas seções anteriores na forma de uma hipótese: a de que as crônicas de Blanc fariam uma espécie de resistência epistemológica ao regime militar.
1 - Transversais do tempo
A maior parte das crônicas “memorialísticas” de Aldir Blanc publicadas no Pasquim pode ser descrita segundo uma mesma fórmula geral: uma versão infantil do próprio Blanc é o narrador em primeira pessoa, que descreve anedoticamente um caso cômico transcorrido na Rua dos Artistas de Vila Isabel durante a década de 50, ligado à vida cotidiana dos personagens. O caso tem como protagonista o próprio narrador, ou um de seus muitos familiares e vizinhos (os dois grupos frequentemente se confundem). Não importando o protagonista da ocasião, a comunidade dos personagens que coabitam a rua sempre surge como uma entidade que comenta e interfere na ação coletivamente, funcionando à maneira de uma assembleia de bairro perenemente reunida em certos lugares de convívio preferenciais, como a calçada da rua dos Artistas ou a casa de qualquer um dos personagens, que se convidam uns aos outros para refeições festivas como feijoadas, vatapás e etc. Mas o cenário mais frequente dessa assembleia é, disparado, o botequim. No universo blanquiano, o boteco tem veementemente sublinhado seu caráter de “ágora carioca”, tal como descrito pelo historiador Luiz Antônio Simas em crônica de mesmo nome (SIMAS, 2013, p. 27).
O grupo de personagens recorrentes, por sua vez, é razoavelmente extenso e composto por figuras que apresentam características bem marcadas. Há, por exemplo, o Ceceu Rico (o circunspecto pai do narrador, que aprecia jogos de sinuca e corridas de cavalo, mas é avesso a festas), Waldir Iapetec (um piadista), Walcyrzinho (primo do narrador, criança agitada), Isolda (a vizinha da frente, desejada e invejada por sua beleza e suas práticas sexuais masoquistas), a madrinha não nomeada de Aldir (uma senhora sempre com um “discreto buço” de cerveja sobre os lábios), o militar de pijama (personagem também não nomeado, que vive repetindo o bordão “boto a tropa na rua!”) e o casal Lindauro e Deysinha (ele grosseiro, ela uma mulher doce e sofisticada). Isso para não falar no icônico Esmeraldo Simpatia-é-quase-amor, um sedutor cujo nome posteriormente serviria de inspiração para um famoso bloco carnavalesco do Rio de Janeiro. As tramas de cada crônica são relativamente simples: em “Inarredável Compromisso” (BLANC, 2006, p. 86), por exemplo, os vizinhos organizam uma seresta para que Ceceu Rico vença sua timidez e consiga pedir sua pretendente – a “bela Helena” – em noivado. Em “Comissão de frente” (p. 105), um balão de São João incendeia uma das casas da rua, e no processo de salvá-la os vizinhos descobrem os segredos sexuais dos seus habitantes. Em “Prontidão”, os ressabiados vizinhos recebem o militar de pijama para uma peixada. No final de muitas das histórias, uma frase de arremate é dita por Penteado, o vizinho que é “um tremendo gozador” e o único dos personagens que Aldir admitiu ter inventado (todos os demais são alegadamente baseados em pessoas reais, inclusive com os mesmos nomes).[3]
Mas há um aspecto inusitado, para o qual quero chamar a atenção: é a espécie de incoerência temporal que, nos textos em questão, frequentemente acomete o narrador ou algum dos personagens. Em praticamente todas as crônicas, a ação transcorrida nos anos 50 é em algum momento interrompida por um ou mais comentários extemporâneos, que fazem referência a questões políticas ou sociais brasileiras da segunda metade dos anos 70, isto é, do momento em que a crônica está sendo publicada. O comentário é feito e, após essa breve interferência vinda do futuro, a ação retoma a linearidade anterior, como se tivesse apenas atravessado uma “encruzilhada” cronológica, ou – utilizando uma expressão do próprio Aldir – uma “transversal do tempo”. Eis um exemplo, retirado da crônica “Feijoada à Rua dos Artistas”, de agosto de 1978. Nesta narrativa, os vizinhos se reúnem para uma feijoada, Esmeraldo pede para Deysinha lhe passar o “rabinho” do porco e um enciumado Lindauro inicia uma briga, que acaba se tornando generalizada entre os presentes. Em um dado momento, a madrinha de Blanc entra na refrega:
O pau engrossou quando uma laranja perdida acertou bem na verruga nasal da minha madrinha. A coroa chupou a eterna espuma de cerveja do discreto buço e aplicou três ou quatro rasteiras de tamanha categoria que o próprio Ceceu Rico, um cético nascido e criado no Estácio, deu profunda tragada de admiração no Lincoln e teve de admitir:
Coisa de mestre! Nem o Amaral Peixoto… (Blanc, 2006, p. 202)
A crônica se passa em 1956. Entretanto, a associação que Ceceu Rico faz entre a destreza com que uma personagem aplica rasteiras e o político carioca Ernani do Amaral Peixoto só faz sentido em agosto de 1978, quando ela foi publicada: Amaral Peixoto era então filiado ao MDB (o único partido de oposição consentido pelo regime) e protagonizava na altura uma racha interno no partido, pois recentemente tinha aceitado ocupar o cargo de “Senador biônico”. Sua decisão irritou muitos por legitimar a manobra autoritária que instituiu esse cargo não eleito pelo voto popular e permitiu que o regime retomasse a maioria parlamentar perdida em 1974. A sensação de traição viria a se confirmar em 1979, quando Amaral Peixoto se transferiria para a ARENA (o partido do regime) (MOREIRA; SOUSA, s.d.). Essa espécie de golpe baixo cometido pelo político carioca inexplicavelmente vai parar na boca de Ceceu Rico vinte e seis anos antes de acontecer, ao tornar-se a melhor imagem que o circunspecto personagem encontra para explicar as rasteiras dadas pela madrinha.[4]
A mesma crônica é atravessada ainda uma segunda vez pela transversal do tempo, embora nessa ocasião a interferência insólita se refira a um ponto menos preciso do futuro. Já no final do texto, o anfitrião da casa em que ocorria a feijoada (Aguiar, o avô do narrador) contém a briga generalizada sacando sua arma, um “38 com cabo de madrepérola” (BLANC, 2006, pp. 203-204). Aguiar imediatamente baixa um “ato institucional”, que censura o termo “rabinho” em todas as futuras feijoadas, substituindo-o por “partes pudendas”. Trata-se de uma evidente caricatura do autoritarismo ditatorial, explicitada pelo cuidado com que Aldir faz seu personagem utilizar precisamente a expressão “ato institucional”, pinçada do campo semântico da Ditadura. Lembremos que foi esse nome que os governantes militares deram ao dispositivo jurídico que usavam para cometer seus frequentes pacotes de medidas legislativas que contrariassem a constituição vigente, o mais famoso entre eles tendo sido o AI-5, de 1968. (CALICCHIO, s.d.).
Essas dobras cronológicas, que aqui chamo de transversais do tempo, constituem um fenômeno absolutamente típico da crônica blanquiana. Um estudo de mais fôlego certamente encontraria casos semelhantes aos que acabo de mostrar.[5] É possível nos perguntarmos, diante dessa recorrência, o sentido desse expediente estético na obra de Blanc.
Comecemos pela hipótese mais simples: poderíamos estar diante de uma tática de codificação. No contexto da repressão, Blanc esconderia suas críticas à situação política em meio a uma massa de texto dissociada desse tema, como forma de escapar ao silenciamento. A pitoresca e pacata vida da Rua dos Artistas seria, assim, a camada de texto “inocente” escondendo a mensagem real, permitindo que esta escapasse pelas “frestas” da trama censória (VASCONCELLOS, 1977). Segundo essa hipótese, ao lermos uma crônica como “Feijoada à Rua dos Artistas” estaríamos diante de uma denúncia da brutalidade dos Atos Institucionais ressurgindo inesperadamente “disfarçada” na postura de um avô durante uma feijoada entre vizinhos. Coloco essa hipótese como a mais simples e a primeira pelo simples fato de que consagrou-se ler mais ou menos dessa maneira a atitude geral dos artistas que enfrentaram o Regime civil-militar brasileiro, em especial os compositores de certa fatia da música popular: estes seriam os sagazes autores de mensagens cifradas com o fim de ludibriar a repressão (SILVA, 2008, p. 150). O caso paradigmático, tantas vezes decantado em prosa e verso, seria a transformação do verbo “cale-se” no substantivo “cálice”, na icônica canção homônima de Chico Buarque e Gilberto Gil (cf. TOMAZI, 2014, p. 225). Ao leitor, ou ouvinte, restaria a tarefa de quebrar os códigos.
Entretanto, as dobras temporais de Aldir permitem imaginar também uma outra hipótese, bastante mais complexa. Comecemos por fazer notar que, via de regra, os atravessamentos de discursos vindos do futuro nos textos blanquianos situados nos anos 50 aparecem na narrativa com uma espécie de função metafórica. Recuperando uma expressão de Ludwig Wittgenstein da qual Paul Ricoeur apropriou-se em seu livro A Metáfora Viva, as Transversais do Tempo de Aldir Blanc podem ser explicadas através da fórmula “ver como” (RICOEUR, 2015, p. 324). Ou seja, através da aproximação entre termos semanticamente distantes feita no discurso dos personagens ou do narrador, vê-se a madrinha como Amaral Peixoto; vê-se a decisão do vô Aguiar como um Ato Institucional. Em uma outra crônica, intitulada “Atropelaram o Benevides!”, o personagem do título é atropelado por um bonde, ficando entre a vida e a morte (BLANC, 2006, p. 61). Todos os vizinhos se reúnem no botequim e depois na casa de Aguiar esperando notícias de sua melhora. A assembleia reunida, normalmente caótica e barulhenta, é neste caso descrita pelo narrador como tomada por “um silêncio mais pesado que o da chamada oposição” (BLANC, 2006, p. 63). Trata-se de uma metáfora extremamente poderosa, que permite ver o clima de ansiedade e temor mórbido que toma os personagens como o silêncio a que estava relegada a oposição democrática no ambiente de perseguição política e censura que caracterizou a Ditadura Militar.
A reflexão de Paul Ricoeur sobre a metáfora avança no sentido de pleitear uma referencialidade a este “ver como” do discurso metafórico (cf. RICOEUR, 2015. p. 331). Para o intelectual francês, enunciados metafóricos não são apenas floreios de estilo, possuindo antes a capacidade de dar forma a certos aspectos da realidade interditos à linguagem direta. Ricoeur reivindica para a metáfora o poder de descrever o que ainda não tem nome, aquilo que no mundo sensível escapa à grelha das palavras dicionarizadas. Poderíamos tomar como exemplo para se pensar a reflexão ricoeuriana o poema “Vandalismo”, de Augusto dos Anjos (ANJOS, s.d., p. 104). Neste célebre soneto, quando o verso “meu coração tem catedrais imensas” aproxima o termo “coração” de “catedrais”, há um aspecto do termo metaforizado que só toma forma quando ele é visto como algo capaz de abrigar catedrais. Este aspecto, diria Ricoeur, seria indescritível pela linguagem comum. A metáfora dá uma forma nova ao termo metaforizado.
O problema é que a teoria sobre a metáfora de Ricoeur desorganiza-se inteiramente ao sair das “catedrais imensas” de um poeta consagrado e entrar nos “botequins imundos” de Aldir Blanc.[6] Seria uma armadilha aplicar sem ressalvas esse aparato teórico e supor que o efeito estético atingido pelas metáforas do cronista é meramente o de iluminar, através de referências contemporâneas retiradas do campo da política, certos aspectos do cotidiano de uma antiga Vila Isabel. O “ourives do palavreado” opera um procedimento mais sutil, que de certa forma vira do avesso o “ver como” de Ricoeur. O próprio Blanc, décadas depois, escreveria em uma de suas canções que “a flecha que há no arco de Arjuna volta a quem a disparou”[7], e é precisamente essa meia-volta paradoxal que fazem as metáforas de suas crônicas, quando lidas: num primeiro momento, descrito por Ricoeur, a referência à política dos anos setenta redefine algum aspecto da trama ficcional. Entretanto, uma vez que o leitor compreenda, por exemplo, que a manobra política de Amaral Peixoto torna pensável a rasteira de uma madrinha tijucana, é o caminho contrário que se abre à sua imaginação: no processo de encontrar os pontos em comum entre as metáforas e os termos metaforizados, os elementos da Rua dos Artistas narrada por Aldir Blanc é que se incorporam ao campo do imaginável e se tornam uma ferramenta para pensar a vida política. O “ver como” se inverte, e é a ficção que passa a iluminar a metáfora. Em outras palavras: é o silêncio tenso e solidário dos bêbados no bar que se torna uma forma possível de compreender um aspecto do silêncio a que estava submetida a oposição. A crônica vira ferramenta para conhecer o mundo da política.
2 - Mudou vila isabel ou mudei eu?
Aqui, é necessário nos contentarmos momentaneamente com a conclusão da sessão anterior, sobre as metáforas invertidas, uma vez que não podemos avançar mais o argumento sem antes considerarmos outros aspectos tanto históricos quanto estéticos envolvendo as crônicas de Aldir Blanc no Pasquim. E talvez não haja outra forma de iniciar essa parte da tarefa a não ser esboçando a história estética – ou, antes, a história enquanto um signo estético – do bairro de Vila Isabel na obra de Blanc.
Antes que sua popularidade enquanto letrista o levasse a ser convidado para escrever em jornais – antes sequer que João Bosco e Elis Regina surgissem em sua vida – Aldir Blanc iniciou uma carreira como compositor ainda no final dos anos 1960, enquanto se formava em psiquiatria na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. O autor pertencia à parcela de compositores universitários intelectualizados e politicamente engajados da (recém-batizada) MPB. Nessa altura, Blanc compunha em parceria com o violonista Sílvio da Silva Jr., e ambos chegaram a obter significativo sucesso com a canção “Amigo é pra essas coisas”, gravada pelo conjunto vocal MPB4 no álbum Deixa Estar (Elenco, 1970). Um dos outros frutos da parceria, mais obscuro, é a canção “A Vila e a Vida”, também gravada pelo MPB4 no ano seguinte, no álbum De palavra em palavra (Elenco, 1971). Neste samba, em cuja letra o eu-lírico trava um diálogo com Noel Rosa, encontram-se as primeiras referências à Vila Isabel na obra de Blanc. O tema é a descaracterização do bairro:
Você não sabe, velho Noel / Que a nossa Vila já não é Vila / Está com ar de fidalguia / E deu adeus à boemia / Porque / Meu Deus do céu / O sol venceu / E nem dá tempo / Do arvoredo / me repetir / O seu segredo. / Vila Isabel / Hoje é mulher / Igual nos truques / E artifícios. / Se embelezou / nos Edifícios / Com pilotis / E chafariz / E já não liga mais / Aos botequins / Aos oitis
A letra é uma evidente obra de juventude, em que a inconfundível marca blanquiana ainda não está consolidada. Ainda assim, certos temas que se tornarão recorrentes na obra de Blanc já aparecem: para além do diálogo com tradição (a referência explícita a Noel Rosa e implícita ao samba “Feitiço da Vila”), Aldir tematiza Vila Isabel como um bairro cuja identidade está ligada à boemia e aos botequins. Seis anos depois, já colunista do Pasquim, em plena maturidade estética e no auge de sua parceria com João Bosco, Blanc dá novo tratamento musical ao tema. A canção, por sinal belíssima, se chama “Tempos do onça e da fera”, e está no álbum de Bosco Tiro de Misericórdia (RCA, 1977):
Saindo pro trabalho de manhã / O avô vestia o sol do quarador / Tecido em goiabeiras, sabiás / Cigarras, vira-latas e um amor / E o amor ia ao portão pra dar adeus / De pano na cabeça, espanador / Os netos, o quintal, Vila Isabel / Todo o Brasil era sol, quarador / Hoje, acordei depois do meio-dia / Chovia, passei mal no elevador / Ouvi na rua as garras do metrô / O avô morreu / Mudou Vila Isabel ou mudei eu? / Brasil /'Tá em falta honesto sol do quarador
O que une ambas as canções recuperadas aqui não é apenas a tematização de Vila Isabel, mas sobretudo o movimento de descaracterização do bairro em relação ao que este fora no passado. Em “A Vila e a Vida”, esse passado é associado à figura de Noel Rosa, à boemia e à natureza. Já em “Tempos do onça e da fera” o eu-lírico associa o passado ao momento de sua própria infância, da mesma forma que faz o narrador das crônicas (é notável, inclusive, que na parte da letra referente à infância, Aldir mencione “goiabeiras”, antecipando o signo estético que me motivou a escrever este trabalho). Também são distintos, embora associados, os elementos apontados como descaracterizadores do bairro: na canção de 1971, Blanc faz uma referência a algo que pode ser compreendido como um processo de gentrificação (“a nossa Vila [...] está com ar de fidalguia”) e de verticalização (“edifícios com pilotis e chafariz”). Já na canção de 1976, o autor repete a referência à verticalização, com o “elevador” funcionando como uma metonímia de edifício, mas insere também “as garras do metrô”. Neste último caso, é provável que não se trate propriamente de uma referência ao meio de transporte em si, mas outra metonímia, já que o metrô da cidade do Rio de Janeiro, que só seria inaugurado em 1979, encontrava-se então em fase de laboriosa construção. O bairro de Vila Isabel, diga-se, não é um dos locais de parada desse meio de transporte, mas está cercado por duas estações importantes em suas imediações (Maracanã e Saens Pena), tendo sido presumivelmente muito afetado nos anos 1970 pelas obras e suas barulhentas escavadeiras (as “garras” de que fala Aldir).
É de se chamar a atenção o fato de que os elementos que Blanc cita em ambas as canções como descaracterizadores de Vila Isabel consistem em alguns dos principais consensos entre historiadores e urbanistas quanto ao que mudou não apenas nesse bairro, mas em diversas grandes cidades brasileiras durante as décadas de 1960 e 1970. O alto crescimento demográfico registrado no Brasil ao longo de toda a primeira metade do século XX levou cidades como o Rio de Janeiro, cuja população mais que dobrou entre 1940 e 1960 (IBGE), a demandarem novas soluções em termos de habitação, infraestrutura e transporte. Três das transformações mais perceptíveis, no caso carioca, não por acaso coincidem com os movimentos registrados nas canções de Aldir aqui citadas:
- a gentrificação, sobretudo perceptível no processo de “setorização urbana”, isto é: a valorização de certos bairros a partir da remoção violenta e frequentemente ilegal de favelas existentes nas partes nobres da cidade e seguida da reinstalação de seus moradores de classe social baixa em conjuntos habitacionais nos bairros periféricos; (CAMPOS, 2010, p. 82)
- a verticalização de certos bairros (Vila Isabel entre eles), isto é, a substituição de casas e sobrados por edifícios de muitos andares habitados por diversas famílias, provocado por um aumento de demanda do mercado imobiliário. (OLIVEIRA, 2016)
- os grandes projetos de engenharia visando possibilitar o deslocamento em massa da população. No caso carioca, tais projetos não se resumiram ao metrô, mas também consistiram em viadutos e largas vias expressas como o Viaduto Paulo de Frontin, a Linha Vermelha e a Ponte Rio-Niterói. (CAMPOS, 2012, p. 428)
Embora todos esses sejam processos iniciados ainda nas décadas de 1950 e princípios de 1960, durante os governos de Negrão de Lima e Carlos Lacerda, é inegável o papel da Ditadura Civil-Militar não apenas na continuação e aprofundamento do que acontecia, mas também na definição do papel do Estado no processo. O historiador Pedro Henrique Pedreira destaca que as obras de transformação da cidade não partiram do planejamento urbanístico ou social de um “Estado-sujeito”, tampouco de um debate com a sociedade civil, mas da ação de certos grupos de interesse instalados “no interior do aparelho de estado” (CAMPOS, 2010, p. 90). Por grupos de interesse, Pedreira se refere a “empresas construtoras e de engenharia” (p. 90) que ocuparam assentos em conselhos estatais e – no contexto de fiscalização social inexistente típico de ditaduras – formularam políticas públicas privilegiando seus benefícios privados. O resultado foi lógico: com o beneplácito dos governos autoritários, no contexto do chamado “milagre econômico”, ocorreu um boom imobiliário no Rio de Janeiro, em que empresas do ramo da construção civil e de grandes projetos de engenharia podiam lucrar com a remodelação da cidade sem que representantes de outros interesses da sociedade pudessem lhes estabelecer qualquer tipo de limite (CAMPOS, 2010, p. 91).
Entretanto, para além da corrupção, que é o problema mais óbvio acarretado pela relação não fiscalizada entre governo e grandes empresas privadas, e para além também dos diversos problemas especificamente urbanísticos causados pelo caráter pouco planejado dessas transformações, há uma dimensão “epistemicida” no tema tratado aqui. Esta é a que nos interessa neste trabalho. O olhar das entidades que efetivamente geriram as transformações urbanas de uma cidade como o Rio de Janeiro – as empresas – considerou os cidadãos afetados por essas transformações apenas como consumidores de bens e serviços, ou como mão de obra. A preocupação com as sociabilidades específicas desenvolvidas nos vários territórios do espaço urbano – a estreita relação de dependência entre os grupos humanos e os locais em que habitam – são fatores sobre os quais se passou por cima, quase que literalmente. E, no entanto, as culturas que se desenvolveram nos diversos territórios urbanos cariocas produziram seus próprios saberes, suas próprias práticas, seus pontos de vista a partir dos quais compreender o mundo (BARBOSA, 2014, p. 131). É a ameaça fatal a esses saberes e práticas representada pelo conluio entre o estado e certas empresas que chamo aqui de “epistemicídio”.
O termo, cunhado por Boaventura de Sousa Santos, tem sido frequentemente apropriado por aqueles que estudam o avanço do colonialismo europeu sobre as culturas não brancas de todo o mundo. Epistemicídio seria “um processo persistente de produção da inferioridade intelectual ou da negação da possibilidade de realizar as capacidades intelectuais” (CARNEIRO, 2005, p. 97) dos grupos sociais e indivíduos dotados de “saberes não-hegemônicos” (SANTOS, 2002, p. 265). Extrapolando o uso do conceito no campo dos estudos sobre o colonialismo – na medida mesma em que a Ditadura Civil-Militar pode ser lida ela própria como uma extrapolação do colonial – o que pretendo defender aqui é que a alteração drástica e autoritária da configuração geográfica da cidade constitui uma tentativa de epistemicídio por matar os “saberes não-hegemônicos” enraizados nos territórios desconfigurados.
A expressão “saberes não-hegemônicos” guarda em si alguma ambiguidade que nos permitirá retornar às crônicas de Aldir Blanc que, ao fim e ao cabo, são a razão de ser deste texto. Isso porque, por um lado, podem ser designados por “saberes não-hegemônicos” uma série de soluções de vida e sociabilidade adotadas pelos personagens estrambólicos de Vila Isabel ficcional de Blanc, que seriam incompatíveis com o mundo de pilotis e elevadores que o desenvolvimentismo ditatorial veio trazer. Saberes que parecem irrelevantes de um ponto de vista hegemônico e que, anos depois, outro poeta fundamental da Grande Tijuca definiria como “ciências de baixa tecnologia”[8]: conversar com os vizinhos “à sombra das goiabeiras em flor”, tal como Blanc narra na crônica de mesmo nome. Os saberes da “cartomante, quiromante, ocultista e o escambau” de Vila Isabel, registrados na crônica “A Medeia de Vila Isabel”, ou os saberes musicais dos seresteiros de “Inarredável compromisso”. Saber organizar um time de futebol com os vizinhos da rua para enfrentar o equivalente da rua ao lado, tal como contado em “Artistas da Rua Futebol e Regatas”, ou saber transformar uma barbearia em mural de recados, como em “Barbearia cruzmaltina”. É como se Aldir Blanc lutasse contra o epistemicídio ao tentar registrar no papel, na forma de breves ficções, suas memórias de uma sabedoria marginalizada que afundava diante de seus olhos nas “garras do metrô”. Sabedoria esta que o engenho do cronista sintetizou em sua Vila Isabel de infância, mas que ele próprio reconheceu dizer respeito a uma parcela muito maior de um Brasil urbano que em certa medida renunciava a si próprio para desenvolver-se traumaticamente em um contexto autoritário. Não é à toa que Blanc assimila bairro e nacionalidade na letra de “Tempos do onça e da fera”, ao responder com o nome do país sua indagação local: “Os netos, o quintal, Vila Isabel / Todo o Brasil era sol, quarador (...) Mudou Vila Isabel ou mudei eu? Brasil”
Apenas por essa dimensão de registro ficcional de certos saberes ameaçados pelo desenvolvimentismo promovido pela ditadura, já é possível falar de Aldir Blanc como um cronista da resistência. Mas há um outro sentido da expressão “saberes não-hegemônicos” que pretendo explorar na próxima seção deste trabalho, em que finalmente retomo o fio argumentativo sobre as metáforas iniciado na sessão anterior. É na junção do que foi apresentado aqui com a questão das “transversais do tempo” que reside o núcleo do que chamo de “resistência epistemológica”.
3 - A lua da zona norte
Cerca de duas décadas após o início da experiência no Pasquim, Aldir Blanc retornaria ao tema de suas memórias infantis no pequeno volume Vila Isabel - Inventário de Infância (1996), pequena peça memorialística escrita em um registro quase onírico, pouco usual na sua prosa. É a esse livro que pertence à citação sobre a goiabeira referida no início deste trabalho, e é também nele que há um breve episódio narrativo que parece sintetizar todo o mistério que tento desenredar aqui. Trata-se de um passeio noturno pelo quintal dado pelo jovem Aldir e seu avô:
Fomos ao quintal. Meu avô encostou a velha escada com manchas de tinta ao lado do tanque e subiu até a caixa d’água.
— Anda, vem ver!
Fui puxado pela mão do gigante até o alto. Meu avô afastou a tampa da caixa.
— Olha...
A lua cheia se refletia na água quieta. Ergui os olhos para o céu.
— É a Lua!
— Aquela, não. Aquela é gelada, feita de pedras, uma espécie de vulcão extinto. Agora, essa aqui, dentro da caixa d’água, é a lua da Zona Norte. Põe a mão nela... Isso. Viste? É trêmula e tépida como as mulheres.
(BLANC, 2017, p. 28)
Interessa neste trecho a oposição entre a frieza desinteressante da lua quando vista por si só e a inversão dessa situação quando o astro é observado através da Caixa d’água. Essa espécie de filtro torna cognoscível, familiar (“da Zona Norte”) e até passível de toque algo que antes pertencia ao campo do inalcançável. Na economia narrativa de Inventário de Infância, esse episódio corresponde ao momento em que o menino Aldir finalmente perde seu medo paralisante do escuro e da noite, porque esta se torna sua conhecida após a lição do avô.
Esse episódio, portanto, pode ser lido como uma pequena reflexão de Aldir Blanc sobre o tema do conhecimento. Simbolicamente, mirar através do filtro surge no texto como uma forma de tornar familiar, conhecer o desconhecido. Esse dispositivo epistemológico (pois é disso que se trata) permite uma segunda interpretação do que poderiam significar os “saberes não-hegemônicos” discutidos na sessão anterior. Se até então podíamos tratar esses saberes, na obra de Blanc, como uma lista mais ou menos determinável de práticas e conhecimentos específicos contidos em si mesmos, ligados à cultura de bairros como Vila Isabel, o episódio aqui citado aponta para esse conjunto de saberes como uma forma potente, criativa e virtualmente ilimitada de conhecer. Aponta para o fato de que aquilo que o epistemicídio tenta destruir não é apenas um cardápio pitoresco de saberes e práticas tradicionais, mas sim uma forma de conhecer qualquer coisa. Um ponto de vista tão válido quanto qualquer outro a partir do qual olhar para o universo ao redor.
O que nos traz de volta às “transversais do tempo” – as metáforas blanquianas capazes de atar o contexto político do presente da escrita do autor ao passado de sua infância. Já no final daquela sessão conclui que se tratavam de metáforas invertidas: ao fim e ao cabo, seriam os personagens de Blanc que, metaforizados, desencadeariam reflexão sobre a metáfora política – e não o contrário, como tinha descrito Ricoeur. Munidos do que sabemos agora, podemos acrescentar: na medida em que os personagens fictícios da Rua dos Artistas tornam o presente político pensável, o que Blanc está fazendo em seu trabalho como cronista é refletir o presente político na superfície da caixa d’água. Está tornando os eventos da política pensáveis ao transformá-los em eventos “da Zona Norte”, colocando em movimento através da ficção a potência epistemológica contida em sua Vila Isabel – isto é, contida na cultura desenvolvida naquele território, tal e qual o autor foi capaz apreendê-la.
É como se, já na década de 1970, Blanc antecipasse algo do potente movimento que autores brasileiros como Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino têm feito recentemente, de recorrer aos saberes não-hegemônicos ameaçados pelo epistemicídio como um ponto de partida para o pensamento, em oposição a uma outra atitude que seria fazer desses saberes um mero manancial a ser explorado por conceitos pré-elaborados exogenamente. Certamente Aldir Blanc não vai tão longe quanto Simas e Rufino, que dão um passo fundamental quando chegam a efetivamente produzir conceitos como “exusíaco” e “oxalufânico” a partir de sua reflexão sobre o “complexo das macumbas” (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 113). Seria absurdo esperar conceitos como “botequinização” ou “vilaisabélico” nas ficções de Blanc. Por outro lado, não é exagero dizer que suas metáforas misturando passado e presente encontram-se na metade desse caminho, uma vez que se compreenda a metáfora à maneira de Hans Blumenberg, isto é, como a versão ainda não cristalizada daquilo que pode, eventualmente, tornar-se um conceito (BLUMENBERG, 2013).
Recentemente, por ocasião da morte de Aldir, o violonista Guinga (seu parceiro em cerca de uma centena de canções) escreveu que “só os gênios conseguem conhecer o mundo por intermédio do quarteirão da sua casa. Aldir Blanc certamente é um desses”.[9] Embora não interesse ao escopo deste trabalho a atribuição do termo “gênio” a quem quer que seja, Guinga parece ter se aproximado do centro da questão que tenho tentado tratar: o gesto de olhar o mundo utilizando o quarteirão de casa como um “intermédio” – um meio a partir do qual se olha. Entendo que, a partir do que tentei discutir na seção anterior, a respeito da descaracterização do Rio de Janeiro promovida por um regime autoritário comprometido com interesses privados, a opção epistemológica de Aldir é um gesto de resistência. Na medida em que não consegue preservar Vila Isabel das “garras do metrô” e de outras ameaças à cultura enraizada naquele território, Blanc resiste dando visibilidade pública em um jornal àquilo que é por demais intangível e elusivo para ser destruído por empreiteiras: o bairro enquanto um jeito de entender coisas. O bairro como um jeito de entender todas as coisas, inclusive o próprio regime político epistemicida que quer destruí-lo. Lembremos, afinal, que é no silêncio angustiado dos bêbados que Aldir Blanc vai buscar uma explicação para o silenciamento imposto à oposição democrática. É num gesto de seu avô (o mesmo avô que lhe ensinara tocar na lua) que Blanc lê os Atos Institucionais. É como se se tratasse de uma partilha em duas partes do enigma da esfinge: a ditadura devora a Vila, mas a Vila decifra a ditadura.
Inclusive porque, neste caso, decifrar não deixa de ser uma maneira metafórica de devorar. Pensemos na crônica “Revolta na Vila”, de 1976, que retoma o mote tratado nas canções “A Vila e a Vida” e “Tempos do onça e da fera”. Neste texto, em um gesto raríssimo em todo o seu período de Pasquim, Blanc abandona a encenação da década de 1950 e trata da Vila Isabel de seu presente, portanto do bairro já em processo de descaracterização. Toda a crônica gira em torno da derrubada de um oiti perpetrada por “uma imobiliária sem escrúpulos, sem mãe, em nome do pogresso” (BLANC, 2006, p. 70, grifo meu), que sintetiza em si as características do Regime como um todo (no plano ficcional da crônica, a imobiliária vilã possui poderes ditatoriais, como os de “dispersar à cacetada”, “impor toque de silêncio” e “decretar estado de sítio”). Aldir, que neste texto escolhe como interlocutor o próprio oiti morto, coloca-se na posição de organizar uma “conjura abilolada”: a vingança contra a imobiliária. E traça planos mirabolantes de revolta. A peculiaridade desses planos, entretanto, é o fato deles mobilizarem, precisamente, o conjunto de saberes e práticas sociais específico daquele território:
Criaremos códigos e senhas. O apito do guarda-noturno contará que te mataram. Contará que te mataram o assovio das facas do amolador. O grito do garrafêêêro falará dessa covardia, assim como os livros de histórias, os gibis e as figurinhas. Leremos mensagens no desenho das nuvens, conspiraremos com os botões e as pétalas da primavera, ouviremos os conselhos das sábias folhas de outono. Seguirão notícias em gaivotas nas salas de aula e em barcos de jornal nas enchentes provocadas pelas chuvas de verão. O Penteado, tremendo gozador, inventará lorotas sobre o passado dos donos de imobiliárias atrás da bananeira. E o Esmeraldo passará, uma por uma, as mulheres deles na cara. (BLANC, 2006, p. 71)
Na conjura romântica dos bêbados, flores de outono e barcos de jornal contra a “imobiliária”, vejo uma encenação da luta epistemológica travada semanalmente pelo próprio Aldir no Pasquim. Em meio à interminável lista do trecho acima, vemos os nomes “Penteado” e “Esmeraldo”: são dois dos personagens recorrentes da Rua dos Artistas dos anos 1950 ficcionalizada por Aldir. Ambos integram-se à conjura engajados nas atividades que fazem melhor: o Penteado inventando piadas, o Esmeraldo cortejando mulheres. Se nesta crônica ambos ressurgem dissociados de seu tempo de origem e mobilizados como soldados numa guerra que é contemporânea ao autor, isso só deixa mais evidente que essa potência sempre existiu neles, em estado latente. E, assim como esses dois, Ceceu Rico, Deysinha, Waldir Iapatec, Lindauro, Isolda e todos os outros podem até não dar na vista, mas estão em permanente estado de resistência revoltosa contra a ditadura, na medida mesma em que insistem em fazer daquela Rua dos Artistas ficcional um ponto de vista a partir do qual essa ditadura pode ser lida, graças ao engenho das metáforas pelo avesso.
4 - Considerações finais
Tudo o que eu poderia escrever como arremate desta pequena reflexão está sintetizado de maneira mais clara e eloquente em um último exemplo retirado da produção de Blanc no Pasquim. Trata-se da crônica da edição 379, também de 1976, que transforma o idílio de infância blanquiano em máquina de guerra desde o significativo título: “Vila Isabel espinafra a imprensa escrita, falada, televisada e pede passagem”. Nela, mais uma vez, o autor abandona a ficcionalização do passado para abordar em discurso direto temas relativos ao seu presente. Neste caso, escreve a respeito da prisão da cantora Rita Lee, então recém ocorrida, alegadamente por porte de maconha. Um irado Blanc sai em defesa da ex-mutante, atacando não apenas o ato da polícia, mas também o tom hipócrita, moralista e condenatório utilizado pelos jornais e televisões para tratar do assunto. Em um rompante que pode ou não ter sido uma paródia consciente do J’accuse de Émile Zola, Aldir faz uma declaração apaixonada em favor da justiça: “ser humano que sou, cidadão, casado, compositor, jornalista, boêmio, jogador, neurótico, cervejeiro, e tal e coisa, eu não aceito” (BLANC, 2006, p. 158). Aldir faz referências implícitas aos artistas que tinham ido para o exílio, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil, e alude ao assassinato travestido de suicídio do militante Manoel Fiel Filho.[10] Trata-se da crônica mais explicitamente afrontosa ao Regime Militar publicada pelo autor até 1980, quando a censura já estava relativamente desmobilizada. Certamente ele correu riscos ao escrevê-la. E, embora todo esse texto seja belo e pungente, o que sobretudo nos interessa nele é um pormenor aparentemente insignificante. É que a frase citada acima, a declaração de “não aceito” de Blanc, é precedida por esta outra: “Do alto da minha goiabeira, quero deixar claro o seguinte” (BLANC, 2006, p. 158).
Trata-se, é claro, da goiabeira do quintal de sua infância passada em Vila Isabel. A goiabeira que, como eu procurei apontar no início deste texto, é uma espécie de centro afetivo do próprio bairro, que em textos posteriores será idilicamente tratada como a mais doce das memórias de infância de Aldir Blanc. A goiabeira que supus ser a fonte da “angústia da influência” de Damares Alves. Em 1976, o cronista apenas comenta de passagem que está falando do alto de sua goiabeira, mas diz isso em um momento crucial – é a reivindicação de um ponto de vista a partir do qual atirará uma saraivada de declarações políticas rebeldes e corajosas. Não deixa de ser sintomático que seja assim, como trincheira, e não como idílio saudosista, que esse símbolo apareça pela primeira vez em sua obra: para Aldir Blanc, falar da infância em Vila Isabel sempre foi, em primeiro lugar, resistência.
Bibliografia
ANJOS, Augusto dos. Eu & outra poesia. São Paulo: Círculo do Livro, s.d.
BARBOSA, Jorge Luiz. “Territorialidades da Cultura Popular na Cidade do Rio de Janeiro” in Progmatizes, Rio de Janeiro: Ano 4, n. 7 (set. 2014), pp. 130-140.
BATISTA, Cícero César Sotero. O lugar dos Galos de Briga: Aldir Blanc e a década de 1970. Rio de Janeiro: UFRJ/ Faculdade de Letras, 2010.
BLANC, Aldir. Rua dos artistas e transversais [crônicas]. Rio de Janeiro: Agir, 2006.
BLANC, Aldir. “Aos 70 anos, Aldir Blanc responde a perguntas de Elza Soares, Bethânia e outros artistas”. O Globo, 28/08/2016
BLANC, Aldir. Vila Isabel, inventário da infância (Aldir 70). Rio de Janeiro: Mórula Editorial. Edição do Kindle. 2017.
BLOOM, Harold. A angústia da influência. Rio de Janeiro: Imago, 2002.
BLUMENBERG, Hans. Teoria da não-conceitualidade. Belo Horizonte, Editora UFMG: 2013
CALICCHIO, Vera. “Atos Institucionais” (verbete). in CPDOC, Dicionário Histórico-biográfico brasileiro. consultado online a partir do site https://cpdoc.fgv.br/acervo/dhbb/faq
CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. “A cidade do Rio de Janeiro nos anos 1960 e 1970: setorização social em processo – Notas de pesquisa” in Revista do Arquivo Geral da Cidade Do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n.4, p.81-96, 2010
CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. A ditadura dos empreiteiros: as empresas nacionais de construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro, 1964-1985. Tese (tese em história) - UFF. Rio de Janeiro, 2012.
CARNEIRO, Paulo Luiz. “Morte do operário Manuel Fiel no DOI-Codi, em 1976, precipita abertura política”. O globo, 13/01/2016
CARNEIRO, Aparecida Sueli. A construção do outro como não ser como fundamento do ser. Tese (tese de doutorado em educação) - USP. São Paulo, 2005.
MOREIRA, Regina da Luz; SOUSA, Luís Otávio de. “Peixoto, Ernani do Amaral” (verbete) in CPDOC, Dicionário Histórico-biográfico brasileiro. consultado online a partir do site https://cpdoc.fgv.br/acervo/dhbb/faq
NETO, Lira. Uma história do samba - as origens. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2017
OLIVEIRA, Thays de Souza. As vilas operárias da antiga Fábrica Confiança Industrial (Vila Isabel, Rio de Janeiro): mudanças e permanências. Monografia (monografia de conclusão de curso em geografia) - UFFRJ. Seropédica, 2016.
RICOEUR, Paul. A Metáfora Viva. São Paulo: edições Loyola, 2015.
SANTOS, Boaventura de Souza. “Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências” in Revista crítica de ciências sociais, 63, Outubro 2002, p. 237-280
SIMAS, Luiz Antônio. Pedrinhas miudinhas. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2013.
SIMAS, Luiz Antônio; RUFINO, Luiz. Fogo no mato - A ciência encantada das macumbas. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2018.
SILVA, Alberto Moby Ribeiro da. Sinal Fechado: a música popular brasileira sob censura. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008.
TOMAZI, Micheline Mattedi. “O contexto das manifestações populares na copa das confederações: entre o dizer e o silenciar” in RBLA, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p. 225-244, 2014
VASCONCELLOS, Gilberto. Música Popular: de olho na fresta. Rio de Janeiro: Graal, 1977.
Data de Recebimento: 07/08/2023
Data de Aprovação: 11/09/2023
[1] “Proust de Vila Isabel” é um epíteto atribuído a Aldir Blanc pelo cartunista Jaguar, na orelha da primeira edição de Rua dos Artistas e arredores (de 1978). Desde então, a analogia de Blanc com o autor de Em Busca do Tempo perdido tem sido quase um lugar comum da crítica.
[2] Para este trabalho, fiz uso do livro Rua dos Artistas e transversais, conforme indicado na bibliografia. Trata-se de uma coletânea que contém a íntegra dos dois volumes referentes ao período no Pasquim. Para a checagem das datas e edições do Pasquim em que foram publicadas cada uma das crônicas, consultei o acervo completo e inteiramente digitalizado do jornal, disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
[3] A afirmação foi feita em um depoimento dado por Blanc para um filme documentário sobre sua vida, Dois pra lá, dois pra cá (2004, independente) de Alexandre Ribeiro de Carvalho, André Sampaio e José Roberto de Morais.
[4] Não se pode perder de vista, também, uma segunda camada menos explícita desta metáfora: o narrador assinala que Ceceu Rico pensa em Amaral Peixoto como termo comparativo para a rasteira da madrinha, mesmo tendo sido “nascido e criado no Estácio”: a referência, neste caso, é ao fato desse bairro do centro do Rio de Janeiro ter sido famoso pelo “jogo da pernada”, espécie de disputa de rasteiras popular entre os malandros locais na primeira metade do século XX. Com apenas um aposto, Blanc faz Ceceu Rico reconhecer implicitamente que a rasteira de Amaral Peixoto superaria as da malandragem estaciana. (cf. NETO, 2017, p. 182)
[5] Durante todo o processo de pesquisa para esse artigo, suspeitei que “boto a tropa na rua!”, o bordão do personagem militar de pijama, se tratasse de uma “transversal do tempo”, ou seja, de uma referência literal de Aldir Blanc a alguma frase dita, quem sabe, pelos generais golpistas de 1964. Embora o espírito do personagem seja certamente de sátira a esse grupo, o bordão não é uma citação explícita a ninguém. Uma pesquisa no Google utilizando como termo de busca o bordão entre aspas encontra links apenas para os próprios textos de Blanc… e para uma declaração do Presidente da República Jair Bolsonaro dada em cinco de agosto de 2019: “se o congresso me der liberdade, eu boto a tropa na rua”. Não se pode descartar que se trate de mais um caso de Angústia da Influência.
[6] A escolha desse soneto específico de Augusto dos Anjos como exemplo não é arbitrária. Em sua crônica do Pasquim de 28/02/1980 (ed. 556), Aldir Blanc partiu justamente dessa obra do poeta paraibano para escrever o soneto paródico “Bandalhismo”. A brincadeira, que de fato se inicia com o verso “Meu coração tem botequins imundos”, foi musicada por João Bosco. O samba resultante acabou sendo o título do LP de Bosco lançado em 1980.
[7] “Tudo fora de lugar”, canção gravada por Guinga no álbum Casa de Villa (Biscoito Fino, 2007).
[8] A referência é à canção “O que sobrou do céu”, de Marcelo Yuka, cuja letra não soaria deslocada em uma das crônicas de Blanc: “(...) O som das crianças brincando nas ruas / Como se fosse um quintal / A cerveja gelada na esquina / Como se espantasse o mal / um chá pra curar esta azia / Um bom chá pra curar esta azia / Todas as ciências de baixa tecnologia”. A canção foi originalmente gravada pela banda O Rappa no álbum Lado B Lado A (Warner Music, 1999).
[9] Frase retirada do texto em memória de Blanc que Guinga publicou em seu Instagram pessoal, no dia 4/05/2020.
[10] A referência implícita ao exílio de Chico, Caetano e Gil está no seguinte trecho: “Cês lembram daqueles dias (epa!) em que amigos de todos nós foram pra Londres, pra Itália, pela aí? Ficamos um bocado revoltados, né? Ouvíamos determinadas músicas com a maior emoção. Dava raiva, saudade, tristeza, tudo isso junto e - olha aí! - o resultado final era o seguinte: não tamos de acordo.” Já a referência implícita ao assassinato de Fiel Filho (disfarçado como suicício pela ditadura) está neste trecho: “Eu tenho o direito de achar o que eu quiser sobre qualquer assunto. Artaud chegou a falar no meu direito ao delírio. E Camus levantou, com ressonância dostoievsquiana, meu direito ao suicídio. Mas não quero, com ou sem meia, ajuda.” A chave para decifrar a referência, neste segundo caso, é a palavra “meia”. A versão da ditadura para o “suicídio” de Fiel Filho (um caso muito semelhante ao de Vladimir Herzog) é a de que ele teria se enforcado com as próprias meias na cela em que estava preso. (CARNEIRO, 1976).