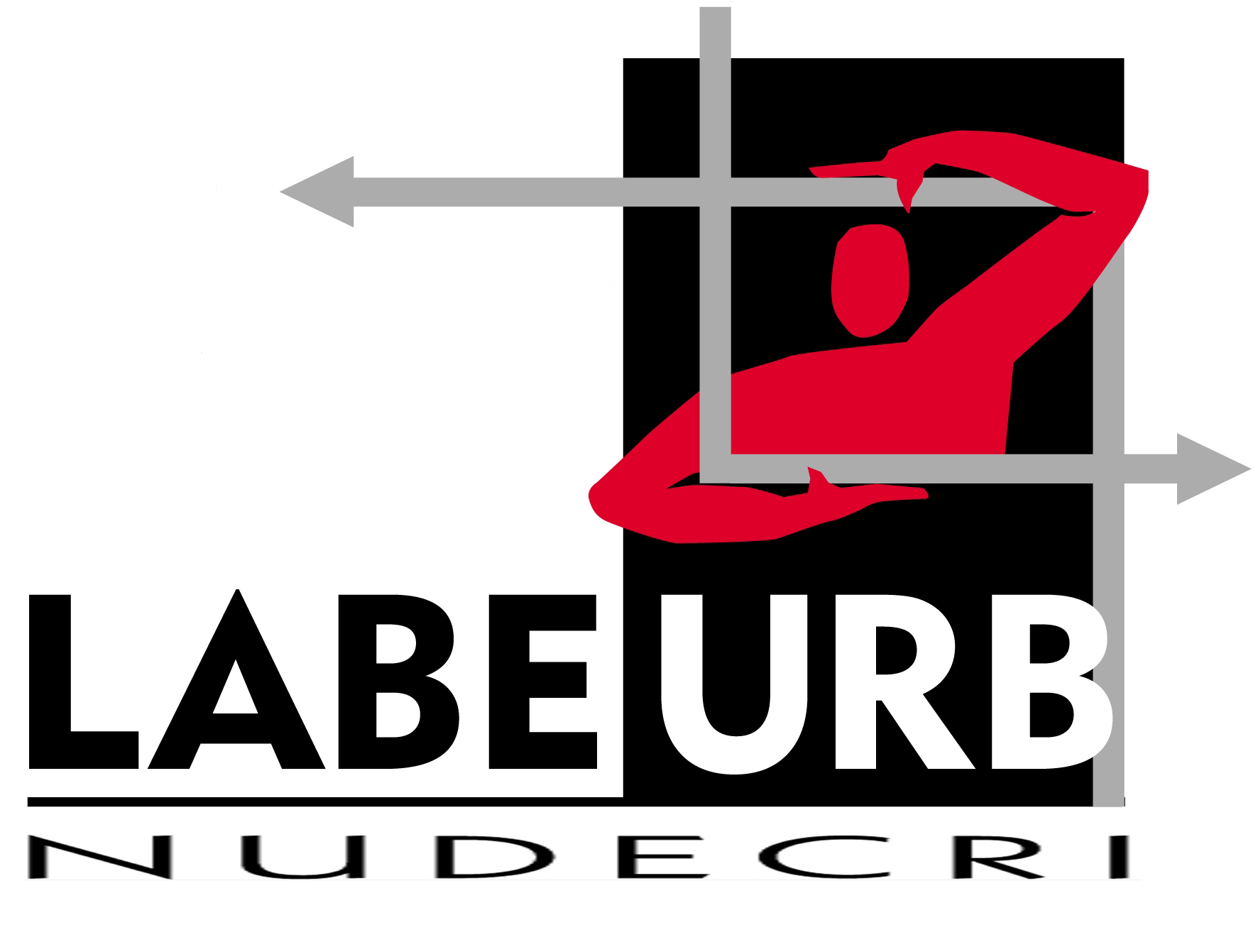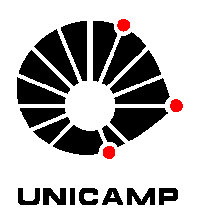Sarah Baartman e os paradoxos da liberdade


Ariane Almeida
Isadora Machado
I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own. And I am not free as long as one person of color remains chained. Nor is any one of you.
The uses of anger, Audre Lorde.
1. Considerações Iniciais
A Modernidade Colonial-Capitalista (Khiari, 2013; Machado e Silva, 2022), desde muito cedo, significou a Europa Ocidental como parâmetro de civilidade, humanidade e inteligência, ao passo que os “não-europeus” foram construídos imaginariamente enquanto “outros”1. Nessas circunstâncias, a exibição de pessoas foi um fenômeno que obteve bastante sucesso, sobretudo nas décadas finais do século XIX. Elas eram expostas para que fossem exibidas suas etnias em feiras, museus e lugares parecidos. Tais “espetáculos” só eram possíveis por conta do suposto contraste que existia entre as populações.
Embora a proliferação desses “shows” tenha ocorrido no final do século XIX, essa prática já acontecia muito antes com outras configurações. Segundo Vieira (2019, p.320): “a exibição de povos ditos bárbaros aconteceu desde Roma, por exemplo, assim como desde as navegações no século XV. Havia o modus operandi de levar não apenas matérias-primas, fauna e flora de locais ‘descobertos’. Pessoas eram levadas para a Europa como souvenires”. Grupos oriundos de diferentes territórios eram governados, coagidos e transformados em objetos de contemplação e controle, inseridos em uma lógica de exotização e dominação. De acordo com Said (2003 [1978]), o discurso ocidental é fundamentalmente hegemônico, incidindo não apenas nos territórios, mas também nos corpos das populações colonizadas, na tentativa de reduzi-las, simbólica e materialmente, ao domínio do colonizador.
É nessa conjuntura que temos, no início do século XIX, as exibições públicas, nos moldes de um zoológico humano, de Sarah Baartman, conhecida na Europa como Vênus Hotentote. Sarah Baartman foi uma mulher sul-africana que viveu entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Baartman teve sua vida marcada pela servidão, pois desde a infância residia em fazendas de colonos europeus (Crais; Scully, 2009). Não há informações sólidas que apontem que ela tenha sido escravizada nos moldes do que conhecemos por escravização. No entanto, pouco podemos afirmar sobre sua liberdade.
A época em que Sarah Baartman viveu estava fortemente condicionada pelos debates e disputas em torno da liberdade. Ela esteve, assim, submetida às contradições de sua época, que tinham a ver com as próprias condições de produção de uma Inglaterra vivendo as “modernizações” da Revolução Industrial e os “retrocessos” da escravização de pessoas.2
O ponto chave para entendermos a espetacularização de Baartman na Europa é o momento em que ela trabalhou como ama de leite para Pieter Cezar e, posteriormente, passou a prestar serviços para o irmão dele, Hendrick Cezar3. Segundo Crais & Scully (2009), Cezar passou a exibir Baartman na Europa por volta de 1808 em um hospital militar:
Por volta de 1808 [...] parece que Hendrik começou a mostrar Sara aos doentes que sonhavam com as delícias carnais da cidade e que tinham alguns xelins no bolso. Segundo Anna [esposa de Cesars], Sara mostrava-se a todos “que a quisessem ver”. Mas quando os marinheiros do hospital olhavam para Sara, prendiam-na com as fitas do desejo europeu de “conhecer” a mulher hotentote e com os seus próprios desejos de entretenimento sexual. Ela tornou-se um tipo especial de espetáculo (Crais & Scully, 2009, p.50 - tradução nossa).4
Considerando o local em que estava sendo exposta, Baartman chamou a atenção do médico britânico Alexander Dunlop, que trabalhava no Slave Lodge. Ele estaria passando por problemas financeiros e procurando outras fontes para complementar a renda, especialmente o comércio. Dunlop firmou um acordo com Cezar para levar Baartman à Inglaterra. Este é um ponto que precisamos ter em consideração para a análise e reflexões pretendidas neste artigo.
Em 1807, o parlamento da Inglaterra sancionou o Slave Trade Act, lei que visava impedir o comércio de pessoas escravizadas. Essa lei também tornava ilegal o transporte de pessoas escravizadas em navios britânicos. Para além disso, dois anos depois, foi implementada uma lei local na África do Sul, à época colônia britânica, chamada de Caledon Code, que tinha como intuito regulamentar as relações de servidão entre as populações Khoisan (autóctones) e os colonos brancos (Dooling, 2005). Esses colonos tinham um maior número de benefícios em comparação aos Khoisan, visto que detinham o controle sobre seus movimentos que, por exemplo, não podiam andar livremente nas ruas sem que estivessem a serviço (Dooling, 2005; Crais & Scully, 2009). O Caledon Code também regulamentava a saída, em viagens para a Europa, dos colonos em companhia de seus servos Khoisan (Crais & Scully, 2009). Para tal, eles deveriam solicitar uma autorização.
Por isso, a chegada de Sarah Baartman à Inglaterra gerou muitas especulações em termos legais, o que acarretou um processo judicial5. No entanto, nos interessa a tensão anterior aos tribunais, a fim de produzir uma compreensão sobre os resultados do julgamento: após responder perguntas de uma comitiva que supostamente falava a língua Khoisan, Sarah teria dito que se exibia por vontade própria; tanto o juiz do caso quanto os jornais ressaltam a amoralidade do que ela fazia, apesar de ser livre para fazê-lo.6 Para além da lei, a dita moralidade inglesa também estava em questão quando se confrontavam as apresentações a que Baartman era submetida. Por isso, o nome “Vênus Hotentote”, como ela era ironicamente conhecida naquele meio, costumava circular com frequência nos jornais.
Nesse artigo, faremos, a partir do arcabouço teórico-metodológico da Análise de Discurso, a análise de um corpus publicado em jornais ingleses, entre 20 de setembro e 16 de outubro de 1810. Após produzir uma compreensão7 sobre as regularidades linguísticas e seus pontos de diferenciação, objetivamos trazer elementos para discutir as condições de produção que determinaram o funcionamento dos sentidos de humanidade e liberdade em torno de Sarah Baartman.
O corpus é composto por um anúncio (propaganda) do dia 20 de setembro de 1810, e quatro cartas do leitor que o sucedem, publicadas em jornais ingleses entre 12 de outubro de 1810 e 16 de outubro de 1810. A primeira delas foi enviada ao jornal Morning Chronicle por um remetente que se autointitulou An englishman em 12 de outubro de 1810. A segunda carta, também enviada ao jornal Morning Chronicle, foi assinada em nome de Hendric Cezar em 13 de outubro de 1810. A terceira carta foi publicada pelo jornal The Examiner, tendo como remetente alguém que assina como A constant reader em 14 de outubro de 1810. A quarta carta, por fim, foi publicada no Morning Chronicle e assinada por Humanitas em 16 de outubro de 1810.8 Para facilitar a retomada dessas informações, organizamo-las em uma tabela:
Tabela 1
|
DOCUMENTO |
DATA |
AUTORIA |
VEÍCULO |
|
Propaganda |
20/09/1810 |
Sem assinatura |
Morning Post |
|
Carta do leitor |
12/10/1810 |
An Englishman |
Morning Chronicle |
|
Carta do leitor |
13/10/1810 |
Hendric Cezar |
Morning Chronicle |
|
Carta do Leitor |
14/10/1810 |
A Constant Reader |
The Examiner |
|
Carta do Leitor |
16/10/1810 |
Humanitas |
Morning Chronicle |
Na segunda seção, apresentaremos as análises desse corpus e, na terceira seção, discutiremos os resultados das análises.
2. Liberdade e humanidade: sentidos em disputa
Seguiremos as análises, detendo-nos, no batimento descrição-interpretação (Pêcheux, 2008 [1983], p.54), em alguns funcionamentos discursivos regulares no corpus, quais sejam: 1) o apagamento do agente ao falar de Sarah Baartman; 2) as modalizações; 3) o efeito de antonímia entre liberdade e escravidão; e 4) os efeitos parafrásticos em torno do nome de Baartman. Nessas regularidades, parece inicialmente contraditório que Hendrick Ceasar, patrão/senhor de Baartman, defenda a liberdade e a autonomia dela, ao passo que os outros autores das cartas defendam que a liberdade é um valor moral inglês, de modo que são mais importantes os valores morais e liberais da Inglaterra, que a humanidade de Baartman. Ao discutir as condições de produção, entretanto, poderemos compreender essa contradição.
Para apresentar nossas análises, transcrevemos abaixo os recortes discursivos que fizemos no corpus, de modo um pouco mais longo que o necessário para as análises, e colocamos as traduções na sequência do trecho em inglês – acreditamos que apresentar os recortes dessa maneira torna a sequência de apresentação das análises mais fluida. As datas fazem referência à tabela 1 (ver supra). Em seguida, dividiremos as subseções de acordo com o funcionamento discursivo analisado, fazendo referência à numeração dos recortes transcritos.9
Vejamos os recortes discursivos e, em seguida, passemos às análises.
RD1 (20/09/1810): She has been seen by the principal Literati in this Metropolis, who were all greatly astonished, as well as highly gratified, with the sight of so wonderful a specimen of the human race. [Ela foi vista pelos principais literatos desta metrópole, todos profundamente surpreendidos e igualmente muito gratificados ao contemplar tão extraordinário exemplar da espécie humana.]
RD2 (12/10/1810): As a friend to liberty, in every situation of life, I cannot help calling your attention to a subject, which I am sure need only be noticed to insure your immediate observation and comment. You stand so deservedly high in the public opinion as a staunch friend of humanity, and a sincere promoter of the abolition of the slave trade, that you will perhaps anticipate the cause I am now pleading, and to which I wish to call the public attention. [Como amigo da liberdade em todas as circunstâncias da vida, não posso deixar de chamar sua atenção para um tema que, estou certo, basta ser mencionado para assegurar sua imediata consideração e comentário. Sua reputação perante a opinião pública é justamente elevada como um defensor firme da humanidade e um promotor sincero da abolição do tráfico de escravos, de modo que talvez o senhor já antecipe a causa que ora defendo e à qual desejo chamar a atenção do público.]
RD3 (12/10/1810): I think, Sir, I have read somewhere (but this you will know better than me), that the air of the British Constitution is too pure to permit slavery to exist where its influence extends. If that be the case, why is this poor creature to live under the most palpable and abject slavery in the very heart of the metropolis [...]. [Creio, senhor, ter lido em algum lugar (mas isso o senhor saberá melhor do que eu) que o ar da Constituição Britânica é puro demais para permitir que a escravidão exista onde quer que se estenda sua influência. Se isso for verdade, por que essa pobre criatura deve viver sob a mais evidente e abjeta escravidão bem no coração da metrópole?]
RD4 (12/10/1810): It is contrary to every principle of morality and good order, but this exhibition connects the same offense to public decency, with that most horrid of all horrid situations, Slavery. [É contrário a todo princípio de moralidade e boa ordem, mas essa exibição associa a mesma ofensa à decência pública àquela que é a mais horrenda de todas as situações horrendas: a escravidão.]
RD5 (13/10/1810 – HC): In the first place, he betrays the greatest ignorance in regard to the Hottentot, who is as free as the English. [Em primeiro lugar, ele demonstra a mais completa ignorância a respeito do hotentote, que é tão livre quanto o inglês.]
RD6 (13/10/1810 - HC): This woman was my servant at the Cape, and not my slave, much less can she be so in England, where all breathe the air of freedom; she is brought here with her own free will and consent, to be exhibited for the joint benefit of both our families. [Esta mulher foi minha criada no Cabo, e não minha escrava — muito menos poderia sê-lo na Inglaterra, onde todos respiram o ar da liberdade; ela foi trazida para cá por sua própria vontade e consentimento, para ser exibida em benefício mútuo de nossas famílias.]
RD7 (13/10/1810 - HC): That there may be no misapprehension on the part of the public, any person who can make himself understood to her is at perfect liberty to examine her, and know from herself whether she has not been always treated, not only with humanity, but the greatest kindness and tenderness. [Para que não haja nenhum mal-entendido por parte do público, qualquer pessoa que consiga se fazer entender por ela está em plena liberdade de examiná-la e saber por si mesma se ela não foi sempre tratada, não apenas com humanidade, mas com a maior bondade e ternura.]
RD8 (14/10/1810): As I have ever observed in your Paper a love of freedom and of the rights of human nature, I wish through its medium to state the case of a poor, unfortunate being, now really exhibited in the metropolis; hoping by these means to attract the attention of some charitable person more powerful to assist her than I am. [Como sempre observei em seu jornal um amor pela liberdade e pelos direitos da natureza humana, desejo, por meio deste, expor o caso de um ser pobre e infeliz, agora realmente exibido na metrópole; esperando, por esses meios, atrair a atenção de alguma pessoa caridosa e mais poderosa que eu para ajudá-la.]
RD9 (14/10/1810): The unfortunate object whom I mean is a female native of the Cape of Good Hope, lately brought into this country by a man whose slave she was, and who still continues to treat her as such, although in this country the bonds of her servitude are broken, and she is entitled to all the rights and privileges of a British subject. [O infeliz objeto a quem me refiro é uma mulher nativa do Cabo da Boa Esperança, recentemente trazida para este país por um homem que era seu senhor, e que ainda a trata como tal, embora neste país os laços de sua servidão tenham sido quebrados, e ela tenha direito a todos os direitos e privilégios de um súdito britânico.]
RD10 (14/10/1810): Found ignorant of what a sight I was to see — a sight disgraceful to decency and humanity — I entered. [Ignorante do que eu representava para ser visto — uma visão vergonhosa para a decência e humanidade — eu entrei.]
RD11 (14/10/1810): I mentioned this to her master, but he said that she was sick and sulky and was always sulky when company was there. Is this a human being in this land of freedom? So he dragged her forward against her will, to display the defects of her person to gratify the avarice of a mob; and will no one arise to protect her, because her colour and her form are different from our own? [Mencionei isso ao mestre dela, mas ele disse que ela estava doente e mal-humorada e sempre ficava mal-humorada quando havia visita. Isso é um ser humano nesta terra de liberdade? Então ele a arrastou para frente contra sua vontade, para exibir os defeitos de seu corpo e satisfazer a avareza de uma multidão; e ninguém se levantará para protegê-la, já que sua cor e sua forma são diferentes das nossas?]
RD12 (16/10/1810): Every genuine friend to humanity and liberty must have been gratified by the letter of “An Englishman," in your Paper of last friday, on the situation of a poor creature now exhibited in this metropolis for money. [Todo verdadeiro amigo da humanidade e da liberdade deve ter se sentido satisfeito pela carta de "Um Inglês", publicada no seu jornal da última sexta-feira, sobre a situação de uma pobre criatura agora exibida nesta metrópole por dinheiro.]
2.1 Apagamento do agente
O uso da voz passiva para falar da escravização, bem como a ocultação do agente da ação de escravizar, foram funcionamentos regulares no corpus analisado, sobretudo quando se trata de identificar ou denunciar aquilo que estaria ocorrendo com Baartman.
Ao utilizar a voz passiva – como em RD1 - She has been seen by the principal Literati – o objeto da ação (SB) é que aparece topicalizado, enquanto “aqueles que a veem” aparecem na periferia da frase. Apenas nesse cartaz de propaganda do “show” é que o agente aparece, mesmo que na periferia. Nesse caso, a diferença em relação à regularidade se explica pela circulação de um cartaz de propaganda: que os principais intelectuais da época tenham ido ao show é um argumento para que as outras pessoas também o assistam.
Na maior parte das construções que falam de Baartman, o agente é totalmente suprimido, como em RD3 - this poor creature to live under the most palpable and abject slavery e RD6 - she is brought here with her own free will and consent. Nesses recortes, não há uma identificação imediata do agente que promove a escravização ou de quem a trouxe para a Inglaterra. Esse apagamento impede a identificação imediata de quem promove a escravidão, quem trouxe a mulher ao Reino Unido ou quem lucra com sua exibição. Há uma espécie de factualização da violência, como se a condição de escravizada fosse parte de um estado natural e não fruto de uma ação histórica. A ausência de nomeação dos responsáveis também produz um efeito de desresponsabilização.
Essa dinâmica sintática se combina com a tematização da figura de Sarah Baartman: ela é constantemente posicionada como tema das orações, mas raramente como agente das ações. Quando se diz, por exemplo, “she is brought here with her own free will” (RD6), o apagamento do agente por meio da voz passiva ajuda a construir uma narrativa de consentimento que, sob análise, é problemática. Esse tipo de estrutura gramatical produz, nesse caso, um efeito de legitimação da lógica colonial de exibição e controle, porque simula uma negociação do poder, como se o corpo colonizado fosse voluntário no próprio espetáculo. Os deslizes na nomeação e o uso de expressões como “this poor creature” (RD3) ou “the unfortunate object” (RD9) reforçam a imagem de SB como figura sem agência, sem nome, sem palavra, o que intensifica o apagamento simbólico de sua subjetividade: ela se torna um “objeto de discurso”, sobre o qual se fala.
2.2 Modalizações
No item anterior, demonstramos a maneira pela qual o apagamento do agente da ação nos recortes reforçava a imagem de Sarah Baartman enquanto um ser sem agência. Além disso, os agentes da escravização são regularmente suprimidos, produzindo o efeito de que a condição de explorada é um dado da natureza, e não da história. Aparentemente em contradição a isso, encontramos o uso regular das modalizações com efeito deôntico, com efeito epistemológico e com efeito axiológico.10
O uso recorrente das estratégias de modalização, mobilizando não apenas juízos de valor, mas também graus de certeza, produz efeitos de sentido associados à avaliação moral e à construção de legitimidade. Em termos argumentativos, essas marcas modais inscrevem no enunciado a posição do enunciador (ponto de vista).
No RD2, a expressão “You stand so deservedly high in the public opinion” produz efeito de uma modalização deôntica, ao associar o prestígio do Editor do Jornal à ideia de mérito. “Deservedly” atua como intensificador avaliativo, legitimando a posição de autoridade do editor. Assim, não apenas qualifica a reputação dele como justa, mas funciona como base para a interpelação: é precisamente por ocupar esse lugar que ele deve agir. O Editor é assim convocado a uma espécie de responsabilidade, num gesto que articula reconhecimento, mas sobretudo expectativa. Além disso, para negar o argumento principal, o Editor deveria negar o reconhecimento de autoridade que é feito para ele.
No RD4, It is contrary to every principle of morality and good order inscreve uma modalização de efeito epistêmico com alto grau de certeza e uma modalização com efeito axiológico valorando a ação. A formulação impessoal (It is) contribui para o efeito de apagamento da autoria do julgamento, conferindo-lhe um estatuto de verdade objetiva, de evidência. A moralidade e a ordem pública operam como lugares de consenso presumido, de modo que a crítica enunciada se apresenta como incontestável — o que coloca em funcionamento uma estratégia discursiva voltada à naturalização de valores.
Em RD12, a formulação Every genuine friend to humanity and liberty must have been gratified também conjuga uma modalização epistêmica com uma axiológica. O uso do modal must sugere muita certeza, ao mesmo tempo em que o adjetivo genuine recorta, dentro de uma categoria aparentemente estável (“amigos da humanidade e da liberdade”), aqueles que seriam legítimos. A gratificação esperada passa a funcionar como prova de pertencimento a essa comunidade moral. O efeito de sentido resultante é a constituição de uma espécie de nós ético, que exclui, por contraste, os indiferentes ou os não identificados com tais valores.11
2.3 Antonímia liberdade X escravidão
Observamos ainda a constituição de um efeito de antonímia pautado na oposição entre liberdade e escravidão, mobilizada discursivamente por meio de estruturas sintáticas binárias. Tal oposição opera não apenas como recurso argumentativo, mas como índice de uma contradição constitutiva do discurso imperial britânico. A liberdade, tomada como princípio fundacional da identidade britânica no século XIX, é contraposta à escravidão como figura da alteridade radical, incompatível com os valores que a Inglaterra pretenderia representar.
No RD3, a formulação the air of the British Constitution is too pure to permit slavery to exist where its influence extends promove uma associação direta entre os efeitos da Constituição britânica e a impossibilidade moral e ontológica de qualquer tipo de escravidão sob sua jurisdição. O efeito metafórico faz deslizar a “pureza do ar” da Constituição para a naturalização de um ideário de liberdade como elemento atmosférico, imanente ao espaço britânico, o que intensifica o contraste com a presença de Sarah Baartman escravizada, representada como um corpo estranho ao ambiente inglês. Essa construção discursiva atualiza a contradição entre o imaginário nacional e a materialidade da dominação colonial.
De modo semelhante, RD6 afirma: not my slave, much less can she be so in England, where all breathe the air of freedom. A negação enfática (not, much less) sustenta uma posição de distância moral em relação à escravidão, ao mesmo tempo em que reinscreve a dicotomia entre o espaço britânico, onde se respiraria liberdade, e qualquer forma de sujeição, oposta aos valores britânicos. A liberdade aqui é performada como condição coletiva (where all breathe), sugerindo uma universalidade que, no entanto, é desmentida pela própria história da Inglaterra nos processos de escravização na Modernidade Colonial-Capitalista12.
Em RD11 – Is this a human being in this land of freedom? – acentua-se a contradição entre o estatuto de humanidade da figura representada por Baartman e o espaço simbólico em que ela é exibida. A interrogação retórica explicita a dissonância entre o ideal reivindicado (land of freedom) e a realidade histórica da figura subalternizada. Não tratar SB como ser humano seria algo que agiria diretamente contra o fato reiterado: a Inglaterra é a terra da liberdade.
2.4 Sarah Baartman: efeitos parafráticos no intradiscurso
Salientamos, por fim, os efeitos parafrásticos na nomeação contraditória de Sarah Baartman, que nunca é designada pelo nome próprio: ao mesmo tempo em que denuncia, também reitera sua posição de vítima. O uso sistemático de sintagmas nominais que a referem por meio de categorias genéricas, zoológicas, geográficas ou depreciativas reifica seu corpo e produz efeito de apagamento de sua subjetividade. A oscilação parafrástica entre expressões inscritas no campo de uma espécie de empatia — como this poor female, poor unhappy woman, unfortunate being — e outras inscritas no científico ou exótico — extraordinary phenomena of nature, so wonderful a specimen of the human race, Hottentot Venus — demonstra a contradição na qual a denúncia da exploração convive com sua reprodução simbólica.
As designações oriundas do discurso científico e racializante, tais como tribe of the human species, specimen of the human race ou female native of the Cape of Good Hope, operam uma despersonalização sistemática da figura de Baartman. Tais expressões não apenas a inscrevem como objeto de estudo, mas a deslocam do campo da humanidade plena para o da curiosidade antropológica e da alteridade radical. Nesse processo, Baartman é recortada como corpo exibível, mensurável, categorizável — um extraordinary phenomenon ou dreadful deformity — cuja presença na metrópole é justificada pela curiosidade científica ou pelo espetáculo colonial.
Paralelamente, valem-se de expressões que, ao mesmo tempo que produzem efeito piedoso e de denúncia, como poor slave, a wretched creature e those beings who are sufficiently degraded to shew themselves, reforçam a imagem de Baartman como ser destituído de agência e reduzido à condição de vítima silenciosa. Essas expressões integram um regime de representação que oscila entre a caridade e o escárnio, contribuindo para a construção da imagem de um ser degradado, cuja humanidade só é reconhecida na medida em que confirma a superioridade moral do observador britânico.
Nesse conjunto, são atualizados os repertórios coloniais de objetificação, exotização e vitimização. A nomeação, nesse caso, constitui o gesto de reforçar o lugar social que é destinado a Baartman: um corpo racializado e submetido ao julgamento colonial da metrópole.
3. Sarah Baartman: os paradoxos do liberalismo
A relação entre liberdade e autonomia pode ser remetida ao Iluminismo, sobretudo à leitura que Immanuel Kant (1985 [1874]) faz dele. Segundo o filósofo alemão, as Luzes representam a possibilidade de o homem alcançar a maioridade. Muniz Sodré (2005) chama atenção para a palavra em alemão utilizada por Kant: Mündigkeit, já que Münd significa boca – maioridade, portanto, seria a característica daqueles que, em tendo boca, podem falar por si mesmos. A autonomia e a liberdade, assim, estão ligadas à possibilidade de falar sem intermédio de tutores: a possibilidade de falar por se mesmo.
A passagem à maioridade, no entanto, é “difícil” e “perigosa”, sobretudo para mulheres, negros e indígenas13, e isso explicaria a necessidade de esses grupos serem tutelados. No caso de Sarah Baartman, é justamente essa a questão que aparece durante o julgamento de seu caso14: poderia Sarah falar por si mesma? Ao decidirem que sim, que ela, nas apresentações públicas de seu corpo, fazia uma escolha, invocava-se então a liberdade concedida pelo liberalismo inglês, que é a de poder fazer tratos comerciais livremente.
As cartas que analisamos, no entanto, apontam para outra contradição: por um lado, temos a posição de Hendrick Ceasar, patrão/senhor de Baartman, que defende a liberdade e a autonomia de Baartman (ela é livre, então escolhe exibir o corpo); por outro, os autores das cartas defendem mais os valores morais e liberais da Inglaterra, que a humanidade de Baartman. Para compreender o modo como essa contradição se discursiviza, é necessário compreender suas condições de produção.
Segundo Courtine (1981), a noção de condição de produção provém de três domínios: o campo da psicologia social, a partir da análise de conteúdo; o da sociolinguística, que admitia como variáveis sociológicas o estado social do emissor, do destinatário e a condição social de ambos na situação de comunicação; e o campo dos estudos do texto, a partir de Discourse Analisys, de Harris (1952). Pêcheux (1997 [1969]), por sua vez, dá o nome de condições de produção a essa relação que os outros campos entendem como um acréscimo ao fenômeno linguístico. Ao fazer isso, não se trata de nomear o mesmo fenômeno com outro nome, mas de construir o conceito a partir de sua base político-epistemológica marxista.
A ideia de condições de produção15, elaborada por Michel Pêcheux e seu coletivo de pesquisa, está situada na crítica que esses autores dirigiram, nas décadas de 60 e 70, à Psicologia Social, especialmente quanto à sua tendência de despolitizar as questões da subjetividade e de negligenciar questões teóricas centrais. Isso porque Pêcheux, enquanto um sindicalista marxista-leninista, entendia que todo gesto analítico está ancorado na luta de classes, o que exige pensar uma práxis que dispute não apenas as epistemologias, mas a inseparabilidade entre elas e as políticas.
Pêcheux (1997 [1969]) então define condições de produção como “o conjunto de mecanismos formais que produzem um discurso de tipo dado em circunstâncias dadas” (Pêcheux, 1997 [1969], p.74), ou seja, da “ligação entre as ‘circunstâncias’ de um discurso – que chamaremos daqui em diante suas condições de produção – e seu processo de produção” (Pêcheux, 1997 [1969], p.75). Dessa forma, um enunciado deve sempre ser remetido às relações históricas de sentido nas quais é produzido. Essa relação, entretanto, não é empírica nem unívoca.
Pêcheux (1997 [1983]), nos característicos momentos em que faz uma autogenealogia de si e de seu pensamento, critica o uso estanque desses conceitos enquanto categorias aplicáveis a um conjunto de textos. Assim, na AD-3, as reformulações epistemológicas empreendidas, sobretudo depois de 1975, levam Pêcheux a abordar “o estudo da construção dos objetos discursivos e dos acontecimentos, e também dos “pontos de vista” e “lugares enunciativos no fio intradiscursivo” (Pêcheux, 1997 [1983], p.316).
No RD2, o autor da carta, identificado como Um homem inglês, recorre a uma modalização para projetar no Editor do jornal a imagem “amigo da humanidade” e “promotor sincero da abolição do tráfico de escravizados". Segundo Mamigonian (2002, p.11), “no auge de seu poder político na Europa, após a derrota da França napoleônica, e tendo abolido seu próprio tráfico de escravos em 1807, a Grã-Bretanha construiu para si a imagem de campeã da liberdade no mundo civilizado”16. Apesar de o tráfico ter sido proibido pelo Slave Trade Act, em 1807, o domínio colonial britânico se estendeu até o século XX na África do Sul, para não mencionarmos os outros territórios coloniais dominados pelo Reino Unido e o fato de a escravidão por si mesma só ter se tornado ilegal em 1833.
Assim, quando nossas análises apontam uma aparente contradição entre a posição de Cezar e dos demais autores das cartas do leitor nos jornais, trata-se de uma contradição das condições de produção que de alguma maneira se discursivizam na materialidade da língua. O ar da Constituição Britânica, diz a carta assinada por Um homem inglês, é muito puro para permitir a escravidão. Os domínios britânicos seriam, portanto, avessos à escravidão, apesar de ela ainda ser uma prática comum em 1810. Ainda nessa carta, argumenta-se que a exposição pública de Sarah Baartman deve ser rechaçada por suas razões: feriria qualquer princípio da moralidade (uma ofensa à decência pública), mas também seria a mais “horripilante” de todas as situações (a escravidão).
Segundo Amadeo (2012), essa controversa relação entre liberalismo e humanismo é parte importante da história civil da Inglaterra, e remonta ao século XVII. Nesse caso, conjugam-se a linguagem do direito e a linguagem da virtude, o que aparece também no material analisado: Sarah Baartman tem o direito de se exibir, caso não esteja sendo exibida, mas essa exibição é moralmente aceitável? Essa pergunta, que aparecerá no processo que julga seu caso, será respondida justamente por essa dicotomia: Sarah Baartman escolheu se exibir em público, o que é legalmente permitido, mas moralmente condenável.
No capítulo 24 de O Capital, quando Marx (2017) trata da acumulação primitiva, encontramos uma pista para dar complexidade a essa contradição que condiciona os sentidos da humanidade de Sarah Baartman. Criticando a ideia idílica de acumulação primitiva - de que trabalho e dinheiro teriam sido os meios da acumulação - Marx (2017) defende que dinheiro e mercadoria precisaram ser transformados em capital. Essa transformação, entretanto, só pôde ser feita a partir de circunstâncias específicas: “de um lado, possuidores de dinheiro, meios de produção e meios de subsistência [...]; de outro, trabalhadores livres, vendedores da própria força de trabalho [...]” (Marx, 2017, p.960-961). Essa liberdade dos trabalhadores, continua Marx, deve ser compreendida em duplo sentido: “nem integram diretamente os meios de produção, como os escravos, servos etc., nem lhes pertencem os meios de produção, como no caso, por exemplo, do camponês que trabalha por sua própria conta etc., mas estão, antes, livres e desvinculados desses meios de produção” (Marx, 2017, p.960-961).
Nesse sentido, Cezar afirma que Baartman é livre para se submeter e por isso se submete, enquanto as cartas afirmam que ela é livre para não se submeter e que deve, assim, se submeter à moralidade burguesa. Se expor ao olhar do outra seria a força de trabalho que Sarah Baartman vende, o que dissimula a evidência de que imoral são justamente as condições de trabalho do trabalhador. Assim, o que está em jogo não é o reconhecimento da humanidade de Baartman, mas a reafirmação da lógica capitalista que, como Marx denuncia, exige sujeitos formalmente livres, ainda que materialmente despossuídos.
Esse movimento nos parece fundamental para compreender a ideia de raça e do racismo científico no século XIX, uma vez que racializar as populações também foi uma maneira de continuar explorando-as, mesmo após o fim oficial da escravização. Segundo Dias e Belizze (2020, p.117), “embora as narrativas póstumas (acadêmicas ou não) revelem uma tendência a apresentá-la [Sarah Baartman] como uma ‘mulher negra’ ou uma ‘mulher africana’, o interesse que ela despertou na ciência de então estava justamente relacionado ao fato de não ser ela exatamente como as outras mulheres africanas”. Independente de concordarmos, ou não, com essa afirmação, é uma questão que pretendemos desenvolver nas próximas análises: de que maneira Sarah Baartman pode ser considerada um ponto de descontinuidade na história da ideia de raça?
Após a morte de Sarah Baartman, seu corpo continuou a ser violado. Cuvier e sua equipe ficaram responsáveis pela autópsia, e o laudo desse processo parece reforçar nossa hipótese sobre a descontinuidade. Ainda segundo Dias e Belizze (2020, p.317), “a exploração da sexualidade de Sara Baartman, como vimos, visava sustentar uma teoria sobre o corpo primitivo. A esteatopigia e a hipertrofia dos pequenos lábios eram tomadas, por um lado, como uma característica comum às mulheres hotentotes/khoikhoi e, por outro lado, como a prova de uma sexualidade feminina excessiva e predatória”.
A vida e a morte de Sarah Baartman merecem ser estudadas a partir de um posicionamento situado, a fim de que tenhamos a possibilidade de compreender, nessa descontinuidade, quais estratégias de desumanização afetam, até hoje, mulheres negras em África e na Diáspora.
4. Considerações finais
Segundo Buck-Morss (2011, p.131), no século XVIII, a escravidão passou a ocupar um lugar central como metáfora nas reflexões da filosofia política ocidental. Ela simbolizava, sobretudo, aquilo que havia de mais perverso nas dinâmicas do poder. A liberdade, por outro lado, foi alçada pelos pensadores iluministas ao posto de valor político absoluto e universal. Esse quadro de antonímias, que repete aquele que encontramos no corpus, situava-se justamente no momento em que a escravidão colonial se consolidava como pilar do modo de produção capitalista. Ainda segundo a autora, paradoxalmente, muitos dos pensadores que defendiam a liberdade como condição natural da humanidade aceitavam a exploração sistemática de milhões de pessoas escravizadas nos territórios coloniais. Mesmo em um momento de revoluções políticas impulsionadas por ideais de emancipação, mantinha-se “oculta” e à margem a dependência estrutural do capitalismo ocidental em relação ao trabalho escravizado. O fato de essa incongruência não ter perturbado a lógica dos iluministas, para Buck-Morss (2011, p.132), é menos surpreendente do que a disposição, ainda hoje, de alguns autores em narrar a história do Ocidente como uma trajetória linear e coerente de progresso rumo à liberdade.
Fazendo trabalhar essas contradições, nosso trabalho, inicialmente, situa a problemática que recortamos em torno de Sarah Baartman. Em seguida, fizemos a análise discursiva do corpus e encontramos regularidades e diferenças no modo de constituição dos sentidos. Para compreender os elementos trazidos pelas análises, lançamos mão do conceito de condições de produção, tal como trabalho pela Análise de Discurso, particularmente por Pêcheux e Orlandi. Por fim, fizemos o movimento próprio do método materialista-histórico, de sair do abstrato ao concreto e compreendemos, junto com Marx, que a contradição encontrada no corpus se relaciona com contradições constitutivas do modo de produção capitalista.
Essas análises nos permitiram formular outras questões, que serão desenvolvidas em trabalhos futuros. Salientamos, particularmente, a hipótese de que Sarah Baartman constitua um ponto de descontinuidade na história da ideia de raça no século XIX e, consequentemente, na história do racismo científico.
Sarah Baartman não pôde falar de si mesma e, mesmo sendo o tema central das cartas, sequer tem seu nome citado. Em detrimento disso, Baartman era adjetivada de modo a destacar a suposta empatia que movia as ações de seus “defensores”. Sarah Baartman não é defendida por ser semelhante, por gerar empatia ou outras questões correlatas, mas, sim, porque ao defendê-la a moralidade inglesa estaria sendo defendida. Esta nação, por estar inserida em um ideal de civilização, remete também a um ideal de humanidade. Esperamos, portanto, que nosso trabalho possa contribuir para o tempo presente, pois os processos de desumanização, exotificação e exploração que atingiram Sarah Baartman, até hoje, é usado contra mulheres negras.
Referências:
AMADEO, Javier. Liberalismo e humanismo as linguagens da consciência cívica na Inglaterra do século XVII. In: Varia Historia, Belo Horizonte, v.28, n.48, p.669-697, jul/dez 2012.
ANDRADE, V.; TRAVAGLIA, L. C. Modalização em artigos científicos da área da Linguística. Domínios de Lingu@gem, v. 11, n. 3, p. 822-850, ago. 2017. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem/article/view/37206. Acesso em: 18 abril. 2025.
BENVENISTE, Émile. A natureza dos pronomes. In: BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral I. Campinas, SP: Pontes, 1995 [1956].
BUCK-MORSS, Susan. Hegel e Haiti. Tradução de Sebastião Nascimento. In: Novos estudos. CEBRAP (90), julho 2011.
CRAIS, Clifton C. SCULLY, Pamela. Sara Baartman and Hottentot Venus: a ghost story and a biography. New Jersey: Princeton University Press, 2009.
COURTINE, Jean-Jacques. Quelques problèmes théoriques et méthodologiques en analyse du discours, à propos du discours communiste adressé aux chrétiens. In: Langages. Analyse Du Discours Politique. 1981. Volume 15. Número 62. pp. 9-128. Disponível em http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/lgge_0458-726x_1981_num_15_62
DIAS, Juliana Braz; BELIZZE, Geovanna. Encenando a diferença em palcos metropolitanos: as trajetórias de Sara Baartman e Franz Taibosh. Anuário Antropológico, v. 45, n. 3, p. 304-324, 2020.
DOOLING, Wayne. The Origins and Aftermath of the Cape Colony's 'Hottentot Code' of 1809. Kronos, Cape Town, v.31, n.1, 2005.
PÊCHEUX, Michel. Análise automática do discurso. In: HAK, T.; GADET, F. (orgs.) Por uma análise automática do discurso: uma introdução a obra de Michel Pêcheux. 3. ed. Campinas, SP: UNICAMP, 1997 [1969].
PÊCHEUX, Michel. Análise de Discurso: três épocas. In: HAK, T.; GADET, F. (orgs.) Por uma análise automática do discurso: uma introdução a obra de Michel Pêcheux. 3. ed. Campinas, SP: UNICAMP, 1997 [1983].
HARRIS, Zellig S. Discourse Analysis. Language, Washington, v. 28, n. 1, p. 1-30, jan./mar. 1952. Publicado por: Linguistic Society of America.
KANT, I. 1985 [1784]. O que é Esclarecimento? In: KANT, I. Textos seletos. Trad. Raimundo Vier e Floriano de S. Fernandes. 2.ed. Petrópolis: Vozes, p.100-116.
KHIARI, Sadri. Le peuple et le tiers-peuple. In: Qu'est-ce qu'un peuple?. La Fabrique Éditions, 2013. p. 115-136.
MACHADO, Isadora. A reinvenção da “hipótese Sapir-Whorf”. Línguas e Instrumentos Linguísticos, v. 35, n. 1, p. 29-52, 2015a. Disponível em: http://www.revistalinguas.com/edicao35/artigo2.pdf
MACHADO, Isadora. Nietzsche, o destino singular da linguagem. Tese de Doutorado. IEL/Unicamp. 2015. Disponível em: https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/948617
MACHADO, Isadora; SILVA, Luiz Felipe Andrade. Ferramentas linguísticas da modernidade colonial-capitalista: uma tomada de posição latino-americana frente ao problema da colonização na história das ideias linguísticas. Línguas e Instrumentos Linguísticos, Campinas, SP, v. 25, n. 49, p. 3–49, 2022. DOI: 10.20396/lil.v25i49.8667023. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/lil/article/view/8667023.
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. To be a liberated African in Brazil: Labour and citizenship in the nineteenth century. 2002. 346 f. Thesis (Doctor of Philosophy in History) - University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, 2002.
MARX, Karl. O capital. Crítica da economia política. Livro I. O processo de produção do capital. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2017 [1890].
MBEMBE, Achille. Políticas da Inimizade. Trad. de Marta Lança. Lisboa: Antígona, 2017.
ORLANDI, Eni Puccinelli. Texto e discurso. Organon, v. 9, n. 23, 1995.
ORLANDI, Eni Puccinelli. (org.). Gestos de leitura: da história no discurso. 4. ed. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2014.
PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 2008 [1983].
SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 [1978].
SODRÉ, Muniz. Por um conceito de minoria. In: PAIVA, R. BARBALHO, A. Comunicação e cultura das minorias. São Paulo: Paulus, 2005.
SOLLY, S.; MOOJEN, Geo; LINDFORS, Bernth. Courting the Hottentot Venus. Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, Roma, v. 40, n. 1, p. 133-148, mar. 1985. Publicado por: Centro Studi Paesi Extraeuropei (CSPE).
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. [1988] Pode o subalterno falar? Tradução de Sandra Almeida, Marcos Feitosa e André Feitosa. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010.
VALENTIM, M.A. (2019). Descolonização metafísica: esboço de manifesto contra-filosófico. Revista do NESEF, [S.l.], v.8, n.1, set. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/nesef/article/view/68944/39397>. Acesso em: 10 abril 2025.
VIEIRA, Marina Cavalcante. A Exposição Antropológica Brasileira de 1882 e a exibição de índios botocudos: performances de primeiro contato em um caso de zoológico humano brasileiro. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 53, p. 317-357, jan./abr. 2019.
Data de Recebimento: 31/07/2023
Data de Aprovação: 25/08/2023
1 Para uma crítica pós-colonial dessa categoria, ver, por exemplo: Spivak (2010) e Hall (1992).
2 Essas ideias de avanço e retrocesso aparecem nas análises. Ver seção 2.
3 A grafia do nome dele varia nas fontes primárias.
4 No original: “By 1808 [...] it seems Hendrik began to show Sara to the sick patients dreaming of the city’s carnal delights and with a few shillings in their pockets. According to Anna, Sara showed herself to those “who wished to see her.” But when the sailors in the hospital looked at Sara, they bound her in the ribbons of European desire to “know” the Hottentot Woman and in their own longings for sexual entertainment. She became a special kind of show, a Hottentot Venus”.
5 Ver, por exemplo: SOLLY, S.; MOOJEN, Geo; LINDFORS, Bernth (1985). Apesar da visão deplorável que esse artigo apresenta ao final, ele traz a tradução de fontes primárias que só estão acessíveis em arquivos na Inglaterra.
6 Idem.
7 “Também em minha distinção entre “inteligibilidade, interpretabilidade e compreensão” (E. Orlandi, 1988, p.101), está dito que a compreensão é a apreensão das várias possibilidades de um texto. Para compreender, o leitor deve se relacionar com os diferentes processos de significação que acontecem no texto. Esses processos, por sua vez, são função da historicidade, ou seja, da história do sujeito e do sentido do texto, enquanto discurso. Sem esquecer que o discurso é estrutura e acontecimento (M. Pêcheux, 1983), o objetivo da AD é compreender como um texto funciona, como ele produz sentidos, sendo ele concebido enquanto objeto linguístico-histórico.” (Orlandi, 1995, p.114).
8 Todo o material foi consultado em https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
9 Se é verdade que o fenômeno discursivo não se divide no momento da análise, acreditamos que essa separação, ao apresentar a análise, pode contribuir para a explicitação do nosso gesto de leitura (Orlandi, 2014). Ao fazer isso, objetivamos estabelecer pontes mais amigáveis (Mbembe, 2017) com outros campos vizinhos à AD.
10 Fazemos referência aqui a Travaglia (1991) e Andrade & Travaglia (2017). No entanto, de nossa posição, a modalização não está na língua, mas é produzida enquanto efeito de sentido.
11 Cf. Benveniste (1995).
12 Cf. Khiari (2013) e Machado & Silva (2022).
13 Cf. Valentim (2019).
14 SOLLY, S.; MOOJEN, Geo; LINDFORS, Bernth (1985).
15 As reflexões sobre condições de produção desenvolvidas nessa seção são uma versão modificada de Machado (2015a) e Machado (2015b).
16 Nossa tradução de: “at the height of its political power in Europe after the defeat of Napoleonic France, and having abolished its own slave trade in 1807, Britain constructed for itself the image of the champion of freedom in the civilised world”.