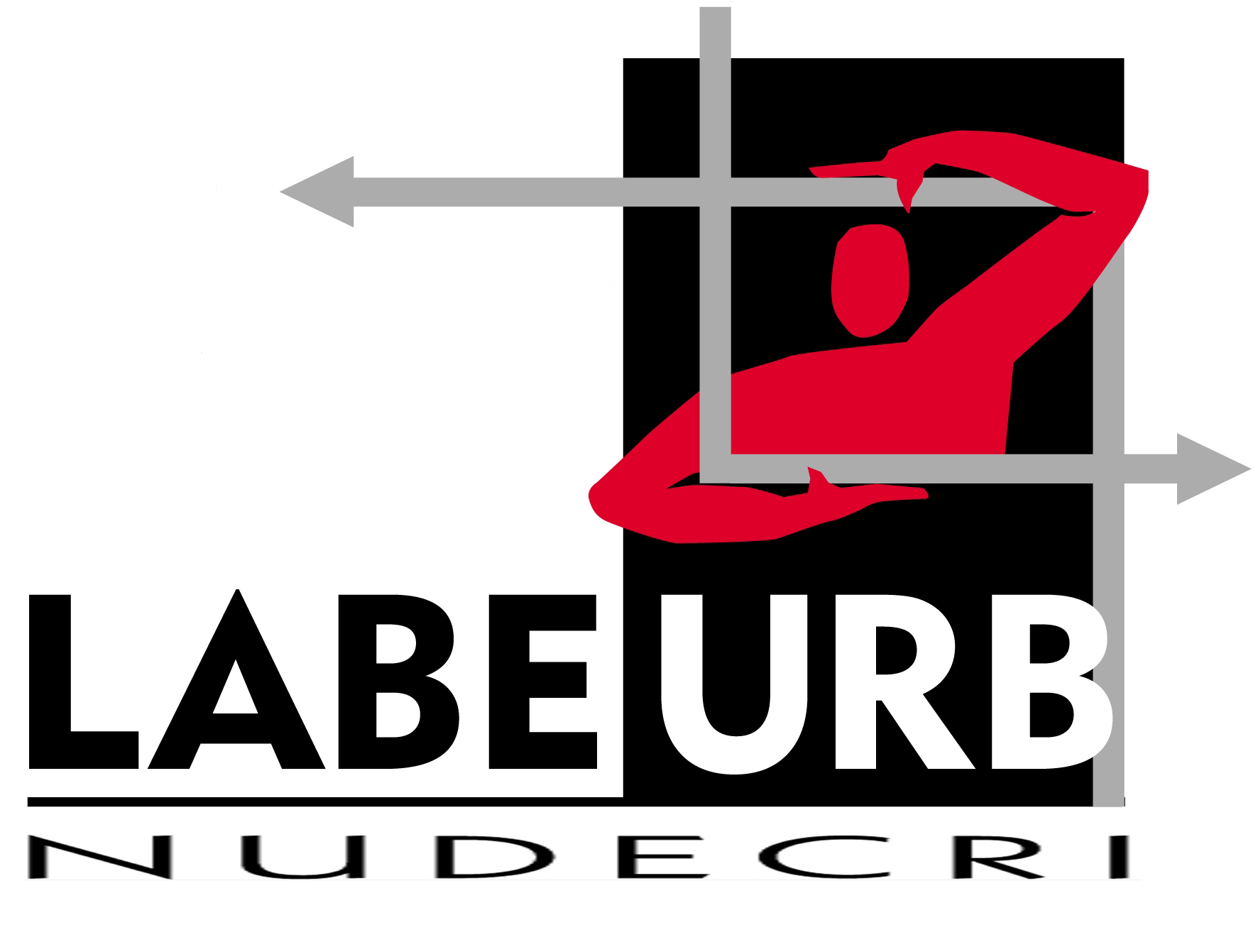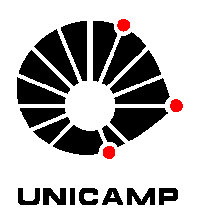Os intelectuais negros e suas biografias: uma análise de instrumentos linguísticos de metassaberes


Rogério Modesto
Phellipe Marcel da Silva Esteves
Eu
Que dou vida às raízes secas das vegetações brancas
Eu
Ébano que não morreu no
temporal das agressões doentias
Força que floresceu no tempo das fraquezas alheias
Feito de Amor e Raça
E alegrias explosivas.
“Eu Negro”, Cuti (1996)
Introdução
O desejo de recortar um pedacinho do Real e dizer imaginariamente tudo sobre ele se coloca nas formações sociais que convivem com a escrita e com sua reprodução mecanizada já há alguns séculos. Desde o período em que dicionários e enciclopédias pareciam indistintos — por exemplo, na Cyclopaedia de Ephraim Chambers, de 1728, que registra como subtítulo An universal dictionary of arts and sciences containing the definitions of the terms, and accounts of the things signify’d thereby, in the several arts, both liberal and mechanical, and the several sciences, human and divine [destaque nosso], e que serve como inspiração para a Encyclopédie francesa, que também insere em seu subtítulo a palavra dicionário, em francês: Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772): par une société de gens de letres [destaque nosso] —, tratando de uma totalidade supostamente integral, até o surgimento de obras especializadas, em que o todo é apresentado segmentado, como qualificativo — como em Enciclopédia da mulher, ou Enciclopédia das grandes invenções —, há livros que se preocupam em significar a existência das formas mais particulares, inscritas em um certo conjunto de discursos.
Algo em que algumas dessas obras focam são justamente os sujeitos empíricos, as pessoas enquanto encarnações de saber, produzindo imagens, por exemplo, sobre a forma como eles produzem conhecimento. Neste artigo, procuramos pensar em dois desses objetos (ora dicionários, ora enciclopédias): trata-se do Diccionario biobiblographico brazileiro e da Enciclopédia negra, sobre os quais daremos mais detalhes à frente. Especificamente, nesses trabalhos, destacaremos como sujeitos negros, especialmente quando ocupam a posição-sujeito intelectual, são significados em sua relação com as ideias.
No Brasil, foi apenas com as Ações Afirmativas raciais — em sua maioria, cotas — nas universidades e no serviço público que sujeitos negros passaram mais massivamente a ocupar lugares não subalternos, transformando o cenário profissional da ordem do visível: mesmo que ainda não sejam maioria entre os quadros das universidades, das clínicas, dos escritórios, dos laboratórios, dos institutos de pesquisa, não se pode mais dizer que o sujeito negro é exatamente uma exceção nesses lugares. Entretanto, por séculos, ele foi, sim, absoluta minoria entre as posições discursivas reconhecidas na produção de conhecimento, e inevitável maioria entre quem tinha os dizeres mantidos à margem — por meio inclusive de censura. E, mesmo que tenham produzido conhecimento — como o romancista brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis, discursivizado como branco em uma série de produtos ao longo do século XX, até uma grande polêmica no início de 20111 —, sua condição enquanto negros não era afirmada. No Brasil, é somente no século XXI que campanhas mais ostensivas passam a retomar personalidades negras lhes reconhecendo a cor da pele.
A Enciclopédia negra (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021; também EN) se insere nesse esforço discursivo de ressignificar a intelligentsia — e ao mesmo tempo o sujeito negro — brasileira, traçando breves biografias de personalidades negras. Entretanto, não é a primeira obra a apresentar biografias de produtores de conhecimento em suas páginas, embora se possa dizer que inaugure o campo de destaque nos sujeitos negros. Antes dela, houve uma iniciativa exaustiva e que pouco tem sido lembrada nos estudos acadêmicos: o Diccionario biobiblographico brazileiro.
1. Branco como pressuposto, europeu como menção obrigatória, negritude interditada
Esse funcionamento de instrumento que se põe a divulgar imagens das vidas de sujeitos brasileiros não é uma novidade. Qualquer tentativa de contar, problematizar, teorizar sobre a história das ideias científicas, literárias, intelectuais no país deve levar em conta obras que tenham buscado relatar as biografias dos sujeitos que produziram discurso materializando tais ideias. E uma das obras pioneiras nesse sentido remonta ao final do século XIX, começo do século XX (de 1883 a 1902), intitulada Diccionario biobiblographico brazileiro (também DBB), sob a autoria do baiano Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, publicada em sete volumes com cerca de 500 páginas cada. Trata-se de um dicionário enciclopédico que, assim como a Enciclopédia Negra, é organizado em ordem alfabética com o nome de cada personalidade. Nele, fica patente um discurso que faz uma aproximação inevitável entre sujeito e obra. Vejamos o que defende o autor na apresentação do primeiro volume da obra:
Bem que propriamente bibliographico seja meu livro, entendi que não podía deixar de dar algumas noticias biographicas relativamente a cada um escriptor, de que me occupo, guardando nesta parte uma certa concisão, porque, de outra sorte, teria de dar á empresa uma amplidão, que não se coaduna com a natureza della. (...) vi-me em apuros muitas vezes por nada ter podido obter, nem ao menos a respeito da naturalidade do escriptor, que conhecia apenas pela obra que escrevera; outra vezes, ainda que raras, ao contrario colhi tantos, tão importantes factos da vida do escriptor, e todos estes factos tão sympathicos, que, não cabendo nas raias deste trabalho enuncial-os todos, vi-me embaraçado na escolha daquelles a que devia restringir-me. (Blake, 1883, p. xviii; itálicos nossos)
Produz-se o efeito de que obra e autor caminham paralelamente, e mais do que isso: mesmo que as notas biográficas devam ocupar pouco espaço em relação à produção “propriamente” bibliográfica, há um dado que ganha prioridade em relação a outros: a naturalidade, que nem sempre foi encontrada. Num país monárquico com pouco mais de um cinquentenário de independência, às vésperas da Abolição da Escravatura e da Proclamação da República — todos os marcos que só mostram que há, nessa contemporaneidade da publicação do referido dicionário, discursividades prenhes de sentido de transformação social —, convém marcar na língua a naturalidade de autores, que será, conforme veremos, interpretada como nacionalidade. E mais: Blake ainda afirma que houve casos em que prescindiu de informar tudo o que sabia — alguns “factos tão sympathicos” —, por nem tudo caber no livro. E é nesse jogo de saberes sabidos e não materializados, e saberes nem sempre conhecidos e não elencados como importantes, que inserimos nossas análises.
Como nesta seção do artigo queremos dar a ver a semelhança entre a forma de apresentação do dicionário e da EN, em seus mais de cem anos de distância, parece-nos útil exibir a abertura prototípica de seus artigos. Aqui não exibiremos a tradução para o francês porque o que nos importa é comparar a composicionalidade semelhante desses textos:
Figura 1: DBB, v. 1 (1883), p. 32.

Figura 2: EN, 2021, p. 86; versão e-book.

Fotografamos a abertura de artigos referentes ao mesmo objeto-sujeito-discursivo: André Pinto Rebouças. Em ambas as obras, os textos se iniciam, ainda que de forma distinta, com informações sobre sua filiação, sua naturalidade geográfica e a profissão de seus ascendentes. A maior diferença que notamos nesse caso, entretanto, é a menção à negritude de Rebouças, engenheiro responsável pelas obras mais complexas dos últimos anos do Império Brasileiro: “Negro e autodidata” na EN, enquanto que na DBB faz-se referência a ter estudado, assim como o irmão, “diversas materias de humanidades além das exigidas para os cursos de mathematica”. Isso é algo a ser destacado: o dicionário cujas textualidades analisamos frisa bem um certo esforço individual de estudo, em algo que consideramos um traço de discurso meritocrático — ele teria ido “além” do necessário.
A marcação racial zero para intelectuais negros, entretanto, é uma constante no DBB. O sujeito negro só é mencionado por ocasião de ser objeto de estudos, o que muitas vezes ocorre, por ocasião das disputas discursivas pró ou contra a abolição da escravatura nas biografias de diversos autores. Dificilmente o sujeito negro comparece como autor da produção intelectual. Portanto, dificilmente aparece como, propriamente, sujeito. A seguir, elencamos algumas sequências discursivas extraídas do volume 4 (1898) do DBB, aquele em que encontramos o artigo referente justamente a Joaquim Maria Machado de Assis. Antes de o elencarmos, entretanto, vamos mostrar como, na disputa por sentidos quanto ao que pode e deve ser um intelectual no Brasil, se faz imperiosa uma publicação como a Enciclopédia Negra.
Nesse quarto volume do DBB, o único artigo que encontramos em nossa leitura em que um sujeito negro — designado “escravo”, mesmo depois de liberto, sem direito a nome — ocupa posição diferente de objeto de saber — como em títulos de obras pró e contra o escravismo — é o referente a Joaquim Leme de Oliveira Cezar:
SD1: Joaquim Leme de Oliveira Cezar — Natural do Itú, do actual estado de S. Paulo, ahi falleceu pelo anno de 1872. Exerceu no logar de seu nascimento cargos de eleição popular, como o de vereador da camara municipal. Homem de actividade, bella intelligencia e estudioso, libertou um escravo e mandou-lhe ensinar a arte typographica, e com este escravo, que foi um seu amigo dedicadissimo, montou em sua propria casa uma typographia (Blake, 1989, p. 181-182, itálicos nossos)
Nota-se, nos trechos sublinhados, o que já afirmamos: sua designação segue sendo “escravo” mesmo depois de liberto. Além disso, embora ele seja colocado em posição de sujeito de saber, e não objeto de saber, sintaticamente ele figura de modo acessório: quem monta uma tipografia na própria casa é Joaquim Leme, que conta com a ajuda de um amigo dedicadíssimo que teria se visto livre dos grilhões graças ao primeiro. Qual é o nome desse ex-escravizado? E mais: donde ele vem? Nasceu no Brasil? Vive? É morto? O DBB não nos informa. O máximo que um homem com racialidade negra explicitada linguisticamente ocupa nesse dicionário é a posição de um sujeito acessório a um tipógrafo branco. Vejamos também que a forma como isso tudo é escrito exclui, em vez de incluir, também a contribuição do sujeito negro:
[Joaquim] com este escravo [...] montou em sua própria casa uma tipografia
≠
[Joaquim] e este escravo [...] montaram em sua própria casa uma tipografia
Apenas a título de contraste discursivo, exemplificando de forma não exaustiva como a condição de naturalidade é mostrada nos artigos sobre os intelectuais tratados, deixamos a seguir algumas sequências discursivas que, diferentemente de como significam os sujeitos negros, não apagam as origens de sujeitos europeus, tampouco seus nomes; muito menos os colocam em posição acessória. Isso pode se dar por diversos motivos: desde uma ocultação deliberada — da qual duvidamos — até a falta de informações por parte de Blake, que trocava cartas com numerosas fontes Brasil afora para descobrir mais sobre a classe que procurava retratar em seu dicionário. Independentemente da causa, o que importa é que a condição da branquitude e, sobretudo, europeidade parece dar um acesso privilegiado à materialização no discurso: é fácil, fácil demais ter suas características biopsicossociais significadas no DBB se o sujeito é branco e europeu, ou de família europeia, como na SD3. Observemos:
SD2: Jorge Antonio de Schäffer — Natural da Allemanha, recommendado pelo Imperador Francisco II, pae da archiduqueza da Austria, a esposa do principe D. Pedro, resolveu vir ao Brazil em janeiro de 1821. (Blake, 1989, p. 260, itálicos nossos)
SD3: Jorge Elias Behn — Filho de paes allemães, nasceu em Santos, provincia de S. Paulo, a 3 de março de 1847 e falleceu a 6 de março de 1885. (Blake, 1989, p. 262, itálicos nossos)
SD4: Jorge Gade — Natural da Allemanha e cidadão brazileiro, foi professor de grego no antigo collegio de Pedro II e professor de linguas modernas da escola de Eiderferd, na Prussia. (Blake, 1989, p. 263, itálicos nossos)
SD5: José Herman de Tautphœus — Barão de Tautphœus, da Allemanha — Natural deste estado, nascendo a 22 de setembro de 1810 e brazileiro por naturalisação, falleceu no Rio de Janeiro a 27 de fevereiro de 1890 com avançada idade, sendo professor de allemão no imperial collegio de Pedro II. (Blake, 1989, p. 451, itálicos nossos)
O sintagma “brasileiro por naturalização” e variantes, conforme vemos nas sequências acima, é frequente, mas, em nossa entrada no arquivo discursivo, invariavelmente associado a sujeitos nascidos na Europa (sobretudo de Portugal, da França, da Inglaterra, da Alemanha e da Itália, que contam com numerosas identificações de naturalidade na DBB). Parece, portanto, importante destacar a nacionalidade dos intelectuais, até porque há ainda casos em que o dicionário afirma desconhecer a naturalidade:
SD6: José Caetano Gomes — Ignoro sua naturalidade; apenas sei que nasceu depois do meiado do seculo 18° e que falleceu no Rio de Janeiro pelo anno de 1835. (Blake, 1989, p. 356)
Esse não é o único caso. Repete-se, por exemplo, no mesmo volume e com a mesma estrutura gramatical, com as informações sobre José Francisco Vieira Braga, José Joaquim de Moura Caldas etc. Nada disso é uma realidade discursiva para os sujeitos negros.
Em Esteves (2016), traçamos a hipótese de uma divisão entre (a) instrumentos de saber metalinguístico e (b) instrumentos linguísticos de metassaberes. Em resumo, os primeiros dariam conta daquilo que tradicionalmente já tem sido chamado de instrumentos linguísticos no campo da História das Ideias Linguísticas — para Auroux (1992, p. 69), do mesmo modo que um martelo prolonga o gesto da mão, uma gramática prolongaria a fala natural, extrapolando competências individuais, o que definiria a instrumentação linguística —, enquanto os segundos seriam instrumentos feitos de língua (diferentemente de outros instrumentos no campo da produção de saber, desde pipetas a aceleradores de partículas) mas que elaborariam conhecimento sobre as mais diversas áreas, produzindo um retorno do saber sobre o saber... a partir da língua. Nessa categoria, teríamos, por exemplo, as enciclopédias, mas também dicionários biobliográficos como o DBB. Um desses saberes em circulação nesse tipo de instrumento, em nossa interpretação, seriam os saberes relativos à racialização dos sujeitos (Modesto, 2021).
Desde o início de nossa investigação no DBB, tendo por contraste a EN, perguntamo-nos se o elemento racial comparecia no discurso sobre cada um dos intelectuais elencados no referido dicionário. E, se não compareciam, estão no discurso de algum modo significados? Parece-nos, depois dessa breve exposição, que sim.
Discutimos, em Esteves (2017), como há uma saturação discursiva da condição negra ao se significarem os sujeitos escravizados — o que acaba por produzir o efeito de sinonímia entre africano, negro e escravo —, mas um apagamento da condição branca ao se significarem os sujeitos responsáveis pela escravização — como se as posições de colonizadores, colonos, senhores de engenho, usurpadores de terra, estupradores fossem isentas de cor, de raça e de nacionalidade... como se essas posições não fossem ocupadas por sujeitos brancos e europeus, ou seus descendentes... como se os agentes da violência física e simbólica fossem incolores. Parece haver o inverso no discurso sobre a produção de conhecimento do DBB: a negritude é ocultada, e fica parecendo que apenas o branco participou da construção da intelectualidade brasileira... e, como vimos no caso do sujeito negro liberto amigo de Joaquim Leme de Oliveira Cezar, isso não corresponde à história das ideias. Os casos de Machado de Assis e dos irmãos Rebouças, na DBB, também demonstram que a negritude é ocultada quando se trata das trajetórias epistemológicas nacionais. Sujeitos negros foram agentes da elaboração de saberes quando tiveram chance de tal, mas é como se fossem incolores. O diagrama a seguir mostra esse processo discursivo:

Parece-nos haver um continuum entre um funcionamento discursivo e outro, que leva àquilo que Sueli Carneiro (2005), numa releitura de Boaventura de Sousa Santos (1995), chama de epistemicídio, integrando-o “ao dispositivo de racialidade/biopoder como um dos seus operadores por conter em si tanto as características disciplinares do dispositivo de racialidade quanto as de anulação/morte do biopoder” (Carneiro, 2005, p. 10). Voltaremos a esse conceito na próxima seção.
Toda esta apresentação do DBB tem como pano de fundo apresentar um contraste, no discurso da produção de saberes, em relação à Enciclopédia negra. Ela é uma das responsáveis por (a) retirar do anonimato sujeitos negros que ocuparam a posição de intelectuais no discurso e (b) mostrar a sua condição de negritude, destacando-a já no título do livro. Uma proposta absolutamente distinta de projetos de enciclopédias anteriores, conforme notamos em Esteves (2023, p. 220ss). Nesse estudo, identificamos que, para ser enciclopédia no Brasil, não é necessário que um livro publicado originalmente em língua estrangeira se autointitule enciclopédia, mas que detenha saberes baseados num certo discurso eurocêntrico. É assim que Francinet: livre de lecture courante; principes elémentaires de morale et d’instruction civique, d’economie politique, de droit usuel, d’agriculture, d’hygiene et des sciences usuelles, publicado originalmente na França em 1869, é traduzida e publicada no Brasil, em 1873, Chiquinho: encyclopedia da infância. O que não era uma enciclopédia, mas um manual romanceado, torna-se esse instrumento linguístico de metassaberes. E o discurso eurocêntrico funciona também em obras não traduzidas, como na Enciclopédia ilustrada do Brasil, em dez volumes, publicada no final do século XX, em 1982, que abre seu primeiro volume com o título “Introdução: a Europa e o mundo”.
Entretanto, ainda em Esteves (2023), registramos um deslocamento na produção enciclopédica brasileira, mencionando os casos da Latinoamericana: Enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe (de 2006) e da Enciclopédia matsés de medicina tradicional (2016), esta última escrita exclusivamente em matsé e sem qualquer pretensão, por parte do povo indígena que a escreveu, de ser traduzida para línguas europeias: “A mudança do panorama das enciclopédias, o giro de sua adjetivação, a alteração de seu processo editorial e de autoria são algo marcante. De nacionais com discursos europeizantes (...) caminha-se rumo a uma enciclopédia para a transformação” (Esteves, 2023, p. 223). A Enciclopédia negra se enquadra também nesses casos, conforme teremos a oportunidade de ler adiante, e promove aquilo que chamamos de uma virada afro nas ciências humanas,2 e que tem afetado os estudos do discurso.
2. Biografias e intelectualidade negras brasileiras no campo das Letras
Conforme discutimos anteriormente, a EN se insere num esforço discursivo de ressignificar a intelectualidade brasileira, pela inclusão do sujeito negro nesse circuito intelectual. Nas palavras dos autores, a EN “pretende ampliar a visibilidade das biografias de mais de 550 personalidades negras, em 417 verbetes individuais e coletivos, apoiando-se na vasta produção historiográfica, antropológica, literária, arqueológica e sociológica que se debruçou sobre a escravidão e sobre o pós-abolição” (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 9). Nos interessa discutir, neste momento, de que modo as biografias textualizadas na EN se comportam em sua avaliação narrativa acerca da relação que se pode estabelecer entre negritude e intelectualidade.
Se é seguro dizer que os sentidos de intelectual estabilizados em nossa formação social vão em direção a uma imagem masculina, branca, europeia, cisgênera, heterossexual, não se pode dizer, contudo, que tais sentidos tenham se estabelecido sem resistência. Outros sujeitos entraram na disputa pela intelectualidade no campo brasileiro a partir de diferentes estratégias. Na transição dos séculos XIX para o XX, homens negros que buscavam um lugar nas ciências, nas letras e artes e na política empreenderam uma abordagem que exigiu deles distintos processos de identificação, especialmente em um contexto social oitocentista profundamente marcado por um antiafricanismo estrutural (Barbosa Filho, 2018) e por um racismo enraizado nas dinâmicas escravocratas. De acordo com Pinto (2015), a emergência de sujeitos negros — particularmente homens — reconhecidos enquanto intelectuais resultou de múltiplos esforços empreendidos em diversas esferas de prestígio e poder então vigentes. As redes de sociabilidade, por sua vez, eram variadas: desde as lojas maçônicas e partidos políticos até as associações e irmandades negras.
Nesses espaços, independentemente da via escolhida — seja por meio do apadrinhamento de figuras influentes e da articulação com setores brancos, aliados ou não às pautas da população negra, seja através do fortalecimento de vínculos horizontais, nos quais aqueles que adentravam determinadas redes criavam oportunidades para outros — a intelectualidade negra começou a disputar legitimamente o reconhecimento social enquanto produtora de saber no Brasil.
Naturalmente, dada a diversidade de estratégias envolvidas, surgiram também críticas, insatisfações e debates acerca das formas possíveis de constituição do intelectual negro. Ainda segundo Pinto (2015), aqueles que ascenderam mediante relações de apadrinhamento eram frequentemente alvo de censuras severas, sendo acusados de adotar posturas reformistas e conciliatórias, supostamente alinhadas aos interesses das elites, em detrimento de uma atuação crítica mais afinada às demandas dos sujeitos subalternizados, incluindo a própria população negra. Por outro lado, é plausível considerar que tais intelectuais viam-se obrigados a dialogar com distintos segmentos políticos, desde reformistas moderados até militantes radicais, o que exigia deles um certo abrandamento de posicionamentos e adequações discursivas para garantir sua inserção e escuta nos espaços públicos.
Na história do pensamento linguístico brasileiro, é possível destacar dois intelectuais negros que tiveram trajetórias diferentes e que, ao que tudo indica, foram provavelmente adeptos de diferentes estratégias de forjadura de suas intelectualidades. Referimo-nos a Antenor de Veras Nascentes (1886–1972) e Hemetério José dos Santos (1858–1939). Embora ambos tenham, em diferentes momentos com pequeno intervalo de tempo — o que indica que talvez tenham convivido ainda que brevemente —, frequentado os mesmos espaços e ocupado funções semelhantes, observa-se uma clara distinção entre aquele cuja negritude permaneceu praticamente ausente de sua construção identitária e aquele em que essa dimensão racial constituiu elemento central de reconhecimento.
Enquanto Hemetério dos Santos se notabiliza por articular, de modo assertivo e explícito, uma reflexão que vincula a língua à questão da racialidade negra no Brasil, o percurso intelectual de Antenor Nascentes se consolida como uma referência nos estudos da língua portuguesa — não apenas no ensino do idioma e de línguas estrangeiras, mas, sobretudo, nas investigações voltadas aos aspectos lexicais, etimológicos, filológicos e dialetais do português praticado no país, sem que o tema da negritude (ou sua própria condição negra) tenha espaço explícito na sua produção.
A análise da obra de Santos permite constatar sua dedicação à elaboração de ensaios e textos em que examina múltiplas possibilidades de relação entre a linguagem e a racialidade, destacando-se, entre essas contribuições, o ensaio “Etymologias ‘preto’”, publicado em 1905 no terceiro volume do influente Almanaque Garnier. Nesse texto, o autor contesta uma hipótese etimológica então vigente a respeito da palavra “preto”, oferecendo uma interpretação crítica e engajada na pauta negra antirracista que confronta concepções linguísticas dominantes.
Por sua vez, o reconhecimento da produção de Nascentes se dá em razão de sua vasta contribuição acadêmica, que tem sido amplamente citada por estudiosos em diferentes domínios dos estudos linguísticos — da gramática ao léxico, da história da língua à filologia — bem como em pesquisas voltadas à história das ideias linguísticas no Brasil. A circulação da obra de Santos, por seu turno, é radicalmente diferente da de Nascentes: pouco se fala sobre ela nos cursos de graduação e pós-graduação em Letras no Brasil, o que se pode comprovar com buscas de trabalhos ligados a esse intelectual e a sua obra em repositórios institucionais, onde praticamente só se recuperam trabalhos das áreas de história e pedagogia (Modesto, 2024). Diferentes razões são levantadas para isso, desde explicações que consideram a obra de Santos de menor relevância (Cavaliere, 2016) até aquelas para as quais sua negritude e postura combativa eram interpretadas como inconvenientes, resultando em entraves na sua vida intelectual, apesar de sua notável erudição (Muller, 2006; Silva, 2015).
Modesto (2024) sumariza as diferenças entre eles, contraditoriamente, a seu ver, motivadas pelo mesmo processo, o epistemicídio3 (Carneiro, 2025). Em suas palavras,
Considero que o epistemicídio está presente na trajetória de diversos intelectuais negros, inclusive nas de Nascentes e Santos. Em Antenor Nascentes, a ampla circulação de seu nome e de sua obra veio acompanhada do apagamento de sua negritude, constituindo aquilo que Fanon (2008) e Souza (2020) concluem em relação ao fato de que o negro que se empenha na conquista da ascensão social paga o preço do massacre de sua identidade. Já para Hemetério José dos Santos, sua militância negra explícita, muitas vezes considerada inconveniente (Silva, 2015), o levou à periferia do saber (Carneiro, 2005) na historiografia linguística (Modesto, 2024, p. 74).
Num breve e preliminar gesto de análise discursiva, vamos recuperar as biografias desses dois intelectuais das letras que se encontram na Enciclopédia negra de Gomes, Lauriano, Schwarcz (2021). Nosso objetivo, relembramos, é o de compreender de que modo as biografias textualizadas na EN se comportam discursivamente na articulação entre negritude e intelectualidade. Vamos a elas:
Figura 3: Biografia de Antenor Nascentes. EN, 2021, p. 97; versão e-book.

Figura 4: Biografia de Hemetério José dos Santos. EN, 2021, p. 442; versão e-book.

Embora as biografias apresentem certa regularidade em sua estrutura composicional e temática — informações sobre sua filiação, naturalidade geográfica, vínculos profissionais etc. — certamente tomam caminhos textuais diferentes não apenas pelo estilo adotado pelos diferentes biógrafos que integram a equipe da EN, como também pela própria particularidade que advém das especificidades de vida dos biografados. É esse o ponto de nosso interesse nesse breve gesto de análise discursiva comparativa: entendendo que negritude e intelectualidade devem comparecer como efeito de sustentação da produção da EN — e não mais discurso eurocêntrico baseado na produção de saber por sujeitos brancos ou com marcação racial Ø —, interessa-nos discutir como essa relação é estabelecida, no que ela pretende, em conformidade com seu objetivo, abalar o “grande e constrangedor silêncio” (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 09) em torno do registro dos feitos de pessoas negras.
Ao compararmos a construção das biografias de Antenor Nascentes e de Hemetério dos Santos, é possível identificar a manutenção de discursos já conhecidos acerca dessas figuras intelectuais. De certo modo, isso materializa aquilo que os autores mencionam em termos de seus recursos para elaboração da EN: apoio em produção historiográfica, antropológica, literária, arqueológica e sociológica que se debruçou sobre a escravidão e sobre o pós-abolição. Por outro lado, demonstra também que, sobre essa recolha de fontes, parece ter havido contundentemente muito mais um gesto de seleção e síntese do que já estava disponível do que, por exemplo, um processo de racialização do discurso encontrado nas referências consultadas. É claro que, como já discutimos na seção anterior, a EN representa uma mudança do panorama das enciclopédias, especialmente no que diz respeito ao combate à invisibilização da cor negra dos sujeitos em posição de produção do saber. De todo modo, nos parece importante considerar, conforme discutiremos no gesto analítico que segue, a estabilidade do discurso biográfico e a necessidade de sua racialização mais contundente.
Em relação a Antenor Nascentes, a novidade está na própria inclusão de seu nome no panteão de intelectuais negros brasileiros, na medida em que as biografias especializadas mais populares na área de Letras silenciam a informação de que Nascentes era um homem negro (Modesto, 2024). Associado a isso, há uma breve reflexão que especula os efeitos da escravidão na vida da família de Nascentes e em sua própria vida. Assume-se que, tendo ele nascido apenas dois anos antes da abolição da escravatura brasileira, Nascentes não poderia sentir diretamente os efeitos desse sistema social. Assim se diz que “se Antenor não vivenciou a escravidão de perto, tal realidade, provavelmente, figurou entre as percepções de seus avós, pais, irmãos, primos e tios. Decerto educação, letramento e formação intelectual representaram uma estratégia para a sua família” (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 57, itálicos nossos).
O “não vivenciou”, o “provavelmente” e o “Decerto” destacados se ligam ao restante da narrativa biográfica que, aí sim, repete sinteticamente tudo o que outras biografias já apresentaram, parecendo justificar o que prossegue no texto. Explicamo-nos: uma vez que se diz que Nascentes não vivenciou a escravidão de perto, sendo os efeitos desse sistema escandalosamente duradouro (388 anos) sentidos provavelmente apenas por seus familiares, constrói-se uma imagem na qual um dos possíveis efeitos de sentido é o fato de que Nascentes teria sido pouco afetado, se não saído ileso, em ser um homem negro em um país de clivagens raciais intensas como o Brasil. A afirmação de certeza que o “decerto” inscreve no texto sobre a importância da educação, letramento e formação intelectual no seio familiar de Nascentes reforça a ênfase em sua educação e produção bibliográfica intensa — feitos que são destacados ao longo do restante do texto biográfico apresentado —, novamente sem que pareça ter sofrido qualquer impacto negativo por sua negritude. Ao mesmo tempo, ao assinalar que houve “uma estratégia para a sua família” baseada no ingresso institucional no campo da cultura, da intelectualidade, a EN reforça o discurso de que a educação é uma saída para a subalternidade, que não encontra lastro na história dos sujeitos negros no Brasil: a regra é que a educação não é uma saída, e não o contrário.
Talvez por isso o texto enfatize sua formação, seus vínculos profissionais, sua produção (são citadas diretamente oito obras de Nascentes) e seus prêmios, fechando a biografia do intelectual em sua vida profissional quase que exclusivamente. Não há, por exemplo, menção a casamento, filhos e demais vínculos afetivos. Para além do fato de ter nascido dois anos antes da abolição, não há outros indicativos de que a negritude de Nascentes tenha impactado em sua trajetória intelectual.
Esse ponto se diferencia da biografia de Hemetério dos Santos. A biografia desse intelectual enfoca sua vida pessoal e profissional, ressaltando vínculos afetivos e sociais mais amplos. Nesse sentido, são citados não apenas sua condição de batizado como livre, como seu casamento e sua atuação pública em movimento abolicionista. De sua obra, apenas se cita O livro dos meninos, publicação de 1881, ainda que se diga que ele produziu “uma série de manuais didáticos” (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 244). Sua trajetória como homem negro é marcada seja no momento de seu nascimento, seja em sua atuação sociopolítica. Nessas condições de produção, chama atenção a formulação “Com o início da República, Hemetério conseguiu uma nomeação como professor no Colégio Militar” (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 244, itálicos nossos). Uma formulação estranha, a nosso ver, porque, diferente do que se apresenta na biografia de Nascentes, marca-se uma incerteza que orbita entre esforço anormal, “jeitinho” ou sorte diferenciada que talvez não comparecessem enquanto efeito de sentido se a formulação fosse apenas “Com o início da República, Hemetério foi nomeado como professor no Colégio Militar”.
Com essa breve análise, talvez tenha sido possível mostrar que, mesmo que a EN se marque como uma produção diferenciada, absolutamente distinta de projetos de enciclopédias anteriores, como pudemos mostrar a partir de Esteves (2023), permanecem em destaque modos de biografar que não se diferenciam de outros projetos biográficos, não comprometidos em apresentar outras narrativas de resistência. Se é possível dizer que as biografias conhecidas de Nascentes silenciaram sua negritude, enfatizando seu extraordinário percurso intelectual produtivo, não se pode deixar de notar que talvez esse procedimento discursivo de apagar a negritude e ressaltar a sua obra produza como efeito o fato de que a construção da intelectualidade brasileira é indiferente à condição racializada daquele que envereda nessa trajetória — algo que poderia, em alguma instância, amenizar o racismo do/no Brasil.
Se podemos assumir o que acabamos de dizer como procedente, não seria mais produtivo que um projeto de enciclopédia negra buscasse apresentar seu biografado de outros modos? Não se trata aqui de defender que a biografia de Nascentes devesse ser apresentada por meio de uma narrativa que vai do “negro sofredor” ao “negro vencedor”, mas de uma biografia que humanizasse e devolvesse a Nascentes algo sobre o qual não se fala: sua negritude, e não apenas como cor, mas como traço constitutivo de sua trajetória e de sua subjetividade. De igual modo, se o que se recupera comumente das biografias de Hemetério dos Santos é a sua prática militante, sua condição de homem nascido em contexto da escravidão, abolicionista aguerrido a ponto de ser considerado incômodo, não caberia a um projeto de visibilidade negra como a EN ressaltar sua obra de modo mais detalhado?
3. Considerações Finais
A análise discursiva das biografias de intelectuais negros na Enciclopédia negra, em contraste com o Diccionario biobiblographico brazileiro, nos permitiu compreender movimentos importantes — ainda que contraditórios — de reconfiguração da intelectualidade negra no Brasil. Ao se propor como obra de combate ao epistemicídio e ao silenciamento de contribuições negras na história intelectual do país, a Enciclopédia negra dá visibilidade à cor e à agência de sujeitos historicamente apagados. No entanto, nossa investigação demonstrou que a forma como esse gesto é realizado ainda carrega marcas de discursos estabilizados e muitas vezes limitantes quanto à articulação entre negritude e produção de saber.
A escolha por analisar comparativamente os casos de Antenor Nascentes e Hemetério José dos Santos permitiu demonstrar que, mesmo com a entrada de figuras negras no espaço simbólico das enciclopédias, os sentidos associados à negritude ainda são operados de forma desigual. A negritude de Nascentes é praticamente neutralizada por uma narrativa que enfatiza o mérito individual e a produtividade acadêmica sem tensionar as estruturas raciais que o cercaram. Já Hemetério dos Santos, frequentemente lembrado por sua militância, tem sua produção intelectual pouco destacada, reforçando o estereótipo do intelectual negro como necessariamente engajado e não como produtor complexo de conhecimento múltiplo.
Esse duplo movimento, que ora dissocia a intelectualidade da negritude, ora subordina a produção intelectual negra à militância, aponta para a necessidade de uma crítica mais atenta aos modos de biografar. É preciso reimaginar as formas de inscrever sujeitos negros no discurso enciclopédico de modo que não apenas suas existências sejam reconhecidas, mas que também suas trajetórias ganhem densidade, historicidade e pluralidade. Isso implica deslocar o foco da excepcionalidade individual para as redes, contextos e estratégias coletivas que possibilitaram a emergência de saberes negros, reconhecendo a negritude como categoria constitutiva das subjetividades e não como dado incidental ou obstáculo vencido.
Por fim, cumpre defender que este trabalho busca colaborar com uma agenda mais ampla dos estudos do discurso e da história das ideias linguísticas no Brasil, propondo uma inflexão crítica sobre os modos como construímos memória, reconhecimento e legitimidade intelectual. Ao assumir que a linguagem é atravessada por disputas de poder e que o apagamento discursivo da negritude tem efeitos materiais na construção do saber, apontamos para a urgência de uma “virada” nos modos de narrar a história intelectual brasileira. Resta-nos continuar investigando, resistindo e escrevendo outras formas de dizer, nas quais a presença negra não seja exceção, mas condição plena de possibilidade de saber.
Referências:
AUROUX, Sylvain. A revolução tecnológica da gramatização. Tradução de Eni Puccinelli Orlandi. Campinas: Editora da Unicamp, 1992.
BARBOSA FILHO, Fábio Ramos. O discurso antiafricano na Bahia do século XIX. São Carlos: Pedro & João Editores, 2018.
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. v. 1. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1883.v. 2, 1893.
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. v. 2. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1893.
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. v. 3. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1895.
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. v. 4. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1898.
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. v. 5. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1899.
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. v. 6. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1900.
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico brazileiro. v. 7. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902.
CARNEIRO, Sueli. A construção do outro como não ser como fundamento do ser. 2005. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1624586. Acesso em: 12 maio 2025.
CAVALIERE, Ricardo. História da gramática no Brasil: séculos XVI a XIX. Petrópolis: Vozes, 2022.
ESTEVES, Phellipe Marcel da Silva. Discurso sobre alimentação nas enciclopédias do Brasil: Império e Primeira República. Niterói: Eduff, 2016.
ESTEVES, Phellipe Marcel da Silva. Da (im)probabilidade de ser imigrante: uma leitura discursiva de “negro” e “branco” em sintagmas nominais num corpus do português. Gragoatá, Niterói, v. 22, n. 42, p. 345-369, 2017.
ESTEVES, Phellipe Marcel da Silva. Desejo de enciclopédia: o saber total. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2023.
GOMES, Flávio; LAURIANO, Jaime; SCHWARCZ, Lilia. Enciclopédia negra: biografias afro-brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
MODESTO, Rogério. Os discursos racializados. Revista da ABRALIN, v. 20, n. 2, p. 1-19, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.25189/rabralin.v20i2.1851. Acesso em: 12 maio 2025.
MODESTO, Rogério. Diferentes formas de ser intelectual negro nos estudos da linguagem entre os séculos XIX e XX: contrapontos entre Antenor de Veras Nascentes e Hemetério José dos Santos. In: AQUINO, José Edicarlos (org.). Seis ensaios em História das Ideias Linguísticas. São Carlos: Pedro & João Editores; Araguaína: EDUFT, 2024. p. 55-88.
MULLER, Mária Lúcia R. Pretidão de amor. In: OLIVEIRA, Iolanda (org.). Cor e magistério. Rio de Janeiro: Quartet; Niterói: EDUFF, 2006. p. 151-164.
PINTO, Ana Flávia Magalhães. Fortes laços em linhas rotas: literatos negros, racismo e cidadania na segunda metade do século XIX. 2014. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1624586. Acesso em: 12 maio 2025.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez Editora, 1995.
SANTOS, Hemetério José dos. Etymologias — preto. Almanaque Brasileiro Garnier: para o anno de 1905, Rio de Janeiro: B. F. Ramiz Galvão, 1905.
SILVA, Luara dos Santos. ‘Etymologias preto’: Hemetério José dos Santos e as questões raciais de seu tempo (1888-1920). 2015. Dissertação (Mestrado em História) – CEFET-RJ, Rio de Janeiro, 2015.
Data de Recebimento: 31/07/2023
Data de Aprovação: 25/08/2023
1 Em 2011, por ocasião da comemoração dos 150 anos da Caixa Econômica Federal, a instituição lançou um comercial televisivo em que um ator branco interpretava Machado de Assis: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1110201106.htm#:~:text=A%20Caixa%20Econ%C3%B4mica%20Federal%20come%C3%A7ou,interpretado%20por%20um%20ator%20branco.
2 Conferir edição da Revue Magana (no prelo) organizada por estes dois autores no site https://www.revues.scienceafrique.org/magana/.
3 Remetemo-nos ao conceito de “epistemicídio”, consoante Carneiro (2005, p. 97), para quem: “o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo comprometimento da autoestima pelos processos de discriminação correntes no processo educativo. Por isso, o epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado ou a sequestra, mutila a capacidade de aprender”.