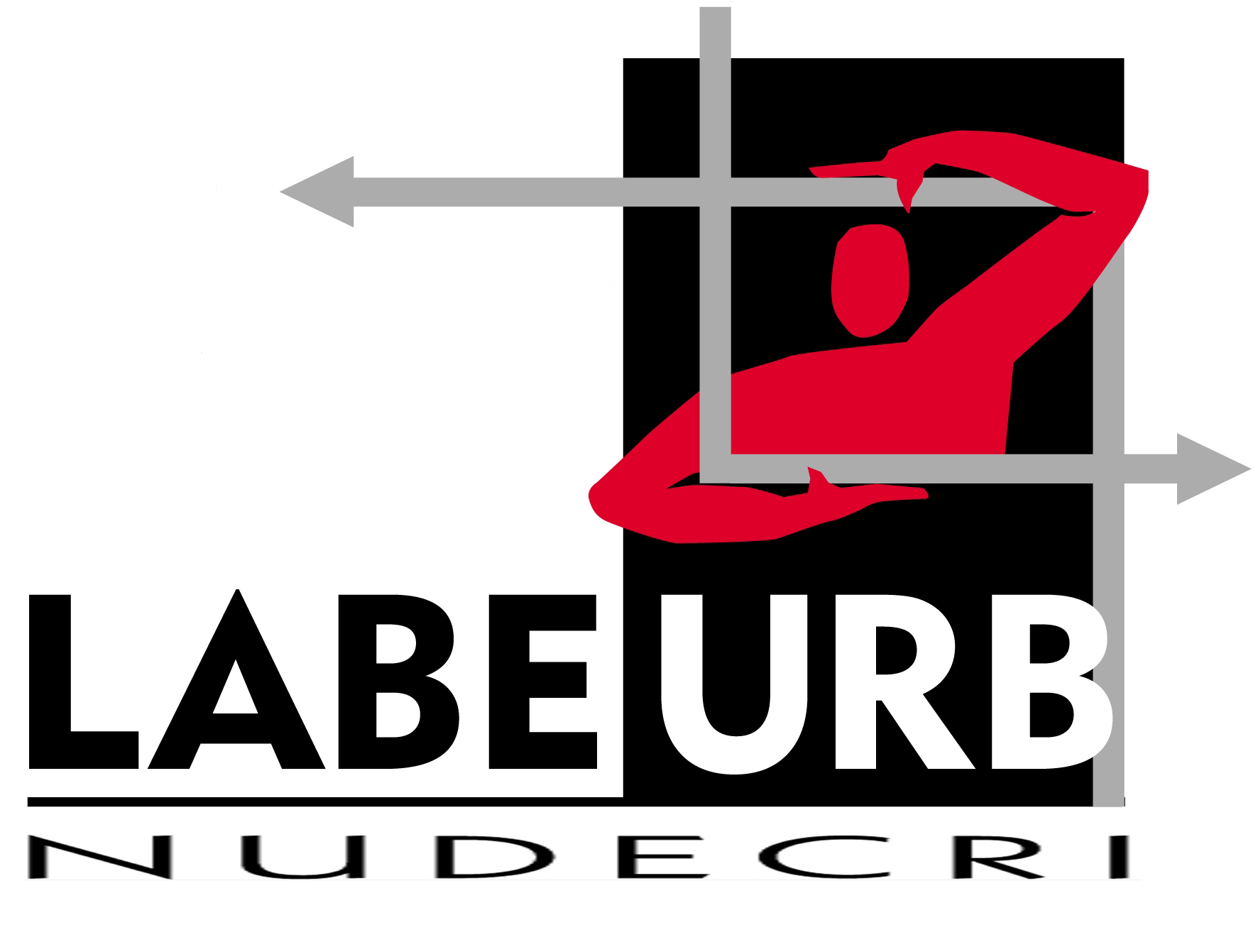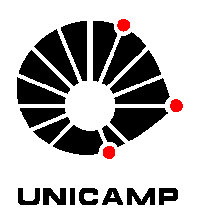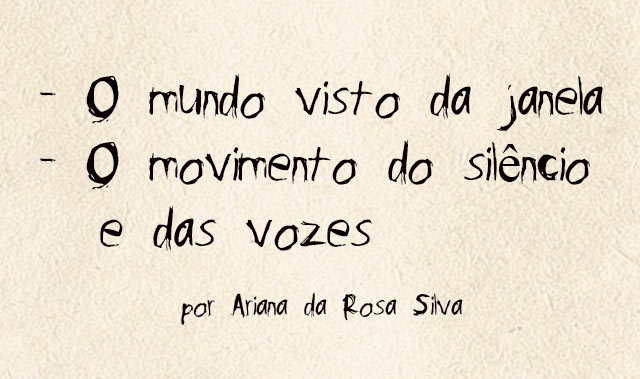Intervenções brancas na cidade multiétnica: Campinas (1888-1956)


Bárbara Campidelli Ghirello
Jane Victal
A Campinas multiétnica
O povoado que deu origem à atual cidade de Campinas, interior de São Paulo, teve sua origem por volta da década de 1720, em decorrência de um pouso de bandeirantes que, com a intenção de capturar índios e alcançar as áreas de mineração, seguiram pelos caminhos indígenas em direção ao interior do continente. O Caminho dos Guaiases, que partia de São Paulo em direção a Goiás, passava em meio à densa Mata Atlântica, por três descampados que facilitaram a instalação de paragens e posteriormente de moradias, que fizeram nascer, em 1745, o bairro das Campinas do Mato Grosso e, em 1797, a Vila de São Carlos (BADARÓ, 1996).
Foi sob o título de vila que a região começou a se mostrar influente na produção de açúcar, manifestando seus primeiros traços de riqueza e prestígio social. No ano de 1842 o povoado foi elevado à categoria de cidade e a produção de açúcar passou, gradativamente a dar lugar à produção cafeeira. Com esta nova economia Campinas se estabeleceu como uma das cidades mais ricas e bem vistas da região (BADARÓ, 1996; MARTINS, 2016).
Tanto o cultivo da cana quanto o do café demandavam grande quantidade de mão de obra para a plantação, com trabalhos que envolviam o cultivo, a colheita, o processamento da cana, a separação dos grãos, o ensaque, entre outras atividades. A população negra escravizada era praticamente a única mão de obra utilizada para estas tarefas, por isso, desde o início da economia açucareira, os senhores de engenho campineiros inseriram-se como compradores no movimentado mercado brasileiro de escravos, trazendo para a cidade uma vasta quantidade de pessoas negras diretamente da África e, principalmente depois de 1850, de outras áreas do país, tais como o nordeste, cuja produção de algodão encontrava-se em recessão (BADARÓ, 1996; MARTINS, 2016; SIMSON e SOUZA, 2013).
Com isso, a população campineira compôs-se de forma multiétnica, contando com uma grande quantidade de pessoas com ancestralidade africana. Segundo Alessandra Martins (2016), no ano de 1829 o número de negros residentes chegou a alcançar quase 60% da população do município. Estes fatos, fartamente documentados e analisados por pesquisadores como Cleber da Silva Maciel (1985) e Valter Martins (2002, 2003, 2007, 2009a, 2009b), reafirmam a nossa hipótese de que, embora sendo uma cidade amplamente divulgada e apreendida pelas narrativas como identitariamente “branca”, Campinas era, e ainda é, uma cidade multiétnica.
Afim de compreender melhor este cenário, abordaremos os processos de formação das identidades afro-brasileira e euro-brasileira, que se originaram na Campinas escravista e posteriormente constituíram a Campinas multiétnica pós-abolição.
•Aspectos sobre a Identidade afro-brasileira
Consideramos três acontecimentos como decisivos na formação de uma identidade afro-brasileira durante o período escravocrata[1]. Primeiramente as heranças culturais africanas dos diferentes grupos sociais que formavam os escravizados trazidos ao Brasil, em segundo lugar o contato destas pessoas recém-chegadas com a nova terra e os costumes que já haviam se estabelecido, e, por fim, o caráter de resistência que se deu por sua condição de escravizado e pela mentalidade extremamente racista da sociedade europeia que se instalava em terras brasileiras.
É sabido que a diversidade cultural do continente africano é bastante considerável. Segundo Kabengele Munanga, conta-se entre 800 e 2 mil línguas faladas no continente (dependendo do critério que se adote para classificá-las), o que nos dá um panorama desta diversidade, ainda que bastante limitado. Segundo o autor, existem grupos com traços culturais muito diferentes que falam línguas da mesma família linguística, tornando impossível conciliar os mapas antropológicos e geopolíticos com os mapas linguísticos da África (MUNANGA, 2009).
Sobre a herança cultural africana na formação de uma identidade afro-brasileira, porém, o historiador John Thornton, afirmou que o grau de diversidade entre os povos africanos que foram trazidos ao Brasil e sua consequente dificuldade de comunicação e relacionamento pode ser facilmente exagerado. O autor questiona até que ponto os negros escravizados eram culturalmente heterogêneos no momento em que chegaram na América. E ainda, quão bem-sucedidos eles foram ao interagir com outros africanos. Afim de responder estes questionamentos Thornton aponta para o fato de o continente africano pré-colonização ser dividido em diferentes “nações” e “países”, com delimitações nem sempre tão claras. A linguagem, neste contexto, era um dos principais meios de se reconhecer uma nação, ainda que não fosse extremamente preciso (THORNTON, 2004).
Segundo o autor, com base na linguagem é possível dividir as regiões da África atlântica que estiveram envolvidas no tráfego de escravos em apenas três zonas culturais distintas: Alta Guiné, Baixa Guiné e costa da Angola, que posteriormente poderiam ser dividas em sete subzonas. A região da Alta Guiné possuía a maior variedade linguística e, portanto, um número superior de nações. Já a Baixa Guiné possuía uma variedade um pouco menor, sendo todos os dialetos da região derivados do kwa e, portanto, com alguma semelhança entre eles, e por fim, a costa da Angola, que representa a maioria dos negros retirados da África, possuía a menor variação linguística entre as três regiões. Neste caso, sendo todos os dialetos derivados do grupo banto e bastante parecidos entre si. Segundo o autor, é possível que um falante de uma destas três últimas línguas aprendesse outra em cerca de três a cinco semanas (THORNTON, 2004).
Com isso posto, o autor desmistifica a ideia da desarticulação entre os africanos em terras brasileiras, uma vez que, sendo possível sua comunicação, estes não teriam encontrado tanta dificuldade de relacionamento. Considerando que as subzonas das quais estas pessoas vinham eram apenas sete, raros eram os casos em que africanos ficavam completamente isolados de povos com origens culturais próximas às suas. Nas cidades, em especial, onde o tráfego de pessoas era mais intenso e os escravizados tinham sua circulação menos controlada, certamente haviam pessoas da mesma nação. Nas grandes propriedades o número de escravizados também era alto, o que também aumentava as chances de encontros entre pessoas da mesma nação (THORNTON, 2004).
Ainda que houvessem diferenças entre os grupos sociais, Munanga, influenciado pelo pensamento do historiador senegalense Cheikh Anta Diop, aponta para a existência de uma unidade cultural que compõe a sociedade africana e determina noções de estado, moral, filosofia, religião, arte, entre outros (MUNANGA, 2009).
Munanga, afim de indicar a existência desta unidade, por exemplo, discorre sobre as cerâmicas produzidas por sociedades africanas. Segundo o autor é evidente que existem diversas diferenças que permitem reconhecer as cerâmicas realizadas por grupos sociais africanos, mas as suas semelhanças nos permitem classificá-las como grupo coeso. Por exemplo, se compararmos uma cerâmica feita em qualquer região da África com uma cerâmica japonesa a diferença entre as duas fica evidente. Este fato não significa, entretanto, que os traços ou formatos das diferentes cerâmicas africanas sejam todos iguais, mas sim que a disposição dos elementos ali empregados seguem determinadas regras que as permitem classificar como tendo certa origem, ou seja, sua estética possuí uma unidade (MUNANGA, 2009).
Esta unidade cultural de que fala Munanga, pode ser aplicada em diversas instâncias da cultura de um povo como sua língua, sua arte, ou sua estrutura social e familiar. Segundo Diop, algumas das características que unem as diferentes culturas africanas são a coletividade, a valorização do feminino e o uso coletivo da terra, características que certamente se transpuseram para a identidade afro-americana criada no Brasil.
A explicação de Diop para esta forma mais coletiva de organizar as sociedades no continente africano baseou-se em uma teoria, criada por ele, acerca das origens da humanidade segundo a qual, em determinado momento da Idade Antiga, a raça humana teria se dividido em dois grupos distintos, um na região meridional e o outro na região setentrional do globo. Estes teriam se desenvolvido através de duas lógicas de evolução socioeconômicas opostas, como resultado da interação com meios ambientais totalmente diferentes (MOORE, 2007).
Os povos que habitavam o chamado “berço meridional” conviviam com um clima ameno e propício para a agricultura, ambiente que gerou uma tranquilidade em relação ao futuro uma vez que a fonte de alimentos era farta e contínua. Consequentemente, esta atmosfera fez nascer uma civilização com forte teor feminino, na qual a vida comunitária, o pertencimento e uso coletivo da terra foram os fios condutores. A solidariedade, policonjugalidade e a matricentricidade também são características dos povos originários deste território, cuja mulher, por sua capacidade reprodutiva, possuí grande destaque social (MOORE, 2007).
Os povos que habitavam o “berço setentrional” (ou nórdico), por sua vez, teriam convivido com um clima bastante rigoroso, com solos gelados e pouco propícios para a agricultura, o que prolongou a dependência da caça e obrigou estes indivíduos a viverem em locais fechados. Estes povos, com isso, adaptaram-se através da competição, da guerra e do culto à propriedade individual, formando sociedades patricêntricas, militares e temerosos em relação à pessoas de outros grupos sociais que não os dele. Nestas sociedades, o homem, com sua força física (que aqui tinha muito mais valor do que no contexto meridional), são colocados como centro e a feminilidade é completamente menosprezada (MOORE, 2007; DIOP, 2014).
Embora difícil de ser observada em pesquisas empíricas, a teoria de Diop coloca luz não apenas sobre problemas da Antiguidade, mas também sobre fenômenos que podem ser observados na cultura e nos modos de ser da humanidade ao longo da história e na atualidade. Além disso, esta diferença, descrita pelo autor, que aparece sobretudo entre povos brancos e negros em diversas predominâncias, representa o ponto de partida para a reflexão que se faz sobre a dualidade étnica e indenitária apontada neste artigo.
Sobre o segundo acontecimento que consideramos importante para a formação da identidade afro-brasileira, o contato desta população africana com um novo ambiente social foi intenso. Esta troca se deu tanto entre africanos de grupos étnicos diferentes, quanto entre os africanos e portugueses, indígenas e, posteriormente italianos e espanhóis. Todos estes foram fundamentais na formação desta nova cultura e identidade cultural que se estabeleceu em terras brasileiras (SCHWARCZ e STARLING, 2015; THORNTON, 2004; RIBEIRO, 1995).
O pesquisador Robert Slenes, aponta que esta nova identidade não era nem aquela de suas origens, nem das de qualquer outro escravizado, mas sim uma mistura de todas estas, e, ainda, que a língua destes negros se transformou em um híbrido entre os diferentes dialetos africanos e o português, uma vez que conviviam a todo momento com seus senhores, seja para supervisão ou para ordens (SLENES, 1992).
Além disso, o contato com uma nova geografia, um novo clima e uma nova forma de organização do espaço social também influenciaram nesta construção. Tanto Slenes quanto a historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz e a historiadora Heloisa Murgel Starling, afirmaram que a cultura derivada daqueles grupos de escravizados levados para áreas rurais era bastante diferente daqueles levados para áreas urbanas. Os escravizados rurais tinham menos autonomia em relação àqueles que viveram em áreas urbanas, uma vez que este segundo grupo tinha mais liberdade de movimento e mais contato com outras pessoas em convívio social e situações de trabalho (SLENES, 1992; SCHWARCZ e STARLING, 2015).
Por fim, sobre o caráter de resistência deste grupo social, o embate étnico entre brancos e negros era extremamente intenso, influenciando amplamente na forma com que as relações sociais se estabeleceram e, portanto, na formação destas identidades étnicas.
A publicação do livro “Sobre a origem das espécies por meio da seleção natural”, de Charles Darwin, em novembro de 1859, desencadeou uma série de estudos por parte de alguns pesquisadores que pareciam ávidos por uma comprovação sobre a superioridade dos povos brancos. Duas vertentes de pesquisadores europeus se instauram a partir de então: uma associada à antropologia cultural, que se baseava em conceitos de civilização e progresso para afirmar a incapacidade dos povos não brancos; e outra, os darwinistas sociais, que consideravam as sociedades humanas naturalmente desiguais, tendo os povos brancos mais facilidade em alcançar estágios de sucesso social (BOLSANELLO, 1996; SCHWARCZ, 1993; MAGNOLI, 2009).
Na época, o Brasil era considerado por unanimidade entre estes pesquisadores como sendo um país miscigenado. Desta forma, o estudo das raças se deu aqui de maneira bastante intensa, uma vez que o tema estava intimamente associado à construção de uma identidade nacional e à uma preocupação com o destino da nação. Para muitos destes pensadores, uma nação mista estava, invariavelmente, fadada ao fracasso, o que os motivou no desenvolvimento de teorias acerca do assunto, propondo soluções para a questão racial do país (SCHWARCZ, 1996).
Uma das teorias mais populares foi a do embranquecimento da população brasileira. Acreditava-se, baseado nos conceitos de evolução das espécies e de superioridade dos povos brancos, que a miscigenação seria uma ferramenta de embranquecimento da população, uma vez que a seleção natural se encarregaria do “aperfeiçoamento” da raça humana. Esta teoria tornou-se extremamente popular no Brasil do século XIX, sendo inclusive credibilizada por pessoas negras (NASCIMENTO, 1978; HAUFBAUER, 2000).
Neste contexto o indivíduo mestiço era educado para adotar os modos de comportamento dos senhores, uma vez que, tanto a sociedade quanto sua própria família, enxergavam nele uma oportunidade de mudança de status social. A questão da miscigenação consistia, portanto, em um instrumento de imposição hegemônica através da identificação destes indivíduos aos interesses e valores sociais da classe dominante e da incorporação de traços de identidade alheia àquela da matriz africana (FERNANDES, 1972).
Tanto as teorias racistas europeias quanto a teoria brasileira do embranquecimento influenciaram amplamente na forma como os negros eram vistos por outros grupos sociais étnicos. Seus hábitos eram frequentemente associados às ideias de indisciplina, atraso e inadequação social. Nota-se, porém, o caráter mascarado desta discriminação no contexto brasileiro, sendo o preconceito de raça justificado através da racionalidade das teorias cientificas ou mesmo relativizado em seu teor de violência.
Esta relativização do preconceito étnico foi, e ainda é, uma das dinâmicas fundamentais para a compreensão das relações entre negros e brancos no Brasil. Aqui, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, este conflito é a todo momento mascarado pela cordialidade, que faz com que, por vezes, sua existência seja questionada. Florestan Fernandes chama este fenômeno de “preconceito de não ter preconceito”, no qual reina a crença de que o Brasil é um país livre de preconceitos de cor ou de raça (HAUFBAUER, 2000; NASCIMENTO, 1978; MAGNOLI, 2009; FERNANDES, 1972).
•Traços da identidade euro-brasileira em Campinas
Sobre a formação de uma identidade euro-brasileira, especialmente no estado de São Paulo e na cidade de Campinas nos períodos escravista e pós-abolição, apontaremos outros três fatores relevantes para a compreensão dos acontecimentos aqui apontados: o desejo por modernidade e progresso, o bairrismo e a cultura da dominação.
O desejo por modernidade e progresso nasceu como fruto de uma conjuntura histórica e social herdada da Europa, que incluiu o racionalismo iluminista, o cientificismo positivista, a industrialização causada pelas revoluções e, por fim, a ideia de evolução pensada por Darwin. O progressismo baseava-se na afirmação de que toda a humanidade invariavelmente caminhava em um sentido de evolução continua e crescente; este crescimento estaria, para aqueles que acreditavam neste conceito, apontando em alguma direção. A ideia de modernidade, por sua vez, com sua estética do “novo” pautada no desenvolvimento tecnológico e industrial, apresentava-se aqui perfazendo esta direção: a direção para o futuro. Em resumo, acreditou-se que a humanidade inevitavelmente caminhava em direção ao progresso e que este progresso estava associado à estética moderna (DUPAS, 2006; ORTIZ, 1991; IGLÉSIAS, 1981).
Ambos os conceitos, que foram quase interdependentes no período que durou entre o final do século XIX e a primeira metade do XX, tornaram-se extremamente populares no mesmo período, sendo frequentemente utilizados em discursos de jornais ou políticos, que tinham a intenção de modificar as características de uma cidade, ou seja, de “modernizá-la”. Em Campinas, este discurso se fez muito presente na construção do imaginário da cidade e revelou a mentalidade de sua classe branca neste período (GHIRELLO, 2018)
No mesmo período, este mesmo grupo de pessoas que acreditava na inevitabilidade do progresso e da modernidade para a cidade de Campinas, esteve imerso em uma segunda lógica social: o bairrismo. Segundo Flávio de Godoy Carnielli, o bairrista conhece a cidade e sua história, cultiva seus acontecimentos marcantes e, sobretudo, está imbuído do sentimento de localidade. Este sentido de afeto às coisas do lugar faz com que o bairrista ganhe credibilidade diante de outros moradores da cidade. Em sua vertente negativa, o bairrismo constrói narrativas enaltecidas, as vezes desproporcionais, sobre os valores da sua cidade e seus habitantes, que se colocam com superioridade em relação ao estrangeiro ou aos moradores de outras cidades. A modernidade, ou ser moderno e progressista ganha relevo neste tipo de narrativa (CARNIELLI, 2007).
Vale notar que, diferente das características que compuseram a identidade afro-brasileira, aquelas que formaram a euro-brasileira parecem mais difundidas socialmente, tornando-se a principal (se não a única) narrativa possível no imaginário da cidade de Campinas. Esta característica associa-se amplamente ao último fator que apontaremos aqui como parte desta identidade branca: a cultura da dominação.
Sobre este assunto, podemos rememorar a teoria e a análise de Diop sobre as culturas negra e branca. Para o autor, algumas das principais características que compõe a cultura branca são a competitividade, a guerra e o uso individualista da terra, ou seja, seu caráter de dominação (DIOP, 2014).
As intervenções urbanas brancas
A população urbana no final da década de 1930 tanto nas áreas centrais como nos arrabaldes da cidade era composta por famílias negra que encontravam soluções para os seus problemas de habitação e sobrevivência adotando modos de ser autênticos de sua condição étnica. Enquanto isso, conforme a cultura euro-brasileira se impunha política e economicamente, medidas urbanas iam sendo implantadas baseadas sobretudo no discurso modernizador. Isto é possível de ser observado por meio da análise dos territórios negros que se tornaram alvo das principais intervenções urbanas do período. Este não é um tema de fácil abordagem, embora muitos estudiosos já tenham buscado elucidar o tipo de racismo velado que permeia a sociedade brasileira.
Darcy Ribeiro aborda o lado branco da nossa sociedade da seguinte forma:
Nossa tipologia das classes sociais vê na cúpula dois corpos conflitantes, mas mutuamente complementares. O patronato de empresários, cujo poder vem da riqueza através da exploração econômica; e o patriciado, cujo mando decorre do desempenho de cargos, tal como o general, o deputado, o bispo, o líder sindical e tantíssimos outros. Naturalmente, cada patrício enriquecido quer ser patrão e cada patrão aspira às glórias de um mandato que lhe dê, além de riqueza, o poder de determinar o destino alheio (RIBEIRO, 2000, p. 208).
Por conta de seu caráter de dominação, é recorrente historicamente que um grupo de pessoas que atuam sob influência de uma cultura branca[2], executem intervenções autoritárias, impondo à toda aquela sociedade, branca e não branca, sua forma de estar no mundo. Abordaremos a seguir, algumas destas intervenções, chamadas aqui de intervenções urbanas brancas, que aconteceram na cidade de Campinas, no período entre o final da abolição e a metade do século XX, intervalo no qual a presença negra na cidade ainda é relativizada, apesar de comprovada por autores como Cleber da Silva Maciel (1985) e Martins (2016).
Foram dois os momentos de grandes intervenções na Campinas deste período. O primeiro esteve marcado por uma sequência de epidemias de febre amarela, que geraram intensa crise urbana e trouxeram como consequência diversos investimentos públicos relacionados à salubridade. O segundo, por sua vez, esteve relacionado à crise do café, à industrialização e à um desejo de modernização da cidade e trouxe como consequência a aprovação de um plano de urbanismo e uma transformação radical do centro da cidade, que incluiu verticalização, hierarquização das ruas e transformação das construções segundo preceitos modernos (FILHO e NOVAES, 1996; CARPINTEIRO, 1996).
O primeiro momento, cujo mote foram as intervenções relacionadas à salubridade, aconteceu ao final do século XIX. Neste período os motivos da existência e propagação da febre amarela não eram conhecidos. Acreditava-se que a falta de saneamento por si só fosse a causa dos surtos da doença. A municipalidade, com isso, promoveu em 1889 uma série de atividades que pretendiam diminuir a incidência da doença, tais como a aplicação de piche e irrigação das vias públicas da cidade, a promoção de fogueiras com ervas (que acreditava-se limpar o ar das impurezas da doença) e o enterro de cadáveres no período da noite, afim de evitar o contato com os habitantes (FILHO e NOVAES, 1996).
No ano de 1896 o Governo do Estado de São Paulo, preocupado com a situação epidêmica da cidade resolveu intervir criando a Comissão Sanitária, chefiada pelo higienista Emílio Marcondes Ribas, e a Comissão de Saneamento, liderada pelo engenheiro Francisco Saturnino de Brito. A Comissão Sanitária foi instalada no edifício do antigo Mercado Grande, então transformado no Desinfetório Central de Campinas, e foi responsável pela dissecação das áreas pantanosas da cidade, incluindo três largos: O Largo Carlos Gomes (inaugurado em 1896), o Largo do Tanquinho, atual Largo do Pará (inaugurado por volta de 1899) e o Largo do Jurumbeval, atual Terminal Mercado. O córrego do Tanquinho, que atualmente passa pelas ruas Barão de Jaguara, César Bierrenbach e Av. Anchieta, e o córrego Serafim, que atualmente passa pela rua Álvares Machado e pela Av. Orosimbo Maia, tiveram seus cursos retificados e canalizados formando, no segundo caso, o Canal do Saneamento (FILHO e NOVAES, 1996; CARPINTEIRO, 1996).
Já a Comissão de Saneamento promoveu algumas obras na cidade, que incluíram a execução de um novo plano de abastecimento de água, a construção de uma nova rede de coleta de esgotos e de incineração de lixos e a instalação do canal do saneamento e de outras galerias e canalização de rios que passavam pela cidade (FILHO e NOVAES, 1996).
O segundo momento de intervenções em Campinas, por sua vez, cujo mote foi a modernização da cidade, aconteceu entre as décadas de 1920 e 1950. Este período ficou marcado pelas intensas transformações da região central da cidade, além do início da construção dos bairros periféricos.
A contratação e aprovação do Plano de Melhoramentos Urbanos pareceu marcar o início desta fase de transformações. Baseado em um desejo de modernização e progresso criou-se na década de 1920, por parte de um grupo de pessoas que se diziam preocupados com o futuro da cidade, a ideia de que Campinas precisava de uma renovação através de um plano de urbanismo. Por meio da comercialização deste discurso, que convenceu uma parcela da população e se popularizou entre os textos midiáticos, foi possível a contratação, em 1934, do engenheiro Prestes Maia e a aprovação, em 1938, do Plano de Melhoramentos Urbanos, desenvolvido por ele em parceria com a Câmara Municipal (BADARÓ, 1996; CARPINTEIRO, 1996).
O Plano aprovado previa implantação gradual, que poderia durar de 30 a 50 anos. Os anos que se seguiram, portanto, foram marcados por pequenas obras na região central da cidade e, em paralelo à implantação do Plano, pela construção dos primeiros edifícios em altura da cidade e dos primeiros bairros periféricos construídos com recursos particulares. Entre as décadas de 1920 e 1940 estas mudanças aconteceram de maneira lenta e pontual. Na década de 1950, porém, todas estas intervenções foram intensificadas fazendo nascer uma cidade verticalizada, com ruas hierarquizadas e bairros periféricos. Segundo Antonio Carlos Cabral Carpinteiro, esta foi a década da transição entre a Campinas rural do café e a Campinas industrial e urbana, uma vez que a implantação de industrias, o crescimento populacional e a expansão da área urbana transformaram profundamente as características da cidade, que perdeu seu aspecto tradicional e assumiu características modernas (CARPINTEIRO, 1996).
Vale notar que todo o processo de modernização da cidade de Campinas neste período foi realizado com intenções de valorização da cidade, funcionando como um grande instrumento do setor imobiliário em expansão.
O ataque à cultura negra
Como apontamos, em ambos os momentos acima citados, as intervenções urbanas foram pensadas e realizadas por uma estrutura social que se baseava em princípios da cultura europeia e, portanto, branca. Ainda que os discursos que promoveram as intervenções estivessem pautados no argumento da melhoria para a cidade, seja em termos de salubridade, seja em termos de modernidade, tais princípios brancos (e, portanto, dominadores), certamente influenciaram a maneira como estes eventos aconteceram na cidade, gerando invisibilidade e exclusão às camadas da sociedade que não se comportavam de acordo com os valores europeus.
A forma como os cortiços foram tratados, em ambos os períodos, explicita parte deste ataque. No caso das intervenções relacionadas ao saneamento, os cortiços foram, por vezes tratados como os principais culpados pela falta de higiene da cidade, que acreditava-se constituir o motivo principal da disseminação de doenças como a febre amarela. Era comum na segunda metade do século XIX que os detentos esvaziassem suas latrinas na praça Carlos Gomes, indigentes mortos eram enterrados superficialmente, os dejetos (até a finalização da rede de esgoto em 1892) eram todos (e não somente o dos cortiços) rejeitados nas chamadas “fossas negras” ou em latrinas e depois em rios ou praças alagadiças, ou seja, o saneamento da cidade era generalizadamente precário. Os cortiços, portanto, não representavam o principal e quase único foco de falta de higiene como se popularizou. Ainda assim, este período de intervenções foi marcado pela expulsão dos moradores e demolição de diversos cortiços da cidade, especialmente em áreas alagadiças (VIGNOLI, 2005; CARPINTEIRO, 1996).
No período de intervenções relacionadas à modernidade, os cortiços foram igualmente atacados. Segundo Carpinteiro, a década de 1950 representou o desaparecimento dos cortiços da cidade de Campinas (CARPINTEIRO, 1996). Poucos são os estudos e documentos que nos permitem aprofundar os conhecimentos sobre a eliminação deste tipo de moradia no período indicado. Cabe refletir, com isso, sobre alguns motivos que podem ter desencadeado este extermínio. Primeiramente, é sabido que as intervenções relacionadas ao Plano de Melhoramentos Urbanos, que se baseavam quase unicamente na construção e no alargamento de vias e praças, trouxeram como resultado uma série de demolições. Porém, a não ser por algumas poucas construções mais significativas da cidade, não se tem registro de quais foram estes edifícios demolidos. Quais eram seus usos? Por quem eram utilizados? Sugere-se aqui que muitas destas construções serviam como cortiços para aqueles que não poderiam pagar moradias individuais. Em segundo lugar, aventa-se que a valorização da região central da cidade de Campinas, onde a maioria dos cortiços estavam instalados, decorrente das intensas transformações urbanas, tenham encarecido os alugueis e impossibilitado a permanência destes moradores.
Os cortiços constituíram, entre o final do século XIX e a primeira metade do XX, uma das formas mais comuns de habitação de negros e negras que viviam na cidade, sendo tema de pesquisa de diversos autores, tal como Raquel Rolnik (1997) e Maciel (1965). Por apresentarem alternativas de habitação mais acessíveis, os cortiços abrigavam aqueles que viviam com poucos recursos, como foi o caso dos trabalhadores livres negros, mas também de alguns imigrantes europeus, especialmente italianos.
Cabe apontar também que, por se articularem de maneira muito mais coletiva do que as habitações individuais, os cortiços se aproximavam, guardadas as devidas proporções, à forma de morar da cultura africana. Comunidades africanas ancestrais, senzalas, quilombos e cortiços tinham em comum a organização baseada na coletividade. Diversas famílias ocupavam o mesmo espaço, compartilhavam o mesmo fogo para cozinhar e se reuniam para confraternizar. É de se considerar que, nos cortiços, o espaço era um pouco mais limitado e definido pela tipologia branca de construção. Além disso as famílias e indivíduos que compartilhavam o espaço nem sempre tinham afinidade entre si, o que acabava gerando conflitos. Ainda assim, cabe afirmar que a organização e o caráter coletivo dos cortiços são heranças de uma cultura negra no Brasil, representado uma forma de habitação mais próxima dos costumes afro-brasileiros do que dos euro-brasileiros.
A perseguição destes espaços, tanto no momento das intervenções relacionadas ao saneamento, quanto no momento daquelas relacionadas à modernidade, portanto, não representou apenas uma negação à insalubridade ou ao atraso no progresso urbano, como se declarava, mas também à população negra e à uma forma de habitação não europeia.
Algumas das intervenções mais pontuais realizadas nestes períodos, também são intrigantes. No primeiro momento, por exemplo, nota-se que dois dos largos que foram drenados e posteriormente remodelados, coincidem com as regiões apontas por Valter Martins (2002, 2007, 2009a) como locais amplamente frequentados por afro-brasileiros na segunda metade do século XIX.
Segundo Martins, o Largo Carlos Gomes reuniu a população negra da cidade que frequentava o Mercado Grande com a intenção de vender produtos e arrecadar algum dinheiro para seu sustento. Além disso, os arredores desta região estavam cercados por cortiços, botequins e biombos[3] onde viviam pessoas negras. O Largo do Jurumbeval estava igualmente rodeado por biombos, cortiços e botequins, sendo, de acordo com a pesquisa do historiador, o local mais frequentado pela população negra na segunda metade do século XIX (MARTINS, 2002, 2009a).
Os projetos de drenagem e remodelação destes largos provavelmente vieram acompanhados de uma expulsão dos residentes destas regiões, uma vez que os cortiços são sempre citados como os maiores alvos das intervenções relacionadas aos surtos de febre amarela.
No caso das proximidades do Largo Carlos Gomes, outro fato também merece destaque: a instalação do Desinfetório Central de Campinas no edifício que anteriormente abrigava o Mercado Grande. Esta substituição de funções parece bastante significativa considerando a localização do edifício (em um território cercado por cortiços e bastante frequentado por negros) e sua função anterior que esteve amplamente associada ao trabalho de negros e outras pessoas menos abastadas. A instalação do Desinfetório neste local, portanto, representou simbolicamente uma limpeza, ou podemos dizer “desinfecção”, do edifício e, consequentemente, de seu entorno.
No período posterior, relacionado à modernização da cidade, entre as décadas de 1920 e 1950, vale apontar primeiramente, que a contratação, aprovação e execução do Plano de Melhoramentos Urbanos de Campinas, assim como a implantação de edifícios altos e de loteamentos, teve como objetivo principal a valorização de áreas da cidade para favorecimento de um mercado imobiliário em expansão. A adoção de traços urbanos associados à modernidade, tais como as ruas largas, os parques e os edifícios em altura, foi utilizada neste contexto como uma ferramenta de valorização da cidade. Em conjunto com estas ferramentas, utilizou-se outra muito comum nos processos de valorização urbana: a expulsão de determinados grupos sociais considerados indesejados, do território a ser valorizado. Entretanto, esta segunda ferramenta é, na maioria dos casos, utilizada de maneira velada, sendo encoberta pelo discurso que se utiliza de subterfúgios, como neste caso o foi através da suposta necessidade de modernização. Defende-se aqui a ideia de que a expulsão da população negra das áreas centrais da cidade neste período fez parte de um plano velado de valorização do espaço urbano campineiro.
Em segundo lugar, proponho uma reflexão poética com base na teoria de Diop, apresentada anteriormente, e numa lógica dual que pauta as relações ocidentais, como se segue:
Segundo Diop (2014), a humanidade atual teria se originado a partir de dois grupos, um de origem meridional (com características fortemente femininas, comunitárias e baseada no uso coletivo da terra) e outra de origem setentrional (com características fortemente masculinas, individualistas e baseada na disputa por território). O grupo meridional, segundo Diop, teria originado os povos africanos, enquanto que o grupo setentrional, os europeus. Nesta lógica, os povos de origem africana e os de origem europeia encontram-se, num raciocínio ocidental, em dois polos opostos, sendo simbolicamente duais, o primeiro mais afinado com a polaridade feminina e o segundo mais afinado com a polaridade masculina.
A isso uniremos outros conceitos que, no contexto das relações ocidentais são entendidos como duais: urbano e rural ou cidade e campo ou ainda civilidade e rusticidade. Nestas definições, relacionadas à existência ou ausência de urbanidade, cidade, urbano e civilidade somam-se às características de masculinidade, portanto europeias, enquanto que rural, campo e rusticidade se unem às características de feminilidade, portanto africanas.
Sendo o processo de modernização da cidade de Campinas também um processo de urbanização e, mais ainda, de afirmação da urbanidade, tal como afirma Carpinteiro (1996), as transformações pelas quais passou a cidade de Campinas foram, de alguma forma, uma afirmação à cultura de origem europeia e, na mesma medida, negação da cultura de origem africana. Deste modo, independentemente de qualquer expulsão de população negra que tenha havido neste período, a primeira metade do século XX e todos os seus projetos e intervenções urbanas representaram, para a cidade de Campinas, um processo de eliminação da cultura negra.
Outro acontecimento mais pontual reforça o caráter racista[4] das intervenções em questão, tal como a demolição da Igreja do Rosário. A igreja foi inaugurada em 1817 com a intenção de abrigar a população negra e mestiça da cidade, impedindo-a de frequentar a Igreja do Carmo, então matriz da cidade. Por motivos de reformas na Igreja do Carmo, porém, a igreja do Rosário de Campinas serviu por duas vezes como igreja matriz para a cidade, ocasiões nas quais os negros e mestiços foram impedidos de permanecer na irmandade. Este fato, porém, não os impediu de frequentarem o largo e as escadarias da igreja, aonde continuaram acontecendo manifestações culturais de origem africana (RICCI, 2007).
Segundo Maria Lúcia de Souza Rangel Ricci, a construção foi realizada de maneira precária, o que ocasionou diversas reformas e modificações. Fato este que foi utilizado como argumento para sua demolição em 1956, que teve como fundamento a ampliação da Av. Francisco Glicério, prevista no Plano de Melhoramentos Urbanos realizado por Prestes Maia (RICCI, 2007).
O ideário do progresso foi utilizado por jornais da época para justificar a demolição, em concordância com o que apontamos anteriormente sobre a utilização desta premissa como um pretexto para modelar a cidade às regras daqueles que se grupo de pessoas brancas e detentoras de um poder dominador. Neste caso, o valor cultural da Igreja do Rosário como espaço de encontro e manifestações negras foi desconsiderado em detrimento da vontade dos governantes e de seu desejo por modernização e progresso.
Com isso, concluímos-me que a cultura e identidade euro-brasileiras, com seu senso de dominação e poder, se impôs e coagiu a cultura e identidade afro-brasileira, fazendo nascer um ambiente urbano campineiro marcado pela identidade branca e pela invisibilização da negritude no que diz respeito aos corpos negros e, também, à cultura que se criou em território brasileiro a partir de uma ancestralidade africana.
Além disso, construiu-se a partir das ações deste grupo dominante, uma ideia de inevitabilidade relacionada à consolidação do espaço urbano e ao crescimento das cidades brasileiras, inclusive de Campinas, no qual a urbanização moderna, com sua estética, densidade e organização sócio espacial, foi inserida no imaginário urbano como um feito essencial para o bem-estar da cidade. Outras possibilidades de estética, densidade e organização sócio espacial, com isso, foram completamente desconsideradas.
Concluímos também que existe uma relação direta entre planejamento urbano e invisibilização de territórios específicos da cidade e que, através de ferramentas como o planejamento e a gestão urbana, as elites dominantes impõem sua cultura à cidade, deslegitimando as demais.
Dessa maneira, a ideia de memória, conteúdo dificilmente contemplado nas análises sobre o urbano, apresentam-se aqui de forma expressamente concreta e fundamental para uma compreensão mais detalhada das dinâmicas territoriais da cidade de Campinas.
Citações e referências
BADARÓ, Ricardo. Campinas: o despertar da modernidade. Área de Publicações do Centro de Memória da Unicamp - CMU, Campinas, 1996.
BOLSANELLO, Maria Augusta. Darwinismo social, eugenia e racismo “científico”: sua repercussão na sociedade e na educação brasileiras. Editora da UFPR - Educar nº12. Curitiba, 1996.
CARNIELLI, Flávio de Godoy. Gazeteiros e Bairristas: Memórias e Trajetórias de três memorialistas urbanos de Campinas. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de História do IFCH/UNICAMP. Campinas, 2007.
CARPINTEIRO, Antonio Carlos Cabral. Momento de ruptura: as transformações no centro de Campinas na década do cinquenta. Centro de Memória da Unicamp. Campinas, 1996.
DIOP, Cheickh Anta. A unidade cultural da África negra: esferas do patriarcado e do matriarcado na antiguidade clássica. Tradução de Sílvia Cunha Neto Edições Pedago. Odivelas, Portugal, 2014.
DUPAS, Gilberto. O mito do progresso. São Paulo: UNESP, 2006.
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. DIFEL, São Paulo, 1972
FILHO, Lycurgo de Castro Santos e NOVAES, José Nogueira. A febre amarela em Campinas 1889-1900. Centro de Memória da Unicamp. Campinas, 1996.
HAUFBAUER, Andreas. Ideologia do Branqueamento: Racismo à brasileira, in: Atas do VI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Porto, 2000.
MACIEL, Cleber da Silva. Discriminações raciais: Negros em Campinas (1888 – 1926) alguns aspectos. Dissertação de mestrado. Departamento de História. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Unicamp. Campinas, 1985.
MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de sangue: história do pensamento racial. Editora Contexto. São Paulo, 2009.
MARTINS, Alessandra. Matriz africana em Campinas: territórios, memória e representação. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Campinas, 2016.
MARTINS, Valter. Comida, diversão e liberdade. Os tanguás de Campinas no final da escravidão. Revista Urbana; ano 2; nº 2. Irati, 2007.
MARTINS, Valter. Nos arredores do Mercado Grande: mudança urbana e agitação social em Campinas na segunda metade do século XIX. Oculum Ensaios; Revista de Arquitetura e Urbanismo. Campinas, 2002.
MARTINS, Valter. O mercado das hortaliças e a cadeia. A intensa vida social em um pequeno espaço da cidade. Campinas, século XIX. ANPUH – XXV Simpósio Nacional de História. Fortaleza, 2009a.
MARTINS, Valter. Pelas ruas, de porta em porta. Verdureiros, quitandeiras e o comércio ambulante de alimentos em Campinas na passagem do Império à República. Revista de História Regional. 14(2). Ponta Grossa, 2009b.
MARTINS, Valter. Policiais e populares: educadores, educandos e a higiene social. Cad. Cedes; vol. 23; nº 59. Campinas, 2003.
MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. Companhia das Letras. São Paulo, 1994.
MOORE, Carlos. Racismo e sociedade: novas bases epistemológicas para entender o racismo. Mazza Edições. Belo Horizonte, 2007.
MUNANGA, Kabengele. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, culturas e civilizações. Editora Global. São Paulo, 2009.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Editora Vozes. Petrópolis, 1999.
NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1978.
ORTIZ, Renato. Cultura e modernidade: a França no século XIX. Editora brasiliense. São Paulo, 1991.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. Companhia das Letras. São Paulo, 2000.
RICCI, Maria Lúcia de Souza Rangel. Religiosidades, Cultura e Sociabilidade Em Algumas Antigas Igrejas e Largos de Campinas (SP): Santa Cruz, São Benedito e Rosário. ANPUH – XXIV Simpósio Nacional de História. São Leopoldo, 2007.
ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. Studio Nobel, 1997.
SCHWARCZ, Lilia K. Mortiz. Usos e abusos da mestiçagem e da raça no Brasil: uma história das teorias raciais em finais do século XIX. Afro-Ásia 18 (1996), 77-101. Salvador, 1996.
SCHWARCZ, Lilia Moritz e STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. Companhia das Letras. São Paulo, 2015.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-1930). Companhia das Letras. São Paulo, 1993.
SILVA, Kerollaynne Ketry e ALMEIDA, Suely. C. Monções e bandeiras – um breve comparativo social, econômico e geográfico sobre a exploração territorial na América portuguesa. JUPEX 2013 – UFRPE. Recife, 2013.
SIMSON, Olga Rodrigues de M. Von e SOUZA, Carlos Roberto Pereira de. O samba em Campinas: sua evolução e diversificação ao longo do século XX. X Encontro Regional Sudeste de História Oral – Educação das Sensibilidades: Violência, desafios contemporâneos. Campinas, 2013.
THORNTON, John. A África e os africanos na formação do mundo Atlântico, 1400-1800; tradução de Marisa Rocha Mota. Editora Campus. Rio de Janeiro, 2004.
VIGNOLI, José Antonio Penteado. A Campinas do Dr. Vieira Bueno: o médico dos pobres e seu sucesso. Gráfica e Editora Teclatipo Ltda. Campinas, 2005.
Data de Recebimento: 13/03/2018
Data de Aprovação: 27/04/2018
[1] Ainda que o recorte do artigo seja o período posterior à abolição, consideramos que o período escravocrata foi decisivo na formação desta identidade.
[2] Sejam as pessoas que compõe este grupo de fato brancas ou não.
[3] O termo biombo é frequentemente utilizado por Martins (2002, 2003, 2007, 2009a, 2009b) para se referir aos cortiços ligados à prostituição.
[4] O termo incluí aqui não apenas o preconceito relacionado às pessoas de determinados grupos raciais, mas também de sua cultura e todos os traços que ela inclui, tais como a forma de morar, de utilizar o espaço público, de se relacionar, e assim por diante.
1
Exibindo 1 de 1