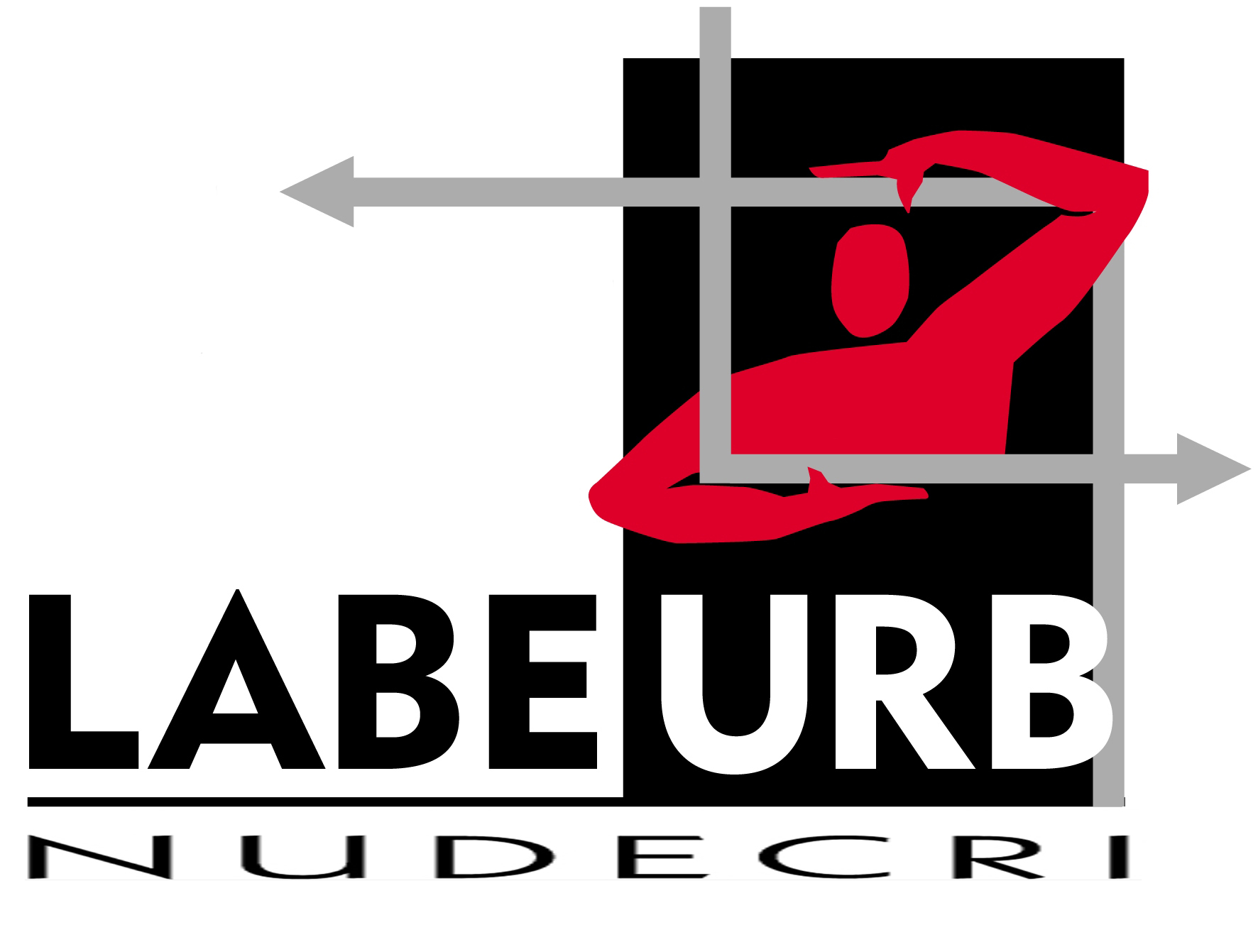A origem das línguas e suas implicações


Eni Puccinelli Orlandi
Ciência e Religião sempre buscaram respostas para duas questões: a origem e o destino (fim) de tudo. Aí se juntam para nós duas outras injunções: a da unidade (pureza) e a da diversidade (degradação). Na perspectiva em que nos colocamos tanto as questões sobre a origem como sobre o desaparecimento, quando se trata das línguas, podem-se dar em processos de mistificação, enquanto especulações.
No entanto, podemos, sem dúvida, tornar esse assunto mais interessante se pensarmos o que de representação e de ciência pode existir nessa relação com a linguagem, quando o pretexto é a questão da origem.
Nesse sentido, algumas questões nos chamam a atenção. Por exemplo, a de que a questão sobre a origem possui um caráter operatório na teorização da língua. Nesse caso, qual ou quais são eles e em que quadros teóricos e históricos funcionam? Assim como a questão que coloca se origem, gênese e história são sinônimas na abordagem da linguagem2. A esta questão temos pronta resposta: não. Origem, gênese e história não são a mesma coisa. E aqui trataremos do que se convencionou chamar “origem”.
Falta ainda dizer que trataremos de uma situação marcada pela dualidade, pelo equívoco: a questão da origem da língua quando se pensa um país de colonização, o Brasil. Por que equívoco? Porque, na forma ambígua em que se dá essa situação, temos duas faces: a que se estabelece em relação às línguas indígenas e a que se dá em relação à língua imposta pelo colonizador, a língua portuguesa de Portugal. E já adiantamos que não supomos que a língua brasileira é resultado da simples junção de uma tradição com a outra.
Como veremos no desenvolver deste trabalho, quando se pensam as línguas indígenas, a relação com a origem das línguas se faz por representação, em narrativas míticas. A origem da língua, quando pensamos o português, desemboca na relação com a colonização e, temos assim a relação da língua que falamos com as línguas indígenas e com a língua imposta pelos colonizadores portugueses, ou seja, uma língua outra, o português de Portugal. Nesse caso, não se trata de uma narrativa mítica, mas de formas diversas de relação: com os relatos de viajantes e missionários (colonização), com o período da gramatização (Império e República) que nos contam histórias de nossas origens.
Vamos iniciar nossa reflexão trazendo uma das faces dessa dualidade, a da existência da cultura e das línguas indígenas. E vamos transcrever dois dos seus relatos míticos.
Os Índios e seus mitos de origem
Entre os Bakairi (cf. tese de doutorado de Tânia C. C. de Souza, 1994) diz-se que foi Xixi (o deus sol) quem deu armas de fogo para os brancos e flechas para os índios. Assim também foi ele quem deu uma língua para os brancos que é diferente da língua que deu para os índios. Além disso, e este é um fato interessante, há entre os Bakairi duas línguas: a língua de antigamente e que é de uso exclusivo do pajé e a língua de hoje falada por todos os índios do grupo. A língua do pajé serve para ele falar com os bichos, com as aves, com as almas etc. Por exemplo, o sapo é metamorfose de um ser do mal, o Kado. Mas nem todo sapo é Kado. Para saber, o pajé conversa com ele e pode distinguir se ele é ou não Kado. Essa língua assegura, portanto, uma forma de conhecimento só pertencente aos pajés. Essa é a forma de representação desses índios com a língua. Para os Guarani também há as palavras secretas enunciadas apenas pelo pajé. Nos Tikuna, a língua é criada ao lado dos objetos, das danças etc. Já no México, os Aztecas tinham o Deus da palavra; este Deus pode ser compreendido em paralelo com a mitologia greco-romana, correspondendo a Mercúrio, patrono da Comunicação.
Mas vejamos agora um mito indígena brasileiro que fala diretamente da origem da língua. É um mito dos Makurap. Este mito me foi fornecido por uma aluna, Ivania Neves Corrêa, que trabalhava com um mito Tapirapé que é o “caminho da anta” e que na verdade representa a Via Láctea. Mas vejamos o nosso mito Makurap (do sul de Rondônia).
Segundo este mito, no início do mundo as pessoas moravam dentro da terra e só existia uma língua, o Makurap. Até que um dia, um fato inesperado deu início a um novo momento na história dos homens e das línguas. Um relâmpago muito forte parte uma enorme pedra e neste momento nascem dois índios, os filhos da pedra. Chamam-se Waleyat que quer dizer, em Makurap, os filhos da pedra. Eles queriam encontrar outras pessoas, mas isso nunca acontecia. Os dois passaram a deixar milho para os animais comerem. Um deles, o mais esperto, fez uma tocaia e viu que uma pedra começou a se erguer. A pedra dava acesso ao mundo dentro da Terra. Era um portal encantado. Várias mãos saíram dela para recolher o milho. Em seguida, depois de algumas peripécias, em que o índio menos esperto fez algumas trapalhadas, o índio mais sábio criou muitas casas. Para estas casas veio muita gente, todos os povos indígenas e até os não-índios. O irmão mais sábio decidiu ensinar às pessoas que vieram de dentro da terra a língua Makurap, que era a sua língua. Para isto pediu a ajuda do outro irmão. Colocaram o pessoal em fila e um foi para um lado e o outro para o outro lado. Quando o irmão mais sábio chegou no meio da fila, viu com desespero que seu irmão menos esperto havia ensinado não só o Makurap mas também as línguas Jabuti, Urudão, Suruí, Tembé, Tupari, português, inglês. Enfim, as línguas de todos os povos do mundo. As pessoas falavam línguas diferentes e já nem se entendiam direito. Como o irmão pudera contrariá-lo tanto! “Não era para ensinar assim, diz ele! Era só uma língua, era só o Makurap”. Em vão o irmão mais sábio ainda tentou ensinar a todos a língua Makurap. Mas já era tarde, as outras línguas já faziam parte da cultura de todos os outros povos.
Não há, penso eu, como não fazer um paralelo com a representação da diversidade das línguas e a Torre de Babel. Inclusive porque as línguas acompanham a construção das casas onde vão viver as pessoas que saíram pelo Portal encantado do seio da Terra.
Como se vê, portanto, há uma representação de origem das línguas indígenas, que, no caso que apresentamos, a do Makurap, se assemelha ao mito de Babel. Mito que fala da diversidade das línguas, ao mesmo tempo que afirma a importância de se ter “uma” língua, a sua língua.
Com estes exemplos procuramos referir a forma como os Índios representam a origem de suas línguas. Relato mítico, representação. Com alguma interferência que nos mostra, no vestígio do contato, a relação com nossas representações bíblicas.
Os ocidentais: representação e ciência
Passemos agora para a relação com a língua do colonizador. Dividiremos esta relação em duas fases: (a) a da inscrição das línguas nos relatos de missionários e de viajantes; (b) a gramatização (o brasileiro).
No item (a) veremos que ainda há, já dentro do processo de ocidentalização, uma certa dualidade em que joga um certo deslimite entre ciência e representação.
Considerando as condições de produção em que podemos pensar a questão da origem da língua neste período – o da colonização - precisamos referir inicialmente, e de modo breve, ao fato da constituição da língua brasileira. No Brasil, no processo de colonização, desde seus inícios, diferentes maneiras de dizer, no interior de diferentes memórias locais, foram sendo produzidas, constituindo assim outra materialidade linguística com discursos e modos de significar diferentes, produzindo a língua brasileira com sua historicidade própria. Se é esse o real da língua, é interessante observar como os europeus estabeleciam um contato, via colonização, com este estado de coisas.
inscrição das línguas nos relatos de missionários e de viajantes no período colonial: uma representação da origem
Como observava em 1992 (Les Amériques et les Europeens: un clivage de sens ou La danse des gramaires), os discursos dos missionários e dos viajantes europeus no Brasil se apresentam como o lugar de uma divisão de sentidos em que se pode observar: (a) o modo como os europeus sistematizam sua novas experiências e seus conhecimentos produzindo sentidos lá mesmo onde não havia ainda sentidos estabelecidos e (b) a construção de um discurso “outro”, isto é, de um discurso sobre a origem, para os brasileiros. Assim, esta partição de universos discursivos guarda sempre essa sua pluralidade, administrados muitas vezes pelas relações de força estabelecidas no confronto destes dois mundos, o Antigo e o Novo, com suas diferentes impressões (marcas) históricas e, eu acrescentaria, de representação. Procuraremos expor aqui a perspectiva dos americanos, ou como diziam os franceses naquela época (E. Orlandi, idem) “des Amériques”.
Observando os Relatos dos missionários, há, do ponto de vista discursivo, a aliança de três discursos: o da ciência, o da política e o da religião. Eles são três maneiras de domesticar a diferença: pelo conhecimento, pela mediação das relações de força e pela Salvação. A ciência torna o novo mundo observável e, assim, compreensível, ou pelo menos interpretável, e sua cultura legível. A política o torna administrável. E a religião o torna assimilável, adaptável.
Cabe perguntar, em relação à língua, como ficam suas formas de representação.
Em um jogo em que o que domina é o português sobre as línguas indígenas aqui faladas, produz-se imaginariamente a forma de uma unidade: o português como língua de origem, apagando-se todas as outras. Ainda que os missionários tenham disciplinado o Tupi a fim de instalar o poder de controle sobre os índios e estabelecer seu poder de negociação com os portugueses, produzindo assim o tupi jesuítico, língua geral, falada em todo o Brasil, mas jamais legitimada. Mesmo porque os padres, os viajantes, os pesquisadores da época, no momento mesmo em que falavam as/das línguas indígenas elaboravam uma etnografia, em que a representação da língua desempenhava um papel importante: o de mostrar uma língua sem sistematicidades, pobre, estigmatizada. Uma língua indígena, com raras exceções, era representada como incapaz de desenvolvimento interno, matéria inerte, sem história.
Como disse mais acima, no entanto, esses Relatos serviam, além de nos dar uma representação imaginária de origem deste país, das línguas que se falavam, também uma forma rudimentar de conhecimento. Um saber que nos informa sobre a língua, os costumes desses habitantes. Uma espécie de “disciplina” que se inscreve no interior dos Relatos, e mesmo um certo “modelo” de descrição nos catecismos, nas listas de palabras, na compilação de canções etc. Nos relatos dos viajantes, não há muita diferença, a não ser por serem menos utilitários. Jean de Léry, por exemplo, fazia anotações sobre a língua. Mas nem assim podemos dizer que passamos de uma representação para uma modalidade de conhecimento formal.
Eles tinham um fim didático na situação de contato e visavam a assimilação desses “outros” à língua e cultura europeias. Podemos dizer que temos aí o germe de uma ciência mas não uma ciência.
Com os viajantes cientistas – como St Hyllaire, no século XIX – há um método de observação científica e deixamos de ter narrativas nos Relatos para termos descrições. Isso já nos fins do século XVIII e início do XIX, nos textos dos naturalistas. Mas as afirmações são impresionistas e não chegam a se sistematizar como ciência. E os textos que temos são sempre obra de estrangeiros que falam sobre nós. Logo, o que temos, em relação à língua, é só uma referência à nossa origem contada por europeus. O que lhes interessava era estabelecer bancos de dados (no período do neo-colonialismo europeu). Mesmo quando temos a produção de uma gramática (a de Anchieta, por exemplo), nos inícios da colonização, não se trata de um brasileiro, mas de um jesuita português. Representação (onde o imaginário ainda está muito presente) e ciência estão ainda muito próximos.
Só com o romantismo – época de D. Pedro II- é que há certa mudança nesta perspectiva.
O século XIX: a independência do Brasil e a produção por brasileiros sobre a língua
A partir do século XIX a produção sobre a língua é feita por brasileiros para brasileiros. O que muda não só a relação que temos com a língua, como o sentido que ela passa a ter, e o modo como nos relacionamos a ela: não é mais só uma representação mas uma forma de conhecimento que a legitima como “nossa”. Esse pode ser considerado um outro momento da origem. Mas é sobretudo uma ruptura com o processo discursivo que nos indicava, através de representações e rudimentos de conhecimento, uma nossa origem outra: a que nos colocava como falantes da língua que se fala em Portugal.
Como já referimos, nossa língua, desde a chegada dos portugueses, começa a se transformar. Quando, no século XIX, nossos gramáticos assumem a posição de um saber linguístico que não reflete meramente o saber gramatical português, momento da irrupção da República, a gramática, dessa perspectiva, é o lugar em que se institui a visibilidade de um saber legítimo para a sociedade brasileira e torna visível a língua que falamos. Língua brasileira.
Ao deslocar para o território brasileiro a autoria da gramática – a gramática continua na maior parte das vezes a se chamar Gramática Portuguesa (cf. Júlio Ribeiro, 1881) ou Gramática da Língua Portuguesa (cf. Pacheco Silva e Lameira de Andrade,1887) – o que os gramáticos brasileiros estão deslocando é a autoridade de dizer como é essa língua. Ser autor de uma gramática é ter um lugar de responsabilidade como intelectual e ter uma posição de autoridade em relação à singularidade da nossa língua no Brasil.
Nestas filiações teóricas que começam a se estabelecer, vemos um processo de re-significação, de historicização, tanto da língua quanto do saber sobre ela.
A unidade do Estado se materializa em várias instâncias institucionais. A gramática, como um objeto histórico, um instrumento linguístico, disponível para a sociedade brasileira, é assim lugar de construção e representação dessa unidade e dessa identidade (Língua/Nação/Estado), através do conhecimento.
Júlio Ribeiro, por exemplo, recusa a tradição estabelecida pelo português Jerônimo Soares Barbosa, ao definir a gramática como “exposição metódica dos fatos da linguagem”(grifo nosso), considerando que o que Jerônimo Soares Barbosa faz é uma metafísica. Ao fazer isso Júlio Ribeiro faz um gesto fundador que constrói uma filiação à qual os gramáticos brasileiros farão referência sistemática.
Por este gesto, Júlio Ribeiro está afirmando uma nossa origem, a que resulta de uma ruptura no processo de colonização.
Desse modo, a identidade linguística, a identidade nacional, a identidade do cidadão na sociedade brasileira trazem entre os componentes de sua origem a gramatização no século XIX.
Com a Independência, em 1822, o Estado brasileiro se estabelece e a questão da língua toma vulto. Um exemplo disto é o fato de que, em 1826, já se coloca a discussão, a partir de um projeto proposto no Parlamento, portanto por meio do poder constituído, de que os diplomas dos médicos devem ser redigidos em “linguagem brasileira”. Muitos consideram este um momento marcante da origem da nossa língua, a língua brasileira. Então já nomeada. Há uma consequência mais substancial e definidora: a constituição de um sujeito nacional, um cidadão brasileiro com sua língua própria, visível na gramática. Individualiza-se o país, seu saber, seu sujeito político social e suas instituições.
Mas a ciência não é imune aos processos de representação que instalam seus sentidos, pelo imaginário, pela ideologia. Com a língua já legitimada, no que se segue da história da língua, temos, nos anos 50 do século XX a instituição, por decreto, da NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira, 1959), estabelecendo a homogeneidade de uma terminologia que desautoriza o gramático e desloca a autoria do conhecimento (e legitimidade) da língua para o linguista. O gramático por sua vez passa a ter a função de guardião da norma, árbitro na divisão de quem sabe e quem não sabe a língua. Ele divide o que é e o que não é da norma, o que é e o que não “correto”.
Como consequência, em face da relação com a norma, produz-se um deslizamento ideológico, sobretudo nas escolas, que é o imaginário da preservação da pureza da língua. E, no equívoco da ideologia da colonização, escorrega-se facilmente para a representação de que a língua verdadeira, a pura é a língua portuguesa, de Portugal, nossa origem, sendo a nossa, um português mal falado. Esquece-se, – e não estou falando de esquecimento no domínio psicológico, mas ideológico, discursivo - desse modo, todo o processo de gramatização. Passa-se, assim, em retorno, do conhecimento para uma representação, no trabalho ideológico da colonização. E a origem da língua, que realmente falamos, novamente nos é usurpada. Todo esforço histórico se esfumaça nesse imaginário da ideologia da colonização. Mesmo se, como veremos, o processo de descolonização linguística é uma realidade que se impõe a todo brasileiro. Falamos a língua brasileira, filiada ao português, como este é filiado ao latim. As línguas mudam.
Conclusão
Para finalizar, gostaria de dizer que há ainda, entre os índios, um fato interessante, face a esta questão da relação entre ciência e representação. Este fato, como veremos, nos mostra que não há um sentido só que vai da representação para a ciência, mas um movimento contínuo entre ciência e representação.
Os índios têm um mito (Bessa Freire, 2001) em que eles representam a escola e com ela a escrita. Ou seja, uma representação de como a ciência entrou para suas vidas.
“Contam os andinos que Deus teve dois filhos: o Inka e o Sucristo. Inka, por sua vez, teve dois filhos e Sucristo ficou com muita inveja. A lua para ajudá-lo deixou cair um papel com coisas escritas nele. Sucristo, querendo assustar o irmão, mostrou-lhe o papel. Inka ficou com tanto medo que fugiu para longe. Como não podia pegá-lo, Sucristo começou a chorar. Então o puma reuniu outros pumas, perseguiu Inka e, enquanto ele agonizava pois não conseguia comer, Sucristo matou a mulher dele. Depois mandou construir duas Igrejas, onde mora. Quem ficou feliz quando soube da morte foi Ñaupa Machu, que vivia numa montanha chamada Escola. Quando Inka era vivo ele era obrigado a ficar escondido e agora podia aparecer. Atraídos por Ñaupa Machu os filhos de Inka foram a Escola em busca de notícias dos pais. Mas Ñaupa Machu queria era comê-los. Os meninos desconfiados, fugiram, e desde essa época as crianças são obrigadas a ir para a escola. Mas, como os dois filhos de Inka, elas não gostam da Escola, fogem dela. Onde estão os dois filhos de Inka? Dizem que quando o mais velho estiver crescido vai voltar. Este será o dia do Juízo final. Mas não sabemos se ele poderá mesmo voltar. As crianças, os meninos, devem procurá-lo, já estão procurando, talvez o encontrem. Mas onde ele pode estar? Talvez em Lima, talvez em Cuzco, quem sabe? Se não o encontrarmos, ele poderá morrer de fome como o Inka seu pai. Será que ele vai morrer de fome?”
Ora, aí temos a representação de uma instituição do conhecimento – a Escola – e seu instrumento principal – a escrita. Como disse mais acima, não há uma direção só em que passamos da representação para a ciência, mas sim um movimento contínuo entre ciência e representação.
Para finalizar, enfim, podemos dizer agora em relação às indagações postas no início que a questão de origem possui um caráter operatório na teorização da língua. Nesse caso, que exploramos em nossa exposição, elas funcionam no quadro teórico da análise de discurso e a história das ideias linguísticas, no trabalho de arquivo. Pensando assim no método que este objeto supõe, é que podemos apreender o fato de que há um jogo na relação entre ciência e representação. Além disso, países de colonização, dada a necessidade de, na sua história linguística, dispor de um processo de descolonização, necessita de instrumentos teóricos diferenciados – no nosso caso, discursivos – para poder apreender os efeitos de sentidos produzidos nessa relação entre conhecimento e imaginário, para compreendermos o que afinal é esta questão de origem.
No Brasil, a pluralidade linguística e cultural, como dissemos, é uma marca de nascença, politicamente significada. Assim como nossa biodiversidade. E, em razão da relação da língua ao Estado, isto não significa que não temos, como qualquer outro país, uma identidade ideal face à nossa diversidade linguística concreta. Ao falarmos a língua brasileira, como língua nacional e oficial, nós coexistimos em nosso cotidiano com muitas outras línguas e somos ao mesmo tempo falantes de uma língua latina, de uma língua que se inscreve na história europeia da língua portuguesa, fazendo parte de grupos que falam línguas românicas. Esta ambiguidade nos dá uma particularidade linguística politicamente significativa. Melhor seria, então, falar em origens da língua. No plural.
Referências
FREIRE,J.R.Bessa “A representação da escola em um mito indígena”, in Teias, UERJ, ano 2, no.3, Rio de Janeiro, 2001.
ORLANDI, E. P. Interpretação, Petrópolis: Vozes, 1996.
ORLANDI, E. P. Língua e Conhecimento Linguístico, São Paulo: Cortez editora, 2002.
ORLANDI, E. P. Terra à Vista, São Paulo: Cortez/Unicamp, 1990.
ORLANDI, E.P.« Les Amériques et les Europeens: un clivage de sens » ou « La danse des gramaires », in Cahiers de Praxématique, Montpellier, 1992.
PÊCHEUX, M. “Ler o Arquivo Hoje”, in Gestos de Leitura, Campinas: Unicamp, 1981.
SOUZA, T.C.C. Tese de Doutorado “Discurso e Oralidade: um estudo em língua indígena (Bakairi)”, DL/IEL, Campinas: Unicamp, 1994.
1 Fizemos uma exposição sobre esse assunto na École Doctorale de que participamos em Porquerolles, França.
2 Unicamp/Unemat/CNPq. E-mail: enip@uol.com.br