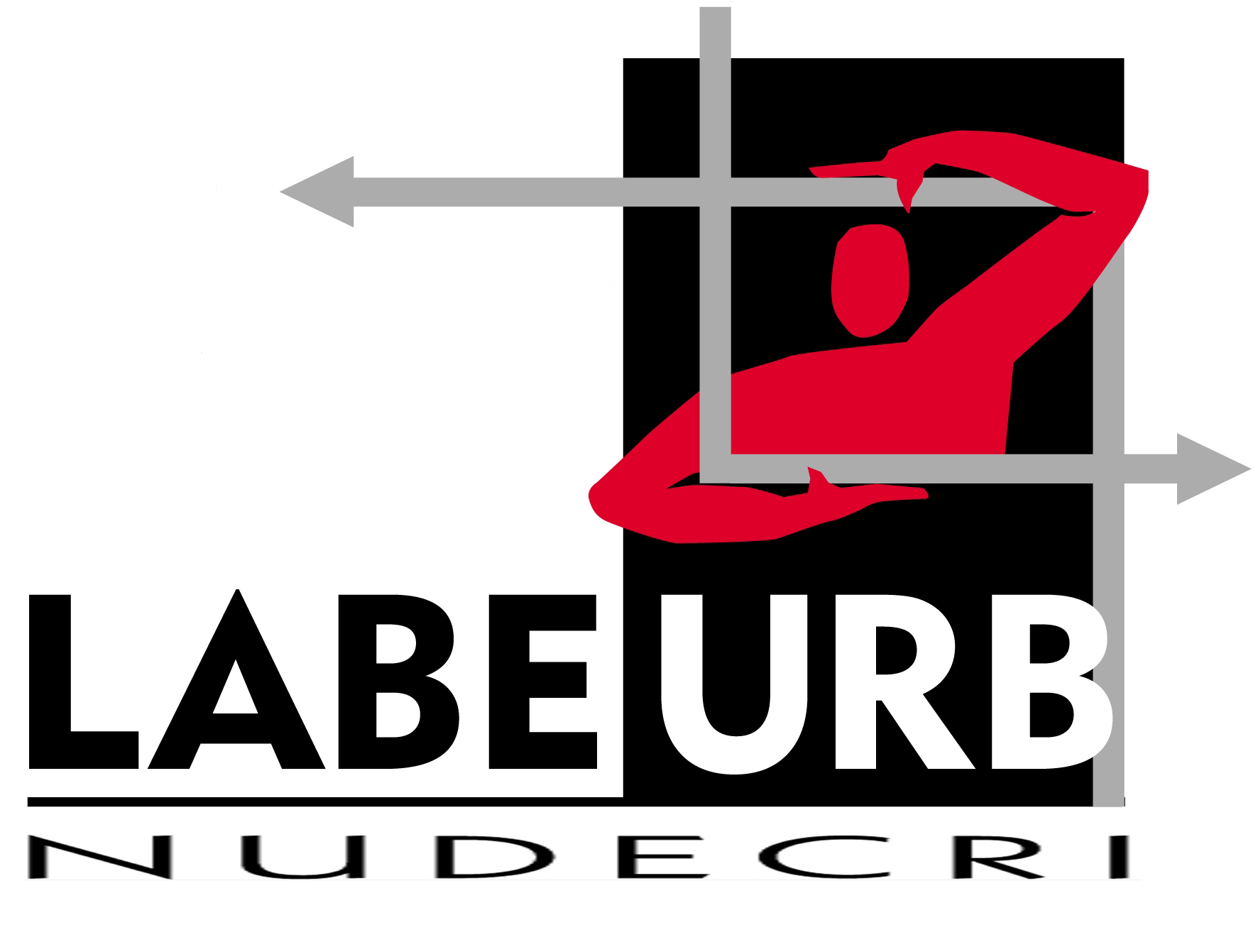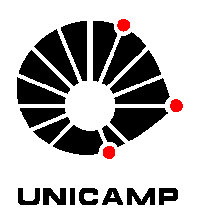Infância e violência: uma leitura dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo


Angela Maria Farah
Introdução
A reflexão sobre o jornalismo e suas contribuições sociais sobre o tratamento dado à infância é o objetivo deste artigo. A observação acerca desse tema busca a compreensão das mudanças semânticas em torno das nominações de crianças em situação de rua na cobertura jornalística, contemplando situações em que meninos, geralmente pobres, surgem nos jornais, qual o tratamento semântico eles recebem ao serem nominadas nos textos jornalísticos e de que modo suas histórias são abordadas.
Esta pesquisa utiliza-se das teorias da reportagem, do jornalismo, entre outras áreas do conhecimento, para buscar a compreensão sobre os temas investigados. O material de observação provém dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, como um modo de apontar elementos necessários à cobertura jornalística. São dois acontecimentos em destaque: 1) um menino de 10 anos, Ítalo, foi morto por policiais militares na zona sul de São Paulo na noite do dia 2 de junho de 2016, em uma troca de tiros, após o furto de um carro por Ítalo e um colega de 11 anos; 2) um menino de 11 anos, Waldik, foi morto por um guarda-civil metropolitano na noite de 25 de junho de 2016. O garoto estava no banco traseiro de um carro, que, de acordo com a Guarda Civil, pertencia a homens que realizavam assaltos em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. A versão digital dos jornais citados foi examinada no período de 1º de junho a 31 de julho de 2016.
Os estudos da antropologia, entre as décadas de 1960 e 1970, revisaram e reformularam seus conceitos fundamentais, como cultura e sociedade, apontando que não são exclusivamente os valores ou as crenças que assinalam o desenvolvimento de uma cultura em determinada sociedade, mas aquilo que os molda. Acompanhando a compreensão de cultura do antropólogo argentino, Nestor García-Canclini (1983), em sua obra As culturas populares no capitalismo, pode-se definir cultura como os sistemas simbólicos formados pelo permanente processo dado pelas relações e inter-relações dos atores sociais (crianças, jovens, adultos, idosos), que são os responsáveis por vivenciar e repassar os sentidos de sua experiência em uma determinada sociedade.
Para o pensador catalão, Miquel Moragas Spà (1988), a língua é um dos critérios para a formação de uma cultura, de uma identidade cultural. É nessa característica que comunidades, tribos, grupos e organizações sociais se reconhecem ou se estranham, em primeiro lugar. Para Moragas Spà, há ainda mais três critérios na pluralização da formação cultural de um povo: a geopolítica, a histórica e a social.
Nesse sentido, é possível afirmar que os meios de comunicação podem transmitir mais do que crenças, valores ou costumes para a sociedade. O contexto cultural demonstrado em uma reportagem, por exemplo, permite que a sociedade observe os sentidos e os significados de uma cultura (da cultura desse momento) gerados por meio de relações e interações.
A construção do conceito de infância
Anterior à contextualização dos casos, é relevante refletir no conceito de infância. O que é ser criança? Como isso se dá, como isso se apresenta para a sociedade? Os pesquisadores dessa área indicam que o pensamento ocidental em relação à criança começa a modificar-se a partir do final do século XVII. De acordo com o historiador Peter Stearns (2006), a mudança iniciou-se nas classes sociais mais altas causada pela interferência do poder público e da Igreja, trazendo a percepção da infância como uma fase fundamental e suas necessidades especiais, como alimentação, orientação, escolaridade. A partir da queda da taxa de natalidade, há o interesse em buscar a atenção individualizada para cada criança, iniciando, também, nessa fase a distinção entre a infância e seus estágios.
Para Stearns (2006), um elemento que pode ser apontado como desencadeador da mudança do conceito de infância na sociedade moderna é a exposição de alguns filósofos do final do século XVII, que começam a refletir sobre a importância de respeitar a individualidade da criança e a tratar com carinho especial, pensando, principalmente, em como poderiam lhe ensinar novos conteúdos, assim como desenvolver nelas a criatividade.
No modelo de infância moderno percebem-se três mudanças principais, segundo o historiador, que se desenvolveram ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX. A primeira refere-se à desvalorização do trabalho na infância para o reconhecimento da importância da educação para a criança. A escolaridade passa a ser considerada obrigatória e, aos poucos, essa ideia alcança também os adolescentes (a partir do século XIX), que param de trabalhar para estudar. A segunda mudança é consequência da primeira. Como crianças e adolescentes param de trabalhar, houve o entendimento de que era preciso limitar o tamanho das famílias para que todos pudessem ter seu sustento garantido. Desse modo, o terceiro elemento do modelo de infância moderno é a redução da taxa de natalidade. Essa mudança é reflexo das primeiras transformações que procuravam naquele momento dar mais atenção e cuidado à criança. Dessa forma, a saúde das crianças passou a merecer mais cuidado e, em consequência, as mortes precoces diminuíram.
Nesse contexto, pode-se afirmar que a ideia de infância como um estágio distinto da vida é um conceito relativamente recente. A noção de que as crianças devem estudar e não trabalhar, brincar, receber proteção, alimentação, atenção, carinho e cuidados especiais de adultos torna-se a definição de infância tradicional solidificada a partir de 1850 e que permaneceu até 1950 (premissas que se conservam verdadeiras nos anos 2000), conforme apontam Stearns (2006) e Steinberg e Kincheloe (2001).
Ariès (2006) indica que em determinados períodos da história era considerada criança a pessoa que ainda fosse dependente economicamente dos pais e/ou da família. Mudando a visão social sobre a infância, surgiram leis, convenções, acordos mundiais que definem o que é ser criança. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela resolução nº. L. 44 (XLIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 20 de setembro de 1990, define criança no artigo 1 como “todo ser humano menor de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”.
A lei brasileira nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece o conceito de criança e de adolescente no artigo 2º: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade” (grifo meu).
Desde 1950, de acordo com Steinberg e Kincheloe (2001), as noções de carinho, cuidados especiais e responsabilidade dos adultos para com as crianças continuam válidas, no entanto a infância inicia uma nova fase com as inovações da sociedade industrializada e da cultura corporativa e do consumismo, que têm como foco privilegiado o grupo das crianças. Segundo os autores, essa cultura corporativa transmitida principalmente pela televisão, o que não minimiza o papel de outros meios de comunicação, é a causa de uma nova era da infância, que transforma as crianças em dependentes e passivas e, ao mesmo tempo, oferece às crianças o contato com informações que só teria quando fosse adulta, modificando sua relação com o mundo adulto e os estágios da infância pelos quais deveria passar.
A criança, na contemporaneidade, tem um papel ativo na sociedade com direitos, deveres e autonomia, sendo subordinada às ordens e aos cuidados dos pais ou de um adulto responsável, porque necessita de atenção especial, por estar em fase de formação. De algum modo, a criança sempre teve seu espaço de atuação na formação social das diferentes civilizações em diferentes épocas. A partir da consolidação dos meios de comunicação, a criança é percebida, também e com grande influência, por meio dos registros veiculados na TV, no rádio, na internet e no jornal impresso, que proporcionam a percepção sobre as mudanças sociais e também discutem e rediscutem qual é o papel e o lugar da criança nesse contexto.
Caso 1 – O menino Ítalo, de 10 anos, foi morto por policiais militares na zona sul de São Paulo, na noite do dia 2 de junho de 2016, após o furto de um carro por Ítalo e um colega de 11 anos
Esse caso recebeu cobertura jornalística nos dois jornais citados, com matérias diárias, tentando dar conta das contradições das histórias presentes no fato, que rendeu notícias dois dias depois de acontecido. Na edição de sábado, 4 de junho de 2016, Folha[1] e Estadão[2] apresentaram o caso na capa, com imagem. No Estadão, a foto em destaque é da mãe do garoto em sofrimento pela perda do filho, com a legenda: “Dor. Mãe nega que filho estivesse armado e acusa PMs”. Na Folha, a imagem em destaque é o corpo do menino estendido no banco do motorista, com as pernas para fora, no carro que foi furtado por ele e seu colega de 11 anos. A legenda descreve: “Corpo de Ítalo, 10, morto por PMs; segundo a Secretaria de Segurança de SP, criança furtou o carro e atirou em policiais.” No Estadão, a manchete de capa apresenta o menino como sujeito-vítima da PM (“Menino de 10 anos é morto por PMs após furto de carro”); na manchete da Folha, na capa, a ação da PM está em destaque (“PM mata menino de dez anos suspeito de furto”).
Ainda nessa edição, as páginas internas trazem as narrativas sobre o acontecimento. O Estadão apresenta a matéria principal em página inteira, com retranca sobre a visão da família e uma análise de uma policial militar reformada. Com o título “Policiais precisam saber quando atirar”, a autora classifica os comportamentos dos policiais, reafirmando a necessidade de um treinamento mais eficaz para esses momentos de tensão vividos por um policial militar. Para ela, “Acontece que, no Brasil, há pressão social muito grande para que se matem criminosos.” E na opinião dela, essa pressão conta no momento de decisão do policial militar. O Estadão publicou, ainda, uma reportagem complementar sobre o número de pessoas que a PM mata por dia no Estado de São Paulo, intitulada “PMs matam duas pessoas por dia no Estado de SP”.
A Folha também publicou matéria principal, com os dados sobre o acontecimento. Um perfil do menino Ítalo foi publicado, mostrando quem ele era, como vivia, como era sua família, acompanhando a mãe no reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal. Acima desse perfil, há um infográfico com a cronologia do fato, o mapa da região em que o furto e a perseguição policial aconteceram e, também, as ocorrências policiais dos meninos.
Há dados contraditórios nas matérias da Folha e do Estadão. A Folha diz que o menino era estudante do 2º ano do Ensino Fundamental, e o Estadão afirma que o menino estudou até a 4ª série e deixou a escola no fim do ano passado.
No dia seguinte, 5 de junho, dando continuidade à cobertura do fato, o Estadão publicou uma matéria intitulada “’O mundo está perdido’, diz filho de vítima”, em que é reproduzida a fala do filho do proprietário do carro sobre o episódio feita em sua página no Facebook. Destaco o seguinte trecho: “Ele relatou ter conversado com o amigo do menino morto, de 11 anos, que também participou do furto do veículo no prédio na Vila Andrade. ‘Assustado, ele não tinha a menor ideia da dimensão do que tinha acabado de acontecer. Disse que o amigo queria roubar e matar a primeira pessoa que visse na frente. Como assim? Como uma pessoa nessa idade pode ter esse pensamento? Por que eles não estavam na escola, brincando e tendo toda a educação que eu pude desfrutar na minha infância? Por que eles não puderam ter os mesmos acessos que eu tive?’, escreveu”.
Pode-se inferir dessa situação e dessa fala uma importante relação, apontada pelo historiador Peter Stearns (2006): sociedade, criança e morte. Em todos os períodos históricos de desenvolvimento de nossa sociedade, o índice de mortalidade infantil era muito alto. A partir do século XIX, nascem menos crianças, seus pais tomam mais cuidados com elas e estabelece-se que elas não podem morrer, por isso as sociedades industrializadas direcionaram maior número de recursos para evitar a morte precoce. Além disso, as crianças foram afastadas do acontecimento da morte, os especialistas indicavam que isso poderia não fazer bem à criança, ao seu desenvolvimento psicológico. “O compromisso disseminado de manter as crianças vivas tornou, sem dúvida, mais difícil aceitar as mortes que ocorressem.” (STEARNS, 2006, p.157). Não é natural que uma criança morra, em nenhuma circunstância.
Na Folha, a matéria do dia 5 de junho trata do enterro do menino e da declaração da mãe pedindo justiça. Em um quadro, há o depoimento de uma psicóloga que conheceu Ítalo em 2014, então com 8 anos, em um abrigo no litoral paulista. “Aos oito anos, tinha marcas de cigarro pelo corpo e havia sido deixado sozinho em casa. Empinava pipas e pedia comida na vizinhança. Comovidos, os moradores chamaram o conselho tutelar”, afirma a matéria. Em seguida, um trecho do depoimento que contribui para a compreensão acerca desse menino e de sua vida: “Ítalo ficou conosco em torno de três meses. Foi um pequeno furacão que passou entre nós, mas um furacão que parecia nos pedir ajuda. Sei que a história dele vai se repetir e que a impotência diante disso inquieta o coração. Lá se vai mais um guri!”. É possível compreender que o sistema de atendimento à criança não consegue atender às necessidades das crianças em situação de risco ou vulnerabilidade.
No dia 7 de junho, a notícia do Estadão está centrada na ameaça que o colega de Ítalo teria sofrido para gravar o vídeo e dizer o que os policiais queriam que ele dissesse. Na notícia da Folha, o eixo central está na mudança do depoimento do menino de 11 anos, em que diz que o amigo não estava armado e que a arma foi “plantada” pelos policiais. Também se refere ao apoio dos moradores aos policiais, pedindo para que o comando não retire os policiais da rua.
O terceiro depoimento do menino de 11 anos foi noticiado no Estadão no dia 8 de junho, apontando as diferentes versões. A Folha apresentou notícia sobre uma testemunha que teria ouvido tiros disparados do carro contra os policiais, reforçando o relato dos policiais. Mostrou, também, um quadro com perguntas e respostas sobre o acontecimento.
Na sequência, dia 9 de junho, o Estadão apresenta uma pequena matéria no canto direito inferior sobre o caso. Trata do apoio do Conselho de Comunitário de Segurança do Portal do Morumbi aos policiais militares. Conta, também, sobre a testemunha do caso que reforça o relato dos policiais. Em pequena nota, a Folha noticia a informação dada pela perícia de que a cena do crime foi alterada. Nos dias seguintes, as notícias nos dois jornais foram sobre os problemas encontrados pela perícia na cena do crime e depoimento dos policiais sobre o fato. Na Folha e no Estadão, até o dia 20 de junho, o caso do menino Ítalo foi noticiado com notícias ou notas pequenas à margem das páginas dos jornais.
Mesmo com todas as reviravoltas do caso, mostrando que os policiais adulteraram a cena do crime, desobedeceram ordens superiores de não atirar, forçaram o depoimento do colega de Ítalo sobre a posse de arma, entre outros detalhes, na reconstituição do fato, os moradores do bairro receberam os policiais com aplausos e gritos de apoio. Os dois jornais noticiaram esse “protesto” com pequenas notas. Para além do certo e do errado, essa foi uma das possibilidades não exploradas pelo jornalismo. Tentar buscar os elementos presentes nesse “medo” dos moradores do Morumbi capaz de provocar o apoio aos policiais militares, mesmo com tantas evidências de que eles haviam agido errado, foi uma pauta possível e não explorada pelo jornalismo dos dois principais jornais da cidade de São Paulo.
A Folha de S. Paulo apresentou uma reportagem especial no dia 12 de junho sobre o atendimento à criança em situação de vulnerabilidade, o investimento municipal nessa situação e no conflito entre os moradores do bairro Morumbi com os meninos das favelas vizinhas. De acordo com a reportagem “Falta de estrutura dificulta auxílio a criança vulnerável”, há ausência de formação de conselheiros para aumentar o número de Conselhos Tutelares em São Paulo, que deveriam ser 112 e não passam de 52. Além disso, faltam mais Varas de Infância e da Juventude nos fóruns na cidade. Também há falta de vagas nos abrigos, assim como atendimento especializado nesses locais. As situações distintas das crianças é um dos maiores empecilhos no tratamento adequado. Há uma matéria também sobre a dificuldade de repasse de verbas para as ONGs que auxiliam na rede de proteção à infância.
Houve, também, apresentação do Estadão de reportagem especial, na edição de domingo, no dia 26 de junho, buscando compreender algumas das questões levantadas por esse acontecimento. O olhar do jornal foi em relação ao trabalho da Polícia Militar, sua falta de estrutura, suas dificuldades, entre outros fatores, na reportagem intitulada “Bairros com mais violência em SP têm menos PMs para cuidar de cada crime”. De certo ponto de vista, levanta um ponto crítico do trabalho da própria Secretaria Estadual de Segurança, que admite precisar rever os critérios de distribuição dos policiais.
São essas produções jornalísticas especiais, com trabalho de reportagem de campo, que permitem ao leitor ampliar sua visão de mundo, conhecer algo que está fora do seu cotidiano, de sua convivência. O jornalismo organiza o caos informacional da sociedade em narrativas que permitem algum conhecimento sobre o outro, aquele que está próximo e distante ao mesmo tempo.
Desse modo, as narrativas jornalísticas contribuem para o entendimento do sentido da vida, pois permeiam toda nossa existência. Quando as oferecemos a alguém, seja em forma de literatura ou de jornalismo, oferecemos uma possibilidade de refletir sobre o significado da experiência humana e de nossas próprias experiências, como afirma a jornalista e pesquisadora, Cremilda Medina (2003, p.48):
Uma definição simples é aquela que entende a narrativa como uma das respostas humanas diante do caos. Dotada da capacidade de produzir sentidos, ao narrar o mundo, a inteligência humana organiza o caos em um cosmos. O que se diz da realidade constitui outra realidade, a simbólica. Sem essa produção cultural – a narrativa – o humano ser não se expressa, não se afirma perante a desorganização e as inviabilidades da vida. Mais do que talento de alguns, poder narrar é uma necessidade vital.
A narrativa jornalística pode apresentar semelhanças à noção de narrativa de Benjamin (1994), pois é uma das mediações na arena simbólica, permeando o discurso público, dá origem a laços sociais, proporciona um compartilhamento de informações e experiências comuns a todos e, mais que isso, oferece significações comuns acerca do que acontece na sociedade.
Nesse contexto, o jornalismo é uma maneira de organizar o caos do cotidiano, dando a ele forma, sentido e nexos de compreensão. Entre tantos acontecimentos, alguns deles serão selecionados por critérios de atualidade, veracidade, interesse público, proximidade, ineditismo, intensidade e identificação, para serem pesquisados pelo repórter e serem publicados no jornal, como ressaltam Ferrari e Sodré (1986).
Ainda na edição de domingo, do Estadão, de 26 de junho, o sociólogo José de Souza Martins publicou o artigo “Nem criança nem adulto”, no caderno Aliás, que trata sobre a delinquência juvenil e o trabalho – a necessidade dele para ensinar e prover e a lógica do trabalho infantil, muitas vezes escravo. A discussão que tenta levantar é a defesa de que um trabalho justo e digno pode ser uma alternativa para preservar os adolescentes brasileiros mais pobres, principalmente, longe da criminalidade.
Esse é um tema polêmico. Muito precisou ser feito para que os países percebessem a exploração das crianças pela “nova” sociedade industrial. O sociólogo e fotojornalista Lewis Hine (1874-1940), ao realizar um trabalho fotográfico para o National Child Labour Comittee, entre 1908 e 1917, mostrou crianças que trabalhavam mais de 12 horas seguidas em fábricas e em minas. Esse trabalho contribuiu efetivamente para a alteração da legislação norte-americana sobre o trabalho infantil (SOUSA, 2000, p.59) e reflete a preocupação com o bem-estar da criança. O trabalho infantil, estendeu-se, segundo Stearns (2006), ainda, até 1915, aproximadamente.
A professora Ana Maria Marangoni, do departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, escreveu sobre o tema no livro Sobre Vivências, organizado por Cremilda Medina e Milton Greco, em 1995, na coleção Novo Pacto da Ciência, volume 4, conhecido também como Projeto Plural. Marangoni destaca um provérbio popular: “Trabalho de criança é pouco, mas quem perde é louco”, para tratar do trabalho infantil, especialmente na área rural. A professora destaca o valor negativo que esse tipo de trabalho ganhou na Revolução Industrial e as consequências de não apoiar o ensino de algumas atividades práticas e profissionalizantes a crianças e adolescentes. O questionamento que faz está centrado no trabalho como um prazer na vida do homem, que aprende a produzir suas próprias coisas no cotidiano, como limpar a casa, lavar a louça, cozinhar e passar roupa, por exemplo. Para a pesquisadora:
‘Trabalho de criança é pouco, mas quem perde é louco’. É louco porque perde a contribuição material da atividade; porque perde uma oportunidade educacional; porque perde momentos de prazer para si, no convívio do ensinar e do realizar o trabalho; porque perde a a oportunidade de propiciar à criança o prazer de sentir-se capaz de fazer, de criar, de desenvolver-se com maior utilização de seu próprio esforço e até de sentir-se mais autoconfiante e independente. Trabalho de criança, em si, não configura crime (MARANGONI, 1995, p,61).
De modo geral, as legislações vigentes mundo afora, incluindo o Brasil, preveem o não trabalho infantil, com o objetivo de não permitir o trabalho escravo ou em condições degradantes às crianças, principalmente quando o trabalho as afasta da escola e do brincar. No entanto, acompanhando a visão do sociólogo José de Souza Martins no artigo “Nem criança nem adulto”, no caderno Aliás, do Estadão, está-se referindo ao trabalho para crianças e adolescentes que possibilita a elas compreensão da vida cotidiana da sociedade, proporcionando, também, uma visão prazerosa na prática das atividades diárias em casa, por exemplo, inicialmente, para a construção de um sentimento de responsabilidade diante de si e do outro[3]. Nesses aspectos, os professores José de Souza Martins e Ana Maria Marangoni concordam entre si e discordam do que está definido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Caso 2 – O menino Waldik, de 11 anos, foi morto por um guarda-civil metropolitano, na noite de 25 de junho de 2016, em São Paulo
O jornal Folha de S. Paulo estampou na capa, do dia 27 de junho de 2016, “Garoto de 12 anos é morto em SP por guarda-civil”, lembrando no subtítulo que “É o segundo homicídio de menor por agentes de segurança em um mês”. Na matéria interna, na editoria Cotidiano, há o relato do acontecimento, a relação entre a morte de Waldik e uma entrevista com a mãe do adolescente. O jornal traz, também, uma reportagem de página inteira intitulada “2 em cada 3 menores infratores não têm o pai dentro de casa”, seguida do subtítulo “Família e escola são principais freios à entrada de jovens no crime, afirma promotor de SP”. A reportagem ressalta a importância do vínculo afetivo positivo, que não existe apenas no âmbito familiar, mas é o lugar mais óbvio em encontrá-lo e construí-lo. No dia seguinte, a Folha corrigiu a idade do garoto, de 12 para 11.
O Estadão produziu material de uma página, no dia 27 de junho de 2016, contando o fato da morte do garoto, revendo o caso de Ítalo, apresentando análise por especialista em segurança pública e denunciando que delegacias de Polícia Civil localizadas em áreas mais violentas têm menos policiais para investigações, o que prejudica a conclusão de inquéritos e punição dos criminosos.
O jornal manifestou preocupação com a averiguação, para a adequada punição do guarda-civil e seu comando, em editorial intitulado “O erro da GCM e o prefeito”, no dia 28 de junho. A reportagem dessa mesma edição intitulada “Guardas dizem que não viram confronto, só os tiros do agente que matou criança” aponta para os erros da operação. Em matéria complementar “Polícias mataram 191 adolescentes em 6 anos em SP”, apresentou o levantamento realizado pela própria ouvidoria das Polícias Civil e Militar. Nota, no fim da página, mostrou a visão do prefeito Haddad sobre o erro do guarda-civil, indicando que o policiamento não deve ser feito pela GCM. Outra matéria conta a história do ponto de vista do colega de Waldik, sob o título “’Só queria ostentar’, diz colega de garoto”.
Na capa do dia 28 de junho de 2016, a Folha chama para a matéria interna, na editoria Cotidiano, intitulada “GCM errou do início ao fim em ação que matou garoto”, apontando os detalhes da ação da GCM. Em outra matéria, intitulada “Guarda civil perde efetivo e amplia suas atribuições”, mostrou a insatisfação do sindicato da categoria com o pronunciamento do prefeito, indicando outros fatores para as falhas da GCM. Em quadro, a Folha apresentou as características da GCM no formato de perguntas e respostas. Ainda nessa edição, um perfil de Waldik foi publicado, intitulado “Instável – menino de 11 anos morto por guarda-civil passou de brincalhão para rebelde no período de um ano; ‘foram as más companhias’, dia mãe”. O material revelou um garoto vulnerável, com características comuns a sua faixa etária, que, no entanto, precisava de atenção.
A Folha de 29 de junho apresentou reportagem sobre uma ação suspeita de policiais militares e da GCM que matou um universitário, com matéria complementar de um perfil do estudante. Ainda nessa edição, uma reportagem de página inteira intitulada “GCM descumpriu decreto ao escalar equipe que matou garoto de 11 anos”, mostrando os erros da GCM, a versão do secretário – que negou, mas disse que vai rever regra, e uma retranca que apresentou a versão dos garotos que afirmam que não estavam armados. O Estadão dessa data traz reportagem de página inteira intitulada “PMs e guardas-civis atiram 15 vezes em perseguição; universitário morre”. Na outra página, uma pequena notícia, ocupando a parte superior da página, intitulada “Guarda Civil de SP matou 17 desde 2013; 4 neste ano”.
Na edição de 30 de junho, a Folha relembra a morte de um rapaz de 17 anos, em 2013, pela PM de São Paulo, que ainda está sem solução. Em outro caso de morte de jovem pela PM de São Paulo, há a suspeita de que a polícia tenha forjado o tiro.
A capa do Estadão de 30 de junho trouxe uma entrevista exclusiva com o guarda-civil, Caio Muratori, que matou o menino de 11 anos, Waldik, no dia 25 de junho. Sob o título “’Saí de casa como um policial exemplar, voltei com um alvará de soltura no bolso’”, a entrevista revela o ponto de vista do guarda-civil. Para complementar a entrevista, há uma matéria sobre o número de assassinatos de crianças e adolescentes por ano no Brasil. Em editorial, “Outra ação desastrada”, o Estadão reflete sua preocupação diante dos últimos acontecimentos envolvendo crianças, adolescentes e jovens adultos e as forças de segurança do Estado.
No domingo, dia 3 de julho de 2016, foi a vez da ombudsman da Folha, Paula Cesarino Costa, avaliar as reportagens produzidas pelo jornal sobre as mortes dos meninos Ítalo e Waldik, do jovem Robert de 15 anos, do universitário Júlio César de 24 anos, assim como os comentários dos leitores do jornal. Para ela, o jornal teve desempenho irregular na cobertura dos casos citados. “Para muitos leitores, a Folha sempre é a favor das vítimas e contra a polícia. "O jornal na sua parcialidade só levou em conta o lado da pessoa que cometeu crime", disse um leitor. "Pretende fazer crer aos leitores que a PM executou uma criança inocente e indefesa?", questionou outro.” Em outro trecho aponta: “O jornal não deve julgar, nem deve agir como aliado da polícia ou como entidade protetora dos fracos e oprimidos. Sua obrigação com o leitor é relatar o mais detalhadamente possível os fatos, destacar as incoerências e inconsistências de versões, fazer apurações próprias e não se limitar ao relato parcial da polícia. Na investigação e no relato da linha de tiro da polícia, não pode haver inocência jornalística.”
Nessa mesma edição de 3 de julho, a Folha publicou uma reportagem especial sobre as apreensões de crianças e adolescentes em São Paulo, capital, sob o título “Um menor é apreendido em flagrante a cada 3h em SP”. A outra reportagem “Meus garotos: mães de adolescentes infratores em bairros de São Paulo campeões em apreensões relatam desespero e desencanto” parece humanizar os números apresentados na reportagem principal.
No entanto, essa separação entre os números, os dados objetivos e as histórias das pessoas envolvidas não contribui para a compreensão do leitor sobre a realidade complexa, como preconizaram Cremilda Medina e Paulo Roberto Leandro, na obra A arte de tecer o presente, de 1973, em que quatro elementos devem estar presentes em um texto jornalístico: “o protagonismo social, a consequente contextualização que, por sua vez, apresenta-se no âmbito de raízes histórico-culturais e passa pela análise dos especialistas em diagnósticos-prognósticos sobre a circunstância em pauta.” (p.8).
Legislação, infância e jornalismo
Duas importantes pesquisas sobre a legislação para infância e adolescência no Brasil contribuem para a necessária contextualização deste estudo. Uma delas é da professora e pesquisadora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e Diretora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância (CIESPI), Irene Rizzini. Na obra “O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil”, sua tese de doutorado, Rizzini estuda o período de 1870 a 1930, sobre a formação legislativa de crianças e adolescentes, que acompanhou as noções mundiais dessa área, envolvendo muitos campos de conhecimento. A outra pesquisa refere-se à obra “História social da criança abandonada”, da professora do curso de História da Universidade de São Paulo (USP), Maria Luiza Marcílio, editada em 1998, que traça esse panorama legislativo desde a Antiguidade até o fim da década de 1990 no Brasil[4].
As legislações para a infância e adolescência no Brasil apresentam diferentes paradigmas jurídicos ao longo dos tempos. As transformações no tratamento semântico de crianças e adolescentes em situação de rua acompanham a dinâmica social desde os tempos do Império e, mais tarde, são os movimentos sociais organizados que conquistam as principais mudanças jurídicas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Brasil. O jornalismo, por sua vez, adapta-se a essas mudanças noticiando-as, reaprendendo sobre o “peso[5]” das palavras e tentando provocar compreensão sobre essa temática no meio social.
O primeiro Congresso Americano da Criança aconteceu em 1916, em Buenos Aires, que inaugurou um encontro para debate a cada quatro anos, coordenado pela Organização dos Estados Americanos (OEA). Desse modo, a discussão sobre o tema que já tinha repercussão internacional ficou mais forte e a causa da legislação para a infância reúne seus aliados, ampliando as estratégias. Na tentativa de organizar essa questão, o discurso assumiu um tom utilitarista, dividindo o Congresso em Comitês, que eram subdivididos em seções, de acordo com áreas de conhecimento, por exemplo. Seguem-se os anos, o debate ganhou importância política e novas propostas de decretos, propostas e projetos de lei foram apresentados. Nesse contexto, chegou-se ao Código de Menores de 1927, com 231 artigos. Apesar de sua extensão, ele manteve os aspectos centrais de projetos anteriores. Irene Rizzini (2009, p.139) analisa o Código:
A legislação dirigida aos menores de idade vinha a legitimar o objetivo de manter a ordem almejada, à medida que, ao zelar pela infância abandonada e criminosa, prometia extirpar o mal pela raiz, livrando a nação de elementos vadios e desordeiros, que em nada contribuíam para o progresso do país. Para atingir a reforma almejada para ‘civilizar’ o Brasil, entendia-se ser preciso ordená-lo e saneá-lo. Designada como pertencente ao contingente de ‘menores abandonados e delinquentes’ (portanto potencialmente perigosos), a população jovem que fugia aos mecanismos sociais de disciplina, foi um dos focos para a ação moralizadora e civilizadora a ser empreendida. Sob o comando da Justiça e da Assistência, julgou-se estar, desta forma, combatendo os embriões da desordem.
A Constituição de 1939 apresentou dois artigos sobre a infância e a juventude, que reforçavam a educação integral como dever dos pais e do Estado, por outro lado, destacava como obrigação do Estado a educação profissional para as classes menos favorecidas. Essa lei magna determinava a proibição do trabalho infantil para menores de 14 anos. De acordo com Marcílio (1998), o Estado brasileiro não era ativo na intervenção na assistência à infância e juventude e para conseguir cumprir suas funções criou órgãos especializados, que se caracterizaram pela ineficiência e incompetência política e, também, por serviços descontínuos. São exemplos disso o Departamento Nacional da Criança, criado em 1919, e que deveria controlar toda a assistência à infância pobre, e o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), criado em 1941, para ampliar as atividades de assistência ao menor carente e ao menor infrator. Nesse mesmo ano, o ensino profissional foi regulamentado e o Ministério do Trabalho foi designado para ser o fiscal dessa atividade.
Na criação dessa nova legislação houve uma grande associação entre as forças policiais, os setores políticos, os médicos (higienistas) e as associações de caridade e filantrópicas, lideradas pelos juristas. Muitos especialistas apontam para a “judicialização” da infância nesse período, do qual surge a categoria jurídica “menor”, que se referia à criança abandonada, delinquente, desvalida, viciosa (todos termos utilizados à época). Como descreve Marcílio (1998, p.195), “Até mesmo a designação da infância mudou nessa fase de intervenção da Medicina e das Ciências Jurídicas. De um lado, o termo ‘criança’ foi empregado para o filho das famílias bem-postas. ‘Menor’ tornou-se o discriminativo da infância desfavorecida, delinquente, carente, abandonada. [...] A infância abandonada, que vivia entre a vadiagem e a gatunice, tornou-se, para os juristas, caso de polícia.”
A utilização da expressão menor é bastante presente nas análises dos estudiosos da infância, em áreas como a sociologia, o serviço social e a psicologia. A pesquisadora Irene Rizzini (1997) aponta para uma visão ambivalente em relação à criança: de um lado, a criança simbolizava o futuro da nação, a esperança de que se fosse devidamente educada a criança poderia se tornar útil à sociedade; de outro lado, a criança representava uma ameaça à sociedade, porque começa-se a se ter dúvidas de sua inocência, por isso se for exposta a situações e pessoas ruins, pode vir a ser um problema.
De acordo com Rizzini (1997, p.29, grifos do original), “Do referencial jurídico claramente associado ao problema, constrói-se uma categoria específica – a do menor – que divide a infância em duas e passa a simbolizar aquela que é pobre e potencialmente perigosa; abandonada ou ‘em perigo de o ser’; pervertida ou ‘em perigo de o ser’...”. E é desse modo que a expressão menor vai parar nos jornais, depois de já estabelecido o domínio jurídico, médico e assistencial. É por isso que os pesquisadores questionam o uso do termo, pois há uma carga cultural com significados que relacionam violência e pobreza, por exemplo.
Pesquisando os documentos do Juizado de Menores e do Serviço de Assistência aos Menores (SAM), no período entre 1923 e 1941, Irma Rizzini (1993, p.96) verificou que havia um entendimento teórico do Juizado de Menores de que crianças e adolescentes são sujeitos com necessidades psicológicas, afetivas, físicas, educacionais, morais, sociais e econômicas. No entanto, na prática jurídica cotidiana, o alvo é:
o que se convencionou chamar de ‘menor’, ultrapassando a concepção meramente jurídica do termo. Menor não é apenas aquele indivíduo que tem idade inferior a 18 ou 21 anos, conforme mandava a legislação em diferentes épocas. Menor é aquele que, proveniente de família desorganizada, onde imperam os maus costumes, a prostituição, a vadiagem, a frouxidão moral e mais uma infinidade de características negativas, tem a sua conduta marcada pela amoralidade e pela falta de decoro, sua linguagem é de baixo calão, sua aparência é descuidada, tem muitas doenças e pouca instrução, trabalha nas ruas para sobreviver e anda em bandos com companhias suspeitas.
Foi na década de 1960 que o Brasil inaugurou uma nova fase em relação aos cuidados assistenciais, passando a atuar como Estado do Bem-Estar Social, no qual as assistências caritativa e filantrópica continuaram a coexistir. O regime militar formulou e implementou a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, e, em 1964, criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), com o objetivo de conhecer o problema do “menor”, a partir de fatos, para que pudesse propor soluções eficazes.
O professor titular de Antropologia do Laboratório de Estudos da Sociedade Civil e do Estado (LESCE), da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Arno Vogel (2009), mostra que o surgimento da Funabem é fruto de uma forte crítica social e política sobre os métodos e resultados do SAM (Serviço de Assistência ao Menor). Caracterizando a Funabem como uma entidade autônoma, buscava-se escapar da burocracia e da corrupção, nas esferas administrativa e financeira, o que havia caracterizado a gestão do SAM. Para que a ideia central da Funabem funcionasse, ela dependia da sintonia das unidades estaduais. A Funabem faria o repasse financeiro e as unidades estaduais aplicariam esse investimento, seguindo o treinamento dado pela Fundação Nacional, por meio de “documentos doutrinários, vocabulário técnico e metodologia de atendimento”. (VOGEL, 2009, p.297).
O rápido processo de urbanização provocou profundas mudanças sociais, principalmente nas grandes cidades do Brasil entre as décadas de 1960 e 1970, com o crescimento das regiões metropolitanas, as migrações e o êxodo rural. Assim, aumentava o número de famílias e de pessoas que tinham uma renda baixa, insuficiente para pagar suas despesas mais básicas, como habitação, saúde, educação e lazer. Citando os relatórios da Funabem de 1976, Vogel (2009) aponta para a marginalização desses grupos sociais, que eram desassistidos e não conseguiam ter acesso ao suporte desenvolvido pelo governo. Os dados disponíveis à época indicavam a marginalização de aproximadamente 15 milhões27 de crianças e adolescentes.
O regime militar percebia com grande preocupação o aumento do problema do menor, pois compreendia que o capital humano precisava ser mantido e isso “importava diretamente à ideologia do modelo de desenvolvimento adotado, na medida em que afetava o poder nacional [...].” (VOGEL, 2009, p.293). Outra preocupação era com a desintegração da família, que era percebida como solução para a questão do menor. A internação dos menores era vista com muita crítica, principalmente por afastar os menores de sua estrutura familiar, que poderia ajudar a recuperá-lo. Desse modo, era preciso atuar de modo integrado, com ações unificadas, assim o bem-estar do menor compreendia, para a Funabem, o atendimento de necessidades básicas, como saúde, amor, compreensão, educação, recreação e segurança social (VOGEL, 2009, p.294).
Apesar de a internação de filhos menores de famílias de classes econômicas mais favorecidas estar caindo em desuso, o contrário se dava para os menores das famílias de baixa renda, por considerarem a internação uma chance para suas crianças e adolescentes. Desse modo, mesmo o Estado compreendendo que o ideal era tentar manter os menores com a família, nem sempre esse era o desejo da família.
O Brasil tem acompanhado as mudanças legislativas internacionais, participando das Declarações, Convenções e Acordos internacionais sobre o compromisso com as crianças e os adolescentes, desde a Declaração de Genebra, em 1924, passando pelo Pacto de São José da Costa Rica, em 1969, e pelas Regras de Beijing – Regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça, da infância e da juventude –, de 1985, e, em seguida, em 1989, com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Esta última foi antecipada nos artigos 227 e 228 na Assembleia Constituinte, que gerou a Constituição Federal de 1988, que, posteriormente, originou o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990 (ADORNO, 1993).
O ECA é a materialização dos artigos 227 e 228 da Constituição Federal (CF) e da Convenção da ONU, de 1989. O Paradigma da Proteção Integral substitui o Paradigma da Situação Irregular e é a principal transformação do Estatuto de 1990. Esse paradigma é constituído por alguns princípios: da Co-Responsabilidade, descrito no artigo 227 da CF; da Prioridade Absoluta; do Ser em Desenvolvimento; do Melhor Interesse (levar em consideração o que quer a criança ou o adolescente); da Descentralização Político-Administrativa, descrito no artigo 224 da CF; da Participação Popular.
Para executar o ECA, é fundamental assegurar a elaboração de políticas públicas, para dar conta da diversidade de questões envolvidas na vida de uma criança ou adolescente. Desse modo, foi pensado em um tipo de operação em rede, um modelo descentralizado horizontal, chamado de Rede de Proteção, quem nem sempre é formalizado, mas existe, de algum modo, em muitos municípios brasileiros. A base dessa operação em rede está nos municípios e atua por meio dos centros de assistência social, os conselhos tutelares (de proteção), os conselhos de direitos. Nesse modelo, os municípios devem estruturar políticas públicas que funcionem. E, para dar certo, o grande desafio está na compreensão de que não é um modelo estático, há um caráter sistêmico, de complementaridade entre os setores que podem dar apoio à criança e ao adolescente.
Antes do ECA, a criança e o adolescente eram percebidos como objetos pela legislação. A partir do ECA, cria-se um sujeito de direitos. A mudança de doutrina ou paradigma transforma o olhar legislativo para a criança. Agora, enfatiza-se a importância da universalização das políticas públicas e há uma preocupação com os mecanismos que garantam os direitos da criança e do adolescente. Compreende-se que é preciso preservar meninos e meninas, apoiá-los, trazê-los à oportunidade de ser melhor.
Mesmo acompanhando legislações internacionais e sendo usado como citado como uma lei exemplar, há muita resistência em relação ao ECA, como explica a professora do curso de Direito, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Josiane Veronese (1998, p.31):
Uma das razões pelas quais o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei nº 8.069/1990, encontra tanta resistência é que ele estabelece uma nova concepção da criança e do adolescente, que engloba um universo de pessoas, independentemente de uma suposta ‘situação irregular’ que os menorizava, passando a contemplar a ‘proteção integral’. Desse modo, criança e adolescente passam a ser considerados como cidadãos, como sujeito de direitos. O que significa um compromisso institucional de romper com ‘cultura’ que coisifica a infância e a juventude, retirando-os da condição de objetos e elevando-as à de autores da própria história, o que não é fácil, pois implica em mudança de valores, de ideias e de condutas.
Pode-se concluir que apesar de o ECA ser compreendido como um projeto com uma nova concepção de infância, uma nova maneira de gestão de política, um novo entendimento de justiça, propondo mais participação da sociedade, da criança e do adolescente, o que parece ser considerado bastante avançado no campo do Direito, para seus opositores e críticos, não basta.
De modo geral, o material jornalístico observado para este artigo utilizou os termos menino, criança, garoto, adolescente, criança em situação de vulnerabilidade (este último foi usado uma vez). No caso 2, é o que termo menor e menor infrator aparecem. Surgem tanto nas notícias específicas sobre a morte do menino Waldik quanto nas reportagens especiais sobre os temas correlatos aos conflitos com a lei envolvendo crianças e adolescentes.
Destaco um trecho publicado na coluna da ombudsman da Folha, no dia 3 de julho de 2016, quando avaliava a cobertura das mortes de crianças e jovens pela Polícia Militar e pela Guarda-Civil:
Infrator ou em conflito com a lei?
Reportagem da semana passada informava que "2 em cada 3 menores infratores não têm o pai dentro de casa". O uso da expressão "menores infratores" foi questionado pelo pesquisador Thiago Oliveira, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Propôs como alternativa usar "adolescentes em conflito com a lei". Pouco jornalístico.
O Manual da Redação sugere evitar o termo "menor", em benefício de vocábulos mais precisos, como "criança" ou "adolescente". O secretário de Redação Vinicius Mota não vê problema no uso do adjetivo "infrator" para descrever adolescente que cometeu, nos termos da lei e segundo os trâmites da Justiça, uma infração.
A meu ver, o problema é que, por vezes, usa-se o termo, sem a comprovação da infração.
O jornalismo parece não conseguir assumir a essas nomenclaturas aprovadas em lei, talvez por considerar que representa certo cerceamento da liberdade de escrita, além de ser pouco prática para títulos e ao esquema de escrever mais com menos palavras ou, ainda, “pouco jornalístico”, nas palavras da ombudsman da Folha.
Não há uma lógica visível para esse deslocamento semântico, mas uma pista é lançada no texto da ombudsman da Folha de S. Paulo, quando o secretário de redação defende o uso de infrator para quem tenha cometido infrações, nos termos da lei. Esbarra em uma questão ética de não realizar um julgamento prévio, antes mesmo de as autoridades responsáveis decidirem qual será o procedimento.
Como já foi apontado, a semântica do termo “menor/menores” foi construída ao longo de muitas décadas, a partir de um ideário de civilização, com características vindas da medicina e do direito. A dualidade “problema” e “solução” está muito presente nas reportagens. Além disso, a ideia dicotômica de distinção entre “menor” e “criança” está presente com bastante frequência. Predomina a visão do “menor problema”. Há sempre um adjetivo para complementar o substantivo “menor”, como carente, de rua, abandonado, infrator, delinquente, marginal. Pode-se perceber uma visão fatalista nas reportagens, como se as crianças, que enfrentam situações-problema, fossem irrecuperáveis. Para salvar uma criança, ideia vinda do fim do século XIX, é preciso muita dedicação do Estado e da sociedade.
Apesar de apresentar um esboço de compreensão, com a noção de estar afeto às crianças, algumas reportagens não conseguem escapar da visão dicotômica e maniqueísta da sociedade. Ou se é bom ou se é mau. Quando se é “menor carente”, está mais próximo da recuperação, mas se for tratado só como “menor”, a situação está bem mais complicada, o esforço de “salvar” é quase em vão.
A expressão menor – e suas derivações, como menor carente, menor de rua - está diretamente ligada ao contexto semântico da criança pobre, excluída, em recuperação, abandonada, criminosa ou com maior tendência a cometer um crime. Essa construção semântica se deu, no Brasil, desde o Brasil Império, e, conforme o problema social foi-se acentuando, medidas lideradas por médicos e juristas foram sendo pensadas para resolver a questão.
Lembrando que há uma legislação especial para crianças e adolescentes no Brasil, que merece ser cumprida e compreendida. Para essa lei, o ECA, a criança deve ser resguardada, por isso a recomendação com o tratamento semântico e o modo como se lida com as infrações. Não é função única do jornalismo, no entanto pode ser uma contribuição fundamental, traçar uma “estratégia compreensiva” acerca do tema e da lei, para ampliar o debate público.
Como aponta o estudo mais recente da Agência Nacional de Direitos da Infância (Andi – Comunicação e Direitos), de 2012, sobre como os jornais brasileiros abordam as temáticas relacionadas ao adolescente em conflito com a lei, analisando a cobertura de 54 diários entre 2006 e 2010, o jornalismo ainda tem dificuldade de expandir o relato a respeito dessa temática. Essa pesquisa aponta que a voz dominante na cobertura analisada é a voz oficial, ou seja, da Polícia Militar; o foco principal está no ato infracional, utilizando os depoimentos dos indivíduos envolvidos; as organizações da sociedade civil e os especialistas estão ausentes dos relatos; e a cobertura factual é a mais presente quando se trata de adolescentes em conflito com a lei. A associação à violência é apontada no estudo como a que mais aparece nos jornais analisados.
De certo modo, os elementos identificados no estudo da Andi (2012) são percebidos no material analisado neste artigo. No entanto, é preciso ressaltar que os dois casos descritos neste artigo envolvem crianças e não adolescentes. Os jornais cometem esse equívoco ao trazer como matérias complementares nos dias seguintes ao do acontecimento principal reportagens sobre adolescentes em conflito com a lei.
Considerações finais
Como afirma o historiador Stearns: “[...] as infâncias refletem as sociedades em que se inserem e também ajudam a construir essas sociedades, por intermédio dos adultos que surgem das crianças. A infância, nesse sentido, é uma chave única para a experiência humana maior” (2006, p.20). De alguma forma, toda criança precisa passar por determinados estágios de aprendizado para chegar à fase adulta e corresponder ao comportamento que se espera dela em determinado meio social.
Compreendendo a importância da identidade cultural dos povos, percebe-se a importância da leitura cultural, que é testemunhada pela arte e pelas narrativas da contemporaneidade, como recomenda a jornalista e pesquisadora Cremilda Medina (2003). Como proposição, Canclini (1983) aponta para ideia de agente cultural, o jornalista, também chamado por Medina, de leitor cultural, aquele que administra os sentidos do poder (pluralizando o poder), renovando-os ou revolucionando-os. Para tanto, é preciso preparação, formação específica e graduação em epistemologia da complexidade.
Ambos os jornais realizaram uma cobertura factual sobre os acontecimentos observados neste artigo. Como analista, ao ter acesso à sequência das matérias dos dois jornais como material de leitura, há uma sensação de fragmentação da informação, provocada desde a proposição das pautas, à divisão editorial dos conteúdos e ao destaque dado às matérias. Apesar de terem produzido materiais jornalísticos especiais com temáticas correlatas às matérias observadas, questiona-se se a fragmentação dessas informações, principalmente a partir da disposição gráfica dessas produções, não poderia causar mais “desinformação do que informação”, para usar as noções de Leão Serva (2001).
O jornalismo tem papel fundamental para a compreensão do mundo, de modo profundo e contextualizado. “O texto de jornal deve ter agilidade, precisão, clareza, mas nada impede que tenha detalhes, que reproduza o contato com a vida, que desperte ternura ou emoção”, como afirma Vicchiatti (2005, p.84). Complementando essa ideia, Edgar Morin (2000) diz que a informação sozinha, fragmentada, é só um ruído. Para ele, é o conhecimento que organiza a informação em um contexto e realiza o confronto de ideias em um conjunto. Não se trata aqui de uma defesa de uma razão pura, pois como escreve o próprio Morin (2005, p.27): “[...] não há racionalidade sem afetividade. Precisamos de uma dialógica entre racionalidade e afetividade, uma razão mesclada com o afetivo, uma racionalidade aberta.”
De acordo com os autores, a renovação ou a inovação do jornalismo pode estar na busca da humanização como um elemento fundante, proporcionando proximidade e identificação com o leitor. Transformar o “José Santos, 16” em um homem com história, profissão, características pessoais, físicas, atributos de um ser humano que habita um lugar que o transformou no que é e que também modificou o lugar em que vive.
Nesse contexto, as narrativas da contemporaneidade, na concepção de Medina (2014), podem contribuir para a abertura dos campos sensíveis de observação e entendimento do ser humano no jornalismo, pois busca a compreensão do que os profissionais identificam como modelo na prática da profissão. Mais do que um modo de narrar uma história, é necessário investigar a produção e a compreensão da reportagem, com o objetivo de tornar o jornalismo pleno na tríade ética-técnica-estética.
Referências
ADORNO, Sérgio. Criança: a lei e a cidadania. In: RIZZINI, Irene (org.). A criança no Brasil hoje: desafio para o terceiro milênio. Rio de Janeiro: Editora Universitária Santa Úrsula, 1993. p.101-112.
ANDI – Comunicação e Direitos; SECRETARIA de Direitos Humanos da Presidência da República. Direitos em pauta: imprensa, agenda social e adolescentes em conflito com a lei. Como os jornais brasileiros abordam as temáticas relacionadas ao adolescente em conflito com a lei? Uma análise da cobertura de 54 diários entre 2006 e 2010. 2012. 96 p. Disponível em: <https://bit.ly/2wgJOB7>. Acesso em: 20 fev. 2019.
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: ______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre a literatura e história da cultura. 7.ed. São Paulo: Brasiliense: 1994. p.197-221.
CANCLINI, Nestor García. As culturas populares no capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983.
LEANDRO, Paulo Roberto; MEDINA, Cremilda. A arte de tecer o presente. São Paulo: Média, 1973.
MARANGONI, Ana Maria. Trabalho de criança é pouco, mas quem perde é louco. In: MEDINA, Cremilda; GRECO, Milton (orgs.). Sobre vivências no mundo do trabalho. São Paulo: ECA/USP / CNPq, 1995. p.59-61.
MARCÍLIO, Maria Luiza. História social da criança abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998.
MEDINA, Cremilda. Atravessagem: reflexos e reflexões na memória de repórter. São Paulo: Summus, 2014.
MEDINA, Cremilda. A arte de tecer o presente: narrativa e cotidiano. São Paulo: Summus, 2003.
MORAGAS, Miquel de. Cultural identity, communication spaces and democratic participation, in Communication and cultural identity, Actes del XVI Congreso de la AIERI-IAMCR, Barcelona: UAB / AIERI-IAMCR, 1988.
MORIN, Edgar. Para além do Iluminismo. Revista Famecos, Porto Alegre, nº 26, quadrimestral, p.24-28, abril de 2005.
MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
RIZZINI, Irene. O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. Rio de Janeiro: Petrobrás-BR/Ministério da Cultura/ USU Ed. Universitária/Amais, 1997.
RIZZINI, Irene. Crianças e menores – do Pátrio Poder ao Pátrio Dever. Um histórico da legislação para a infância no Brasil. In: RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco (org.). A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 2.ed. rev. São Paulo: Cortez, 2009. p.97-149.
RIZZINI, Irma. O elogio do científico: a construção do “menor” na prática jurídica. In:RIZZINI, Irene (org.). A criança no Brasil hoje: desafio para o terceiro milênio. Rio deJaneiro: Editora Universitária Santa Úrsula, 1993. p.81-99.
RIZZINI, Irene. Meninos desvalidos e menores transviados: a trajetória da política da assistência pública até a Era Vargas. In: RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco (org.). A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 2.ed. rev. São Paulo: Cortez, 2009. p.225-286.
SERVA, Leão. Jornalismo e desinformação. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: SENAC São Paulo, 2001.
SODRÉ, Muniz; FERRARI, Maria Helena Técnica de reportagem: notas sobre a narrativa jornalística. São Paulo: Summus, 1986.
SOUSA, Jorge Pedro. Uma história crítica do fotojornalismo ocidental. Chapecó: Grifos; Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2000.
STEARNS, Peter N. A infância. São Paulo: Contexto, 2006.
STEINBERG, Shirley R.; KINCHELOE, Joe L. (orgs.). Cultura infantil: a construção corporativa da infância. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
VERONESE, Josiane Rose Petry. Entre violentados e violentadores? São Paulo: Cidade
Nova, 1998.
VICCHIATTI, Carlos Alberto. Jornalismo: comunicação, literatura e compromisso social. São Paulo: Paulus, 2005.
VOGEL, Arno. Do Estado ao Estatuto. Propostas e vicissitudes da política de atendimento à infância e adolescência no Brasil contemporâneo. In: RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco (org.). A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. 2.ed. rev. São Paulo: Cortez, 2009. p.287-321.
Data de Recebimento: 19/11/2018
Data de Aprovação: 15/02/2018
[1] Como o jornal Folha de S. Paulo é chamado por seus leitores.
[2] Como o jornal O Estado de S. Paulo é chamado por seus leitores.
[3] O tema é muito rico para um debate amplo e complexo, desde o aspecto legislativo até aspectos sociológicos e antropológicos, que mostrariam a construção dos ideais do não trabalho para crianças e da permissão controlada do trabalho para crianças com intenções educadoras.
[4] Para este artigo, a revisão histórica foi bastante sintetizada, buscando apontar os principais elementos que indicam a compreensão de uma possível construção de sentidos sobre a infância e a adolescência abandonada, a partir da tessitura entre sociedade, Estado e direito.
[5] Cada palavra, termo, expressão pode ganhar distintos significados sociais, econômicos e políticos, portanto, simbólicos. Desse modo, parece importante para o jornalismo dar espaço a essa reflexão semântica por sua presença nesse quadro da produção social dos sentidos.
1
Exibindo 1 de 1