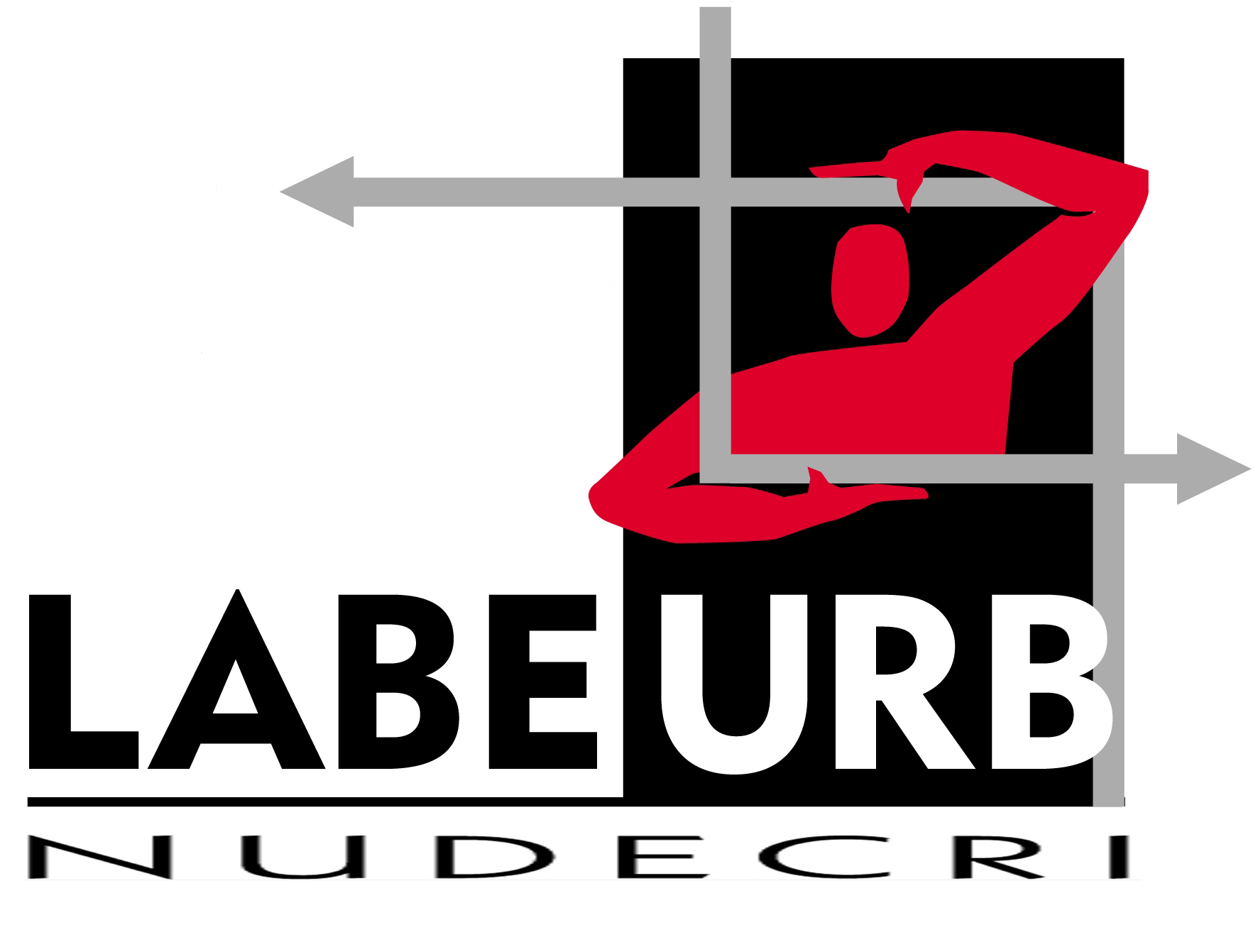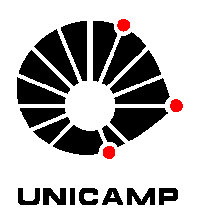Patrimônio Incendiário: Monumentos bandeirantes e embate de memórias em São Paulo


Lucas Bená de Oliveira
Paulo Cezar Nunes Junior
Introdução
Ao longo da história, o fogo sempre esteve carregado de forte simbolismo. Desde os tempos antigos, tal elemento aparece em ligação com desenvolvimento humano, em diferentes épocas e narrativas mitológicas: o ressurgimento da fênix como representação de vida e recomeço; as labaredas do inferno como castigo eterno; as fogueiras da inquisição, o atear fogo como punição por heresia e/ou rebeldia política; a chama redentora ou destruidora de diferentes civilizações, as labaredas ceifadoras de vidas ou promotoras da vontade de mudança. Nessa jornada estão presentes, também, incêndios de diferentes tipos, intencionais, acidentais ou criminosos, acometendo florestas, museus e patrimônios múltiplos; e também aqueles ligados às manifestações sociais, às maneiras de trazer à tona memórias apagadas para que o tempo presente seja questionado e, sobretudo, transformado. A partir desta problemática geral e, mais especificamente, sobre o embate de memórias entre narrativas em disputa nos imaginários sociais, estética urbana e documentos históricos, este artigo propõe tecer um recorte a partir dos monumentos bandeirantes localizados no estado de São Paulo.
O fato que motivou a realização deste estudo foi o episódio de incêndio ocorrido no município de Santo Amaro, em 24 de julho de 2021, quando um grupo de ativistas ateou fogo em pneus na base da estátua do bandeirante Borba-Gato, fazendo com que as chamas atingissem rapidamente toda a sua estrutura (G1, 2021). Na época, tal manifestação colocou no centro das atenções a indagação sobre a monumentalidade pública ligada a figuras de opressão no território brasileiro, que protagonizaram fatos de silenciamento, perseguição e genocídio de identidades marginalizadas no país. Ressignificar é o verbo que aparece para ajudar-nos a refletir sobre o ocorrido, uma vez que a história não é um conceito estático, mas em plena disputa, feita de representações do passado que reverberam, ininterruptamente, possibilidades no presente.
Associado a essa dinâmica, há, também, o vaivém que coordena os avanços e recuos da luta de diferentes povos no desenvolvimento das civilizações, como no caos da chama e das labaredas. Nessa direção e seguindo o simbolismo do fogo, Bachelard (2008, p. 119) sugere que: “[...] é pela contradição que se chega mais facilmente à originalidade [...] As contradições acumulam-se para conservarem o valor do fogo” (Bachelard, 2008, p. 120). Reforçando o movimento dialético presente tanto nas disputas sociais quanto na natureza psíquica do fogo, o autor diz ainda que existe “[...] uma intimidade do fogo cuja função será contradizer as aparências do fogo. O que se deixa transparecer é sempre diferente daquilo que em realidade é” (Bachelard, 2008, p. 120).
Ilustrando essa dinâmica, grupos antes ofuscados agora lutam para dar voz a memórias apagadas, por meio do avivamento de suas identidades e pautas em debate. Sob a perspectiva da nova história cultural, e compreendendo o espaço como produtor e produzido das/pelas relações sociais (Camargo, 2021), é possível atrelar a discussão da monumentalidade bandeirante às disputas simbólicas contemporâneas. Nesse sentido, a historiadora Denise Moura (2021) adverte que a escolha de nomes de ruas não é um ato inocente, mas está condicionada às relações de poder existentes. O mesmo se aplica a outros logradouros públicos, estátuas e edifícios.
Monumentos são construídos com uma finalidade bem desenhada: homenagear aqueles que correspondem aos padrões e ideais impostos pelos grupos mais bem colocados na hierarquia social. Assim, no Brasil, a figura concebida como bandeirante foi criada para atender às necessidades de identificação das elites cafeeiras paulistas e, a partir disso, criou-se uma nova alma, dando imagem a um estado em pleno desenvolvimento urbano (Moura, 2021, p. 1). As memórias não são retratos da realidade e, diante das lacunas criadas sobre a identidade paulista, uma “imagem bandeirante” tem sido decantada no processo de desenvolvimento urbano nacional, por meio do planejamento de monumentos públicos, da construção de estátuas, da nomeação de praças, ruas e rodovias. Em acordo com este raciocínio, foram edificadas estruturas físicas que despertam em certos povos memórias delicadas, denominando aquilo que Piubel e Mello (2021, p. 57) entendem por “patrimônio sensível”. É justamente na fenda destas feridas históricas em aberto que este artigo se desenha.
Motivado pela intensa chama que toca, de forma literal ou simbólica, os patrimônios bandeirantes do Estado de São Paulo, as contradições das aparências do fogo (Bachelard, 2008, p. 120), o estudo teve por objetivo principal refletir sobre os laços estabelecidos entre patrimônio, memória, território e poder a partir do incêndio da Estátua de Borba Gato. O processo de elaboração intelectual deste artigo convoca, por conseguinte, diferentes chamas que despertam antigas dores e labaredas que tem por intenção reavivar desejos de mudança. Nesse sentido, a ressignificação da monumentalidade pública nacional coloca-se como mote de problematização do território paulista e possibilidade de criação de novas narrativas para superar nosso passado colonial e imaginário desenvolvimentista.
Metodologia
De caráter qualitativo e exploratório, o artigo em tela foi desenvolvido buscando relacionar temas como território, construção de memórias coletivas e conflitos sociais. A partir de uma revisão bibliográfica não exaustiva sobre os temas citados, palavras como “memória”, “monumentalidade”, “patrimônio”, “bandeirantes”, “movimentos sociais” e “São Paulo” foram combinadas de diferentes formas nas ferramentas de busca do portal “Periódicos Capes”.
Em seguida a esta fase inicial de leitura de literatura científica, matérias jornalísticas e obras literárias sobre os temas “mito bandeirante” e “história bandeirante” foram consultadas como fontes de pesquisa, além de websites e documentos históricos de domínio público relacionados ao tema.
A partir de buscas livres em diferentes plataformas na Internet, foram mapeados casos recentes de protestos ocorridos em monumentos bandeirantes no Estado de São Paulo, com atenção especial ao monitoramento de materiais sobre o incêndio que acometeu a estátua de Borba-Gato, precisamente no dia 24 de julho de 2021 (G1, 2021). É importante ressaltar, também, que as imagens usadas para este estudo foram encontradas em portais online de notícias e jornais que pautaram matérias sobre as manifestações de grupos civis junto aos monumentos bandeirantes nos últimos anos.
Para a análise de imagens, foi empregada a metodologia Forma Atlas, concebida pelo historiador da arte Aby Warburg. Tal método consiste em dispor diversas imagens em uma prancha de fundo negro, vistas com relação umas às outras sem, no entanto, se tocar. Jane Maciel (2018) destaca a importância do método de Warburg ao considerar a imagem expressiva em si mesma, ao mesmo tempo em que está inserida e rodeada por contextos sociais, históricos, econômicos e políticos. Uma prancha da “Forma Atlas” mostra a potência de cada imagem, mas, simultaneamente, considera seu significado diante das outras imagens que a cercam. Desse modo, e ainda segundo o artigo da pesquisadora, uma mesma imagem denota diferentes significados ao ser colocada em uma nova constelação de imagens, na mesma direção da contradição apontada em Bachelard (2008). Além de manter-se dependente da memória e da construção social do observador – aquele que lê uma imagem e aplica a ela seus próprios enfoques e interpretações –, a imagem é, ela mesma, subjetiva, ocultando também aquilo que não quer ver ou não deseja discutir (Maciel, 2018). Sobre este assunto, o pesquisador de imagens Georges Didi-Huberman (2012) diz que não há imagem sem imaginação e que uma imagem “arde em seu contato com o real” (Didi-Huberman, 2012, p. 208). Na metodologia Atlas, as lacunas negras em torno das imagens são como caminhos por onde o observador atribui seus próprios significados, a partir de colagens próprias e novos modos de significação.
Memória, mito bandeirante e identidade paulista
Memória e identidade são termos centrais para pensarmos o passado e o presente de um povo. A maneira pela qual uma comunidade enxerga sua história determina como ela se vê e se porta na atualidade. Figuras humanas, insígnias pátrias, cenas epopeicas e temas escolhidos para a feitura da monumentalidade pública dizem muito sobre o imaginário social de um lugar, a representatividade de um povo, os padrões vigentes na determinação dos territórios. A forma urbana, além de referir-se a questões históricas, identitárias e de memória, também diz respeito à representatividade dos grupos que compõem uma sociedade. Povos marginalizados, por vezes, não se veem em monumentos públicos e sua história acaba tornando-se alheia à memória coletiva colocada em circulação nos territórios que habitam.
A lembrança não é uma representação fiel da realidade, pelo contrário, ela é uma “reconstrução do passado” feita por indivíduos que pertencem a um grupo social e que não está alheio ao seu contexto, tal como pontua o autor Halbwachs (apud Silva, 2016). A memória individual, na verdade, é um ponto de vista sobre a memória coletiva e, nesse sentido, ambas as memórias possuem enfoques, distorções e elementos ocultos, acompanham um grupo vivo e estão abertas à discussão (Nora, 1993; Camargo, 2021).
Halbwachs (apud Silva, 2016 p.248) assina ainda que “o sujeito que lembra está inserido na sociedade na qual sempre possui um ou mais grupo de referência”, logo, pode-se dizer que a memória individual e coletiva também sofrem influências significativas das relações de poder vigentes, uma vez que os grupos mais bem posicionados na hierarquia social criam mecanismos diversos para manipular a história a seu favor e induzir efeitos de sentido que valorizem “heróis” e “feitos”, como se estes fossem os reais fatos ocorridos. Tal processo, inclusive, pode servir como forma de manter o poder nas mãos de grupos dominantes.
Segundo Miranda (2019), quando lembranças dizem respeito a uma comunidade, elas passam a ser tidas como patrimônio desse grupo e as informações concebidas como mais relevantes são passadas adiante, construindo-se lugares de memória, espaços onde a identidade coletiva é manifestada (Nora, 1993). Assim, a identidade de um povo é constituída por sua memória coletiva – aquilo que foi criado, lembranças sobreviventes de seu processo histórico e cultural, onde os pontos tidos como relevantes aparecem de forma verbal, documental e material, em detrimento do apagamento de outros.
Nessa dinâmica, determinadas figuras são escolhidas, intencionalmente e dentro de um sistema de poder, como heróis, representantes de uma dada comunidade. Por conseguinte, ocorre a distorção de contextos pela relatividade da história e pelas intenções daqueles que escolhem quais personagens louvar (Miranda, 2019). Esse processo de seleção e criação da memória coletiva é o que determinou e ainda determina a tomada dos bandeirantes como representantes da identidade do estado de São Paulo, isto é, como símbolo que retrata a “bravura” do povo paulista em comparação aos demais estados e suas populações.
Piubel e Mello (2021, p. 59) afirmam que memórias não devem ser tidas como verdades absolutas, já que estão sujeitas às demandas políticas de uma comunidade, assim como ao silenciamento, ao esquecimento e ao tempo. No contexto brasileiro, tais demandas políticas partiram, e ainda partem, dos grupos que governam: as elites brancas, as quais se constituem dentro de outros tantos padrões normativos derivados do eurocentrismo e do colonialismo, e que querem se ver representadas na história – não como vilãs ou de forma a serem questionadas, mas como heroínas que precisam ser aclamadas e, dessa maneira, dignas de governar. As autoras, então, traçam um paralelo entre a subjetividade da memória coletiva e a ascensão dos bandeirantes como representantes do pioneirismo do estado de São Paulo, dizendo que o mito bandeirante se constituiu a partir de uma demanda identitária dos paulistas, em especial da elite cafeeira (Moura, 2021). Isso, pois em meados do século XIX, frente ao crescimento econômico e populacional exponencial de São Paulo devido à produção de café, os paulistas precisavam se ver representados de alguma forma que os legitimasse. Assim, os bandeirantes foram escolhidos como os desbravadores de São Paulo, bravos guerreiros de quem a elite cafeeira era herdeira (Moura, 2021).
Assim, citam Piubel e Mello:
[...] percebemos que houve a construção de um mito dos bandeirantes como herois nacionais, silenciando sobre como esses homens, ao longo dos séculos XVI e XVII, caçavam populações indígenas e as escravizavam. Segundo Monteiro (1994), os bandeirantes inventavam guerras justas ou diziam que estavam em busca das minas de metais preciosos, mas retornavam na maioria das vezes somente com cativos e sem riqueza mineral (Piubel e Mello, 2021, p. 66).
Diante do exposto, fica evidente que a construção dessa memória estadual, coletiva aos paulistas, esteve ligada à sua elite cafeeira, a qual distorceu a história apagando o massacre de etnias indígenas, segundo a tentativa de estabelecer a “ideia de uma colonização sem conflitos” (Piubel e Mello, 2021, p. 59).
O mito bandeirante, então, atendendo aos interesses de um grupo específico para mantê-lo no poder e assegurar a aceitação pública, foi se construindo fisicamente no espaço urbano de São Paulo, materializando os ideais políticos de seus grupos dominantes e assegurando que eles estivessem presentes no dia-a-dia do cidadão paulista, moldando cada vez mais a memória coletiva à valorização de figuras colonialistas e ao esquecimento e discriminação dos povos que não correspondiam ao padrão de herói.
Os monumentos, estátuas e vias nomeadas em homenagem aos bandeirantes, sendo erguidos com o intuito proposital de louvar certos grupos em detrimento de outros, portanto, se constituem como o que as autoras Piubel e Mello (2021) denominam patrimônios sensíveis, os quais, à luz do fogo que alimenta os movimentos sociais atuais, com enfoque para a luta indígena e antirracista, se tornaram alvo de questionamentos e manifestações por parte de movimentos sociais. Tais ações políticas e sociais mostram o anseio para que a história seja contada pela visão dos povos marginalizados historicamente, ressoando como grito pela decolonialidade. Nesse contexto, tem início a necessidade de pensarmos sobre quais narrativas precisamos estampar nas ruas, avenidas, praças e monumentos públicos.
Partindo desse pressuposto, cabe-nos, portanto, o entendimento de que a narrativa bandeirante não nos foi dada como memória espontânea, mas sim, criada diante de um contexto e com determinada finalidade, como sugerem os autores e argumentos anteriormente apresentados. A construção do mito bandeirante ajudou a determinar a forma como o espaço público está arquitetado para a manutenção de nossas narrativas coletivas, estabelecendo vínculos indissociáveis entre memória, sujeito e espaço urbano que precisam ser, cada vez mais, investigados.
4. BORBA GATO E O EMBATE DE MEMÓRIAS NO ESPAÇO URBANO
De acordo com a matéria intitulada “Estátua de Borba-Gato é incendiada em São Paulo”, divulgada pelo portal de notícias G1 durante o episódio ocorrido, o monumento foi queimado no dia 24 de julho de 2021 por ativistas do grupo “Revolução Periférica” (G1, 2021). Desembarcando de um caminhão nas proximidades do cruzamento entre a Avenida Santo Amaro e a Rua Bela Vista, na zona metropolitana paulista, os manifestantes rodearam os pés da estátua com pneus e, em seguida, atearam fogo. As imagens 1 e 2, que circularam nos canais de mídia e redes sociais na época, mostraram que o monumento ardia sob labaredas intensas, embora sua estrutura não tenha sofrido prejuízos graves.
Imagens 1 e 2 - Revolução Periférica

Fonte: G1; Foto por: Gabriel Schlickmann/Estadão Conteúdo1
Como apontado na matéria “STJ decide soltar suspeito de atear fogo na estátua de Borba Gato em SP”, assinada por Tomaz e Backes (2021), no dia 28 de julho de 2021, quatro dias após o incêndio, Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como Paulo Galo, líder do movimento articulador da ação, foi preso após apresentar-se espontaneamente na delegacia como autor do protesto. No dia 10 de agosto daquele mesmo ano, depois de 14 dias de prisão, o autor confesso foi solto após a decisão ter sido revogada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (UOL Notícias, 2021). Outros envolvidos que haviam sido detidos também foram liberados na ocasião, quando o juiz responsável, Eduardo Pereira Santos Júnior, atribuiu à prisão do ativista e de seus companheiros caráter mais político do que criminal.
Na época, o líder do Coletivo Revolução Periférica afirmou que o fogo foi ateado para abrir o debate sobre a existência e permanência do monumento. Galo, em suas redes sociais, questionou quem a sociedade insiste em homenagear: “Para aqueles que dizem que a gente precisa ir por meios democráticos, o objetivo do ato foi abrir o debate. Agora, as pessoas decidem se elas querem uma estátua de 13 metros de altura de um genocida e abusador de mulheres” (Tomaz e Backes, 2021). A própria prisão de Galo (Imagem 3) também foi motivo de comoção nas redes sociais e caiu nas mãos de figuras públicas como o artista Mano Brown, que afirmou, uma vez mais, o caráter de silenciamento demonstrado pela detenção do líder do protesto.
Imagem 3: #LiberdadeParaGalo

Fonte: Instagram2
Curiosamente, no ano anterior ao incêndio, diversos crânios feitos de material carnavalesco foram dispostos aos pés da estátua de Borba-Gato (Imagens 4 e 5) e outros ícones bandeirantes distribuídos em diferentes pontos emblemáticos da cidade (Vieira, 2020). A estátua de Anhanguera (Imagem 6), na Avenida Paulista, e o Monumento às Bandeiras (Imagem 7), junto ao Parque do Ibirapuera, também receberam tais adereços. A autoria da intervenção foi assinada pelo movimento denominado “Grupo de Ação”, justificada pelo argumento de “questionar as homenagens e ressignificar as estátuas sem destruí-las” (Vieira, 2020, p. 1).
Imagens 4 e 5: Crânios na estátua de Borba-Gato
. 
Fonte: Vieira, 2020. Foto: Grupo de Ação3
Imagem 6: Crânios na estátua de Anhanguera

Fonte: G1; Foto: Grupo de Ação5
Imagem 7: Crânios no Monumento às Bandeiras

Fonte: G1; Foto: Grupo de Ação5
Em outra intervenção registrada em matéria para o portal de notícias G1, no ano de 2013, o jornalista Marcelo Mora (2013) descreve que manifestantes intervieram com tinta vermelha no Monumento às Bandeiras, em meio a um protesto mobilizado por grupos indígenas para exigir o direito à demarcação de suas terras (Imagem 8). Os agentes da manifestação escreveram a frase “bandeirantes assassinos” na estátua, demonstrando publicamente sua indignação contra a PEC2154 (Imagem 9).
Imagem 8: Manifestação no Monumento às Bandeiras

Fonte: G1/ Foto por Marcelo Mora5
Imagem 9: Protesto contra a PEC 215

Fonte: G1; Foto: Felipe Rau/Estadão Conteúdo6
Mesmo com a circulação do pensamento decolonial no Brasil contemporâneo, a história e o mito bandeirante ainda têm forte simbolismo no território brasileiro, sobrepondo-se, ainda, a uma monumentalidade que privilegia a existência e a resistência de povos dominados. Além disso, o território de indivíduos pertencentes a tais grupos é, muitas vezes, menos protegido do que o próprio espaço ocupado por monumentos de figuras históricas opressoras nas metrópoles e nos centros urbanos do Brasil, indicando como a ameaça a monumentos pode afrontar a reprodução de uma memória que concorre para a manutenção das desigualdades existentes.
Quando a estátua de Borba-Gato ardeu em chamas, em 2021, bombeiros chegaram rapidamente para controlar o fogo e, ao mesmo tempo, policiais militares se mobilizaram para encontrar os autores do incêndio (G1, 2021). Não obstante, após o ocorrido, a Guarda Municipal Metropolitana de São Paulo informou que iria aumentar as rondas na área onde localiza-se o monumento. Contraditoriamente, no ano anterior, como apontado na matéria escrita por Muniz, Fonseca e Ribeiro (2020), “Incêndios já tomam quase metade das terras indígenas no Pantanal”, ou seja, mais da metade das terras indígenas do Pantanal haviam sido afetadas pelas queimadas na região: 200 focos de incêndio em agosto e 164 em setembro de 2020. Neste caso, as ações de contenção dos danos demoraram para ser tomadas pelos órgãos responsáveis, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e a Fundação Nacional do Índio. Tal contraponto explicita a prioridade dos aparelhos institucionais junto a determinadas pautas, indicando a não neutralidade do Estado e a estreita relação entre interesse político e perpetuação de certos sentidos e poderes.
Diante de todo o exposto, é possível traçarmos um paralelo entre os dois acontecimentos e a importância da monumentalidade bandeirante no Brasil, em detrimento à defesa dos territórios indígenas. De acordo com as fontes consultadas no andamento da pesquisa (Tomaz e Backes, 2021; G1, 2021), a pronta resposta das autoridades no cuidado à estátua incendiada foi notória, comparada à leniência dos órgãos responsáveis na tomada de ações protetivas das terras indígenas durante as queimadas de 2020, no Pantanal. Delineando melhor este comparativo, os incêndios que “queimam” direitos humanos básicos são preteridos àqueles que ferem as estruturas institucionais e a moral de governança brasileira. Tais discussões nos levam, por fim, a questionar por que há diferença de tratamento por parte do Estado no combate aos distintos incêndios, com base no pressuposto da contrariedade de Bachelard (2008).
É através das manifestações patrimoniais que os diversos grupos que compõem uma sociedade diversa e plural se reconhecem e criam sua identidade. Mais do que apenas objetos materiais, monumentos públicos são simbólicos e políticos e, na maioria das vezes, infelizmente ainda não condizem com os significados positivos requeridos por setores minoritários da população (Ramos; Esteban, 2020).
Protestos não são eventos isolados, são integrantes de uma rede complexa de lutas sociais e busca por representatividade. O incêndio promovido pelo movimento Revolução Periférica e a interação dos crânios liderada pelo Grupo Ação mostram que o patrimônio é algo vivo: as percepções que se têm sobre ele mudam conforme nossas dinâmicas sociais e, portanto, deixam suas interpretações, quase sempre, instáveis. É por conta desse caráter transitório que os monumentos não continuam firmes em suas posições sem serem questionados. Devido a essa demanda por ressignificação, as discussões sobre o revisionismo de antigas figuras protagonistas estão cada vez mais em voga, além da busca por novos paradigmas referentes à monumentalidade pública.
Como exemplo, pode-se citar o Projeto de Lei (PL) 422/2020, da deputada Monica Seixas, para troca da estátua do bandeirante Anhanguera, localizada em frente ao Parque Trianon na Avenida Paulista, para uma do patrono da abolição da escravidão no Brasil, Luiz Gama. Já o PL 394/2020, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, traz a proposta de alteração de quatro rodovias do estado de São Paulo: ao invés de homenagear bandeirantes, a ideia é que tais rotas façam menção às lideranças negras e povos indígenas do país: a Raposo Tavares passaria a se chamar Dandara, a Castello Branco receberia o nome de Carlos Marighella, a Rodovia Anhanguera seria batizada de Tupi e, por fim, a Rodovia Bandeirantes se chamaria Guarani (Oliveira, 2021).
Nesta direção, este artigo visa enfatizar que as manifestações direcionadas aos monumentos bandeirantes, e até mesmo o anseio pela derrubada de tais patrimônios, não são uma forma de apagar nossa memória coletiva. Pelo contrário, é o desejo de que ela seja contada de outras maneiras, contextualizada a partir do ponto de vista de povos que pouco foram ouvidos na formação social e histórica do Brasil.
Imagens incendiárias e ressignificação da monumentalidade pública
Desde a última década, a memória coletiva bandeirante presente no espaço urbano paulista tem se chocado com novas demandas de ressignificação do território, nas quais o legado indígena e o de outros povos marginalizados têm insistido por representação via monumentos públicos. Isso porque regiões emblemáticas de municípios paulistas resguardam figuras como Antônio Raposo Tavares, Fernão Dias Pais Leme e Julio Domingues Pereira, enquanto comunidades esquecidas no processo de construção da memória coletiva do Estado estão fora dos centros urbanos e, em grande parte, marginalizadas em territórios periféricos.
Rodrigues (2009) aponta que a monumentalidade do espaço urbano é algo que vai além do conceito do próprio monumento - transcende o concreto e insere-se na categoria abstrata ao ponto de carregar diversos significados econômicos, políticos e sociais. Ela dialoga com a sociedade que a rodeia - é construída pela sociedade e reverberada pelas gerações futuras. Le Goff (1985, apud Rodrigues, 2009) ressalta que a estátua, como um objeto físico, e a monumentalidade, como sua representação simbólica, detém variados significados com as estruturas de poder vigentes: “[...] o monumento serve de testemunho do poder. Poder esse que deseja ser legado à memória coletiva a fim de tentar perpetuar-se, ‘fazendo recordar’ às gerações futuras de sua existência, e, mais que isso, ‘avisando’ e ‘instruindo-as’ sobre sua força” (p. 3).
No caso dos monumentos bandeirantes, eles se colocam em espaços diários e se espalham, quase que como entidades, pelo território paulista: determinam os modelos a serem seguidos, fortificando uma noção de identidade criada e compatível com as classes detentoras do poder. Além disso, excluem e marginalizam os povos que não seguem o ideal por eles difundido, erguendo-se em locais centrais e vitais à vivência e sobrevivência urbana. São representações ao nível cotidiano e físico de ideais parciais e, muitas vezes, opressoras. Por todos esses motivos, os protestos sob estátuas e demais ícones bandeirantes dispostos no espaço urbano são verdadeiras disputas por representatividade, embates de imaginários, batalha entre a memória coletiva criada pelo poder vigente e disposta pelo estado de São Paulo na forma de estátuas e nomeações, e a memória e ancestralidade dos povos oprimidos no Brasil, em especial negros e indígenas.
Para entender a luta pela ressignificação dos “patrimônios sensíveis”, isto é, aqueles que perpetuam memórias dedicadas a certas comunidades marginalizadas (Piubel; Mello, 2021), será utilizada a Forma Atlas de Aby Warburg para interpretação de imagens, conforme elucidado na seção metodológica. A prancha da Imagem 10 busca problematizar o simbolismo do fogo em diálogo com a monumentalidade bandeirante paulista em dois movimentos: um primeiro, sobre o incêndio simbólico da vontade de mudança e busca por ressignificação dos monumentos dentro das lutas sociais e do embate de memórias frente à epopeia bandeirante; e um segundo, sobre o incêndio literal ocorrido na estátua de Borba-Gato, que traduziu-se pelas imagens de labaredas e fumaças de um protesto que exigia mudanças no imaginário de poder no espaço público. As imagens precisam ser lidas, ainda, a partir do diálogo entre os monumentos “intactos” e os submetidos às diversas intervenções sociais que presenciamos nos últimos anos.
A partir da imagem do incêndio na Estátua de Borba-Gato, ao centro, é possível entendermos as representações reais e metafóricas do fogo, a mediação de poder entre grupos civis e Estado. Borba-Gato ardeu em chamas, metafórica e literalmente, mas outros protestos incendiaram simbolicamente as demais estátuas da prancha - corroborando o embate de memórias no espaço urbano monumental paulista.
A prancha pretende-se ilustrar, pela possibilidade de cada imagem arder ao tocar o real (Didi-Huberman, 2012), a memória criada pela história bandeirante entre os diversos monumentos e nomeações, em importantes vias públicas e pontos de referência de São Paulo. Além de ser capaz de construir tessituras dialéticas entre as imagens através do fundo abissal da memória proposto por Warburg (Maciel, 2018), na cor preta, o emolduramento que separa cada imagem tem a função de criar um laço invisível e imperceptível, responsável por conectar cada monumento, incutindo aos seus indivíduos símbolos imaginários que, na maioria das vezes, não atendem à identidade da população. As estátuas erguem-se em territórios centrais e de grande valor econômico e social, resguardando suas posições e (re)conduzindo heróis e, ao mesmo tempo, silenciando dizeres de um território tão plural e diverso.
Borba-Gato incendeia e seu fogo, para lá das chamas físicas, propaga-se entre as lacunas que o separam das demais imagens. À sua maneira, cada foto arde ao tocar as feridas daqueles que tiveram seus direitos negados para que estátuas bandeirantes se erguessem sobre sua vista. Colocadas em conjunto, elas representam o anseio flamejante pela ressignificação e pela reparação histórica tão presentes nesse momento histórico do país.
Imagem 10 - Prancha: por uma ressignificação dos monumentos bandeirantes

Montagem do arranjo: autores
Idealizados e dispostos em espaços estratégicos dos espaços urbanos por aqueles que detém o poder, monumentos são responsáveis por criar nos cidadãos uma memória coletiva induzida e que se contrapõe a outras narrativas - à cultura e à história daqueles que não seguem o padrão estabelecido pelas estruturas de poder vigentes. A importância da prancha como dado de interpretação das disputas contemporâneas por novas narrativas recai, exatamente, neste ponto: busca tecer o contraponto entre a memória criada pela classe dominante e a memória que se deseja fazer brilhar sob as cinzas da antiga narrativa colonial desenvolvimentista. Colocadas para funcionar como pontos de uma dinâmica constelação política e social, por fim, as imagens ilustram o próprio processo de ressignificação da “epopeia bandeirante” para a construção de novos significados sobre os monumentos, as figuras e o contexto que os cercam.
Conclusões
O presente trabalho buscou relacionar quatro pontos: patrimônio, território, poder e memória, os quais se interligam a partir da metáfora do fogo, servindo como alegoria para demonstrar a disputa por representatividade no espaço urbano paulista e as contradições envolvidas em tal processo. Além disso, o artigo buscou explicitar como determinados monumentos são eficazmente protegidos pelo Estado, em contraposição a espaços e grupos, aparentemente, mais relevantes, deixados à deriva. A despeito da interdição do aparelho repressor, diferentes intervenções disputam a ressignificação da cidade, abrindo brechas para o reconhecimento de povos historicamente marginalizados. Criada a partir de demandas identitárias, as quais, na maioria das vezes, estão sob o controle dos grupos que detém o poder, a memória se traduz e materializa nos patrimônios dispostos no espaço urbano. Os ditos heróis guardam, imponentes, o coração das cidades, enquanto o território é construído de forma a segregar e marginalizar os grupos que não correspondiam, e ainda podem não corresponder, ao padrão idealizado pelo discurso hegemônico.
Às elites interessa mais a proteção de seus mitos, de sua identidade, do que a atenção aos povos historicamente vulneráveis. Muito mais que um protesto único e alheio, o incêndio na estátua de Borba-Gato foi e é parte de um processo histórico complexo e marcado por desigualdades sociais e disputas políticas. Nesse sentido, a prancha construída a partir da Forma Atlas de Aby Warburg busca despertar no leitor o fogo da revolução, partindo das chamas ateadas no bandeirante e incendiando, simbolicamente, os outros monumentos de iconoclastia homônima.
Desse modo, a contribuição que o pesquisador das imagens Georges Didi-Huberman (2012) traz, de que cada imagem “arde ao tocar o real”, torna-se ainda mais potente levando em conta a metáfora do fogo - cada imagem incendeia ao se aproximar do contexto de luta que estamos vivenciando, em meio às labaredas brilhantes que consumiram a estátua de Borba-Gato e que, em sua luz, gritaram que a memória coletiva já não está mais se esquecendo dos povos silenciados. O fogo do monumento, ardendo ainda mais ao tocar a realidade e o imaginário de cada leitor, tenta fazer com que ele próprio incendeie a sua memória, ressignificando outros patrimônios sensíveis.
Por fim, todo o trabalho até aqui apresentado almeja despertar na subjetividade de quem o lê as relações já explicitadas entre memória, território, poder e patrimônio. O objetivo final é que o observador perceba essas relações, em articulação com os conceitos aqui debatidos, de modo que seja possível tecer uma rede contra hegemônica que sirva à ressignificação da monumentalidade paulista, despertando-nos para uma nova memória, para o reconhecimento da existência e da história dos povos marginalizados, para a produção de anseios que questionem as figuras colonialistas homenageadas, para a materialização de novas intervenções revolucionárias e monumentos que estabeleçam embates sólidos contra as estruturas de poder vigentes. Embebidos pela criatividade e pela força do fogo em Bachelard (2008), esperamos atravessar o concreto e alcançar a materialidade exigida para a reestruturação de um novo espaço urbano e de uma nova sociedade, de modo que consigamos acolher e valorizar a diversidade para além do padrão eurocêntrico de indivíduo ainda vigente em nossos territórios geográficos, sejam eles materiais ou simbólicos.
Agradecimentos
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo apoio e fomento de bolsa de Iniciação Científica ao primeiro autor. Às importantes contribuições colocadas pelo corpo de pareceristas da Revista do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade. Ao apoio familiar facilitador dos estudos e produção intelectual empreendidos na escrita deste artigo.
Referências
BACHELARD, Gaston. A psicanálise do fogo. Tradução: Paulo Neves. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
BRASIL. Congresso Nacional. Proposta de Emenda à Constituição nº 215, de 2000. Altera o artigo 49 e 231 da Constituição Federal, para incluir dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e a ratificação das demarcações já homologadas. Brasília, DF: Senado Federal, 2000. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14562. Acesso em: 30 jul. 2022.
BRASIL. Senado Federal. PEC 215 ameaça comunidades indígenas e quilombolas, dizem debatedores. [Brasília]: Senado Federal, 3 dez. 2015. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/12/03/pec-215-ameaca-comunidades-indigenas-e-quilombolas-dizem-debatedores. Acesso em: 30 jul. 2022.
CAMARGO, Munir A. Pompeo. A cidade e as escolas: a memória material e o monumento através das escolas Corrêa de Mello e Ferreira Penteado de Campinas na década de 1880. Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura, Campinas, v. 27, n. 1, p. 119–136, 2019. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/article/view/8654893. Acesso em: 17 abr. 2023.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Tradução de Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. Revista Pós, Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 204 - 219, nov. 2012. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistapos/article/view/15454. Acesso em: 5 ago. 2022.
ESTÁTUA de Borba-Gato é incendiada em São Paulo. Portal G1, São Paulo, 24 jul. 2021. Notícia. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/noticia/2021/07/24/estatua-de-borba-gato-e-incendiada-por-grupo-em-sao-paulo.ghtml. Acesso em: 21 jul. 2022.
FERREIRA, Antonio Celso. A epopeia Bandeirante: letrados, instituições, invenção histórica (1870-1940). São Paulo: Editora UNESP, 2002.
MACIEL, Jane Cleide de Sousa. Atlas Mnemosyne e Saber Visual: atualidade de Aby Warburg diante das imagens, mídias e redes. Revista Ícone, Pernambuco, v. 16, n. 2, p. 191–209, 2018. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/icone/article/view/238041. Acesso em: 5 ago. 2022.
MIRANDA, Lucas Mascarenhas de. Memória individual e coletiva. Jornal da Unicamp, Campinas, 27 maio 2019. Especial. Disponível em:
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2019/05/27/memoria-individual-e-coletiva. Acesso em: 30 jul. 2022.
MORA, Marcelo. Manifestantes jogam tinta e picham o Monumento às Bandeiras. Portal G1, São Paulo, 2 ago. 2013. Notícia. Disponível em:
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/10/manifestantes-jogam-tinta-vermelha-no-monumento-bandeiras.html. Acesso em: 10 ago. 2022.
MOURA, Denise. O que as estátuas de Bandeirantes têm a nos dizer?. Jornal da Unesp, São Paulo, 3 ago. 2021. Artigos. Disponível em: https://jornal.unesp.br/2021/08/03/o-que-as-estatuas-de-bandeirantes-tem-a-nos-dizer/. Acesso em: 21 jul. 2022.
MUNIZ, Bianca; FONSECA, Bruno; RIBEIRO, Raphaela. Incêndios já tomam quase metade das terras indígenas no Pantanal. El País, São Paulo, 18 set. 2020. Brasil. Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-19/incendios-ja-tomam-quase-metade-das-terras-indigenas-no-pantanal.html. Acesso em: 10 ago. 2022.
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, v. 10, p. 7-28, 1993.
OLIVEIRA, Abrahão. Projeto de lei quer substituir estátua de Anhanguera da Avenida Paulista por uma de Luiz Gama. São Paulo in Foco, São Paulo, 28 jul. 2021. Disponível em:
https://www.saopauloinfoco.com.br/troca-estatua-anhanguera/. Acesso em: 10 ago. 2022.
PAULO Galo, acusado de incendiar a estátua do Borba Gato, é solto após 14 dias na prisão. UOL, São Paulo, 11 ago. 2021. Notícias. Disponível em:
https://cultura.uol.com.br/noticias/35537_justica-de-sp-determina-soltura-de-paulo-galo-acusado-de-incendiar-estatua-do-borba-gato.html. Acesso em: 10 ago. 2022.
PIUBEL, Thays Merolla; MELLO, Rafaela Albergaria. Patrimônios sensíveis, ensino de História e disputas de memória: fissurando o “mito bandeirante”. Revista História Hoje, Rio de Janeiro, v. 10, nº 19, p. 53-76, 2021. Disponível em: https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/737. Acesso em: 21 jul. 2022.
RAMOS, Yúmari Pérez; ESTEBAN, Diana Ramiro. Monumentos confrontados: nuevos roles para el patrimonio ante los desencuentros sociales. Revista Arquitecturas Del Sur, Cidade do México, v. 38, n. 58, p. 44-61, 2020. Disponível em: http://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/article/view/4332. Acesso em: 10 ago. 2022.
RODRIGUES, Cristiane Moreira. Cidade, Monumentalidade e Poder. Revista Geographia, Niterói, v. 3, n. 6, p. 42-52, 2009. Disponível em: https://periodicos.uff.br/geographia/article/view/13410. Acesso em: 5 ago. 2022.
SILVA, Giuslane Francisca. HALBWACHS, Maurice: A memória coletiva. Revista Aedos, Porto Alegre, v. 8, n. 18, p. 247-253, 2016. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/aedos/article/viewFile/59252/38241. Acesso em: 30 maio 2024
TOMAZ, Kleber; BACKES, Beatriz. STJ decide soltar suspeito de atear fogo na estátua de Borba Gato em SP. Portal G1, São Paulo, 5 ago. 2021. Notícia. Disponível em:
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/08/05/stj-decide-soltar-suspeito-de-atear-fogo-na-estatua-de-borba-gato.ghtml. Acesso em: 10 ago. 2022.
VIEIRA, Bárbara Muniz. Crânios são colocados ao lado de monumentos de bandeirantes para ressignificar a história de SP. Portal G1, São Paulo, 27 ago. 2020. Notícia. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/10/27/cranios-sao-colocados-ao-lado-de-monumentos-de-bandeirantes-para-ressignificar-historia-de-sp.ghtml. Acesso em: 10 ago. 2022.
Data de Recebimento: 16/07/2024
Data de Aprovação: 09/10/2024
1 Imagem 1 disponível em: https://g1.globo.com/sp/noticia/2021/07/24/estatua-de-borba-gato-e-incendiada-por-grupo-em-sao-paulo.ghtml. Acesso em: 12 jul. 2024
Imagem 2 disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/08/05/stj-decide-soltar-suspeito-de-atear-fogo-na-estatua-de-borba-gato.ghtml. Acesso em: 12 jul. 2024
2 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CSKs1jzLgv7/. Acesso em: 12 jul. 2024
3 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/10/27/cranios-sao-colocados-ao-lado-de-monumentos-de-bandeirantes-para-ressignificar-historia-de-sp.ghtml. Acesso em: 12 jul. 2024
4 De acordo com o texto da Proposta de Emenda Constitucional 215, o Governo Federal perderia sua autonomia na demarcação de terras indígenas, passando essa função para o Congresso Nacional (Brasil, 2015). A PEC modificaria o artigo 49 da Constituição Federal acrescentando o inciso XVIII: “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: [...] XVIII - aprovar a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e ratificar as demarcações já homologadas” (Brasil, 2000).
5 Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/10/manifestantes-jogam-tinta-vermelha-no-monumento-bandeiras.html. Acesso em: 12 jul. 2024
6 Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/10/na-rota-dos-protestos-monumento-bandeiras-vira-alvo-de-pichacoes.html. Acesso em: 12 jul. 2024