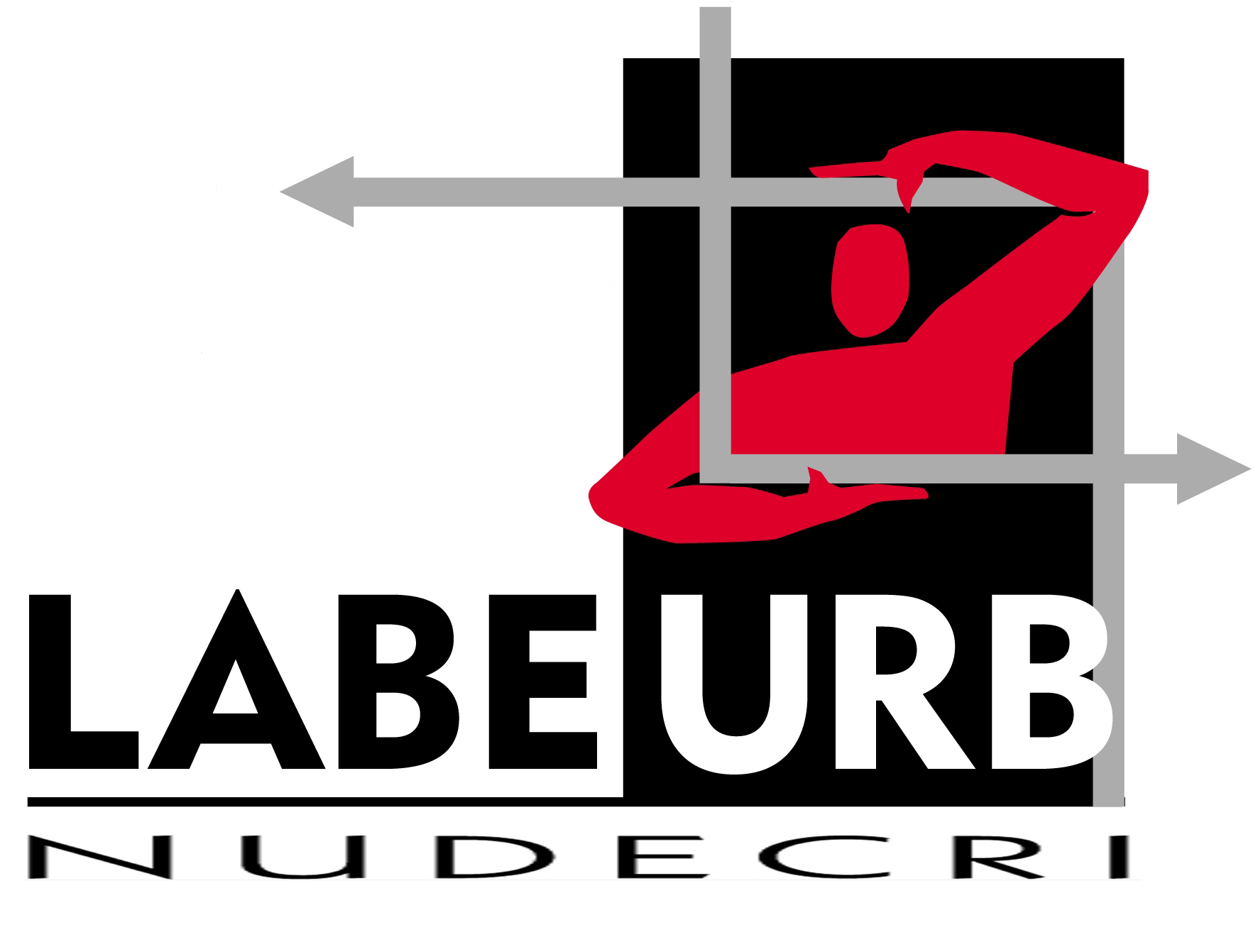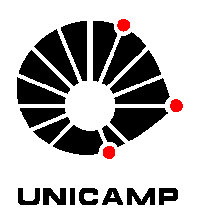O caminhar e o cartografar individual e coletivo: Três experiências nos trilhos férreos de São Carlos, SP


Marina Biazotto Frascareli
Hélio Hirao
Introdução
Este artigo faz parte de uma pesquisa, ainda em curso, que compartilha a experiência do caminhar entre duas diferentes dimensões, solitariamente, em um corpo-mulher e coletivamente, em dupla e em grupo, ao longo dos trilhos ferroviários em São Carlos, no centro-leste paulista. Ao desenvolver um procedimento metodológico que considera formas plurais e democráticas de interferir em uma cidade, contribui para o debate acerca da formação dos arquitetos e urbanistas. Para isso, investe na construção dos processos de subjetivação (Magnavita, 2015, p.18). Esse estímulo se distancia das perspectivas apenas da objetividade do mundo, as quais não dão conta de expressar toda a profundidade e a multiplicidade presente nos espaços.
As experiências apontam para um campo de natureza micropolítica. Sendo esse o lugar onde os processos de subjetivação individual e coletivo circulam. Por ser um universo molecular dos acontecimentos, dos desejos e das intensidades, evidencia aquilo que é encontrado no interior dos indivíduos. Dessa maneira, nas “dobras” decorrentes da interação e da coexistência da micropolítica com a macropolítica, se estabelecem os territórios existenciais.
Por não se tratar de espaços meramente físicos, mas sim das práticas de territórios em sentido conceitual. Debruça-se sob os conceitos da filosofia da diferença (Deleuze; Guattari, 1997), reconhecendo que tais dinâmicas acontecem em constante variação de estados. Sendo o espaço liso caracterizado por sua natureza aberta e não hierárquica. Nele não há divisões rígidas ou fixas entre pontos e áreas. Em outras palavras, é um espaço de conexões intensivas onde os limites são permeáveis e acolhem a multiplicidade, efetivando os encontros. São coerentes à nomadologia (nomos). Em contraste, o espaço estriado refere-se ao sedentário, que se caracteriza por linhas e estruturas fixas. Corresponde às organizações e ao controle, limitando a liberdade dos movimentos mobilizados pelos encontros.
Ambos os espaços só existem de fato graças à mistura entre si, à coexistência. Essa mistura não impede a distinção de direito, os espaços se comunicam entre si, “o espaço liso não para de ser traduzido, transvertido num espaço estriado, e o espaço estriado é constantemente revertido, devolvido a um espaço liso” (Deleuze; Guattari, 1997, p.157). Esses espaços são como vetores que potencializam a desterritorialização e reterritorialização1.
Na alternância dos estados é possível discutir os modos de existências e subjetividades. O nômade, por se tratar daquilo que está em movimento, cruza fronteiras e cria linhas de fuga. É caracterizado por seu estado de resistência às fixações daquilo que lhe é imposto. Já a representação da fixação fica por conta do sedentário (logos), que se caracteriza na permanência, na raiz de um só eixo. Diz respeito às normas e às submissões.
Entende-se a vida urbana como um processo ativo de produção de subjetividade. O objetivo do trabalho é reconhecer as margens dos trilhos ferroviários da região central urbana através da prática do caminhar. Acrescenta-se o jogo como um dispositivo de aproximação dos pesquisadores e pesquisados, que pode ainda revelar a subjetividade coletiva que constitui os espaços – a cidade nômade dentro da cidade sedentária. Assim, contribui para a construção de processos de subjetivação individuais e coletivos.
As experiências relatadas ocorreram em São Carlos. Localizada na região centro do Estado de São Paulo, é uma cidade marcada pela presença da linha férrea, que desempenhou um papel crucial em seu desenvolvimento histórico. A ferrovia, inaugurada no final do século XIX, foi fundamental para o escoamento da produção agrícola, especialmente do café, e conectou São Carlos a importantes centros urbanos e portuários. Com o tempo, a cidade se industrializou e a linha férrea passou a dividir áreas urbanas e industriais, criando zonas de transição e espaços à margem, que hoje se apresentam como testemunhos das transformações urbanas. Embora a ferrovia ainda esteja ativa, parte dos trilhos e áreas adjacentes aguardam novos usos, refletindo tanto a história da cidade quanto seus desafios contemporâneos (Frascareli; Fiorin; Romão, 2023).
O caminhar
Caminhar pode ser um ato ordinário. Atualmente, caminha-se com uma velocidade menor que os automóveis, mas pouco se aproveita o trajeto, a preocupação está em sair de um lugar para chegar ao outro. Mais que um deslocamento espacial no sentido de ir e vir, o caminhar atento, em sua essência, pode representar a conexão do indivíduo com as pulsações do mundo. Antes mesmo de ser uma experiência intelectual, é uma experiência corporal, portanto, quando intencional, pode ser “(...) um esforço físico produtor de pensamentos e de experiências” (Solnit, 2016, p.22). Um conhecimento que se revela passo a passo, fundamentado a partir da experiência corporal e pessoal.
Percorrer o mundo a pé, tornar-se mais consciente dos detalhes, das histórias e das forças que operam no espaço, é uma apreensão e cognição mais aprofundada da paisagem, da sociedade e de nós mesmos. É dar espaço para construir narrativas compartilhadas que podem ser uma jornada de autodescoberta e de reconhecimento do mundo. Dessa forma, transcende a mera locomoção e se alcança uma forma de conexão e de exploração, enriquecendo tanto a experiência individual quanto a coletiva. Sendo um ato de movimento que carrega como princípio a agitação, o caminhar é infinitamente fértil, não tem amarras e nem tampouco limites.
Caminhar gera ritmo e produz compassos, a paisagem ecoa e estimula a travessia dos pensamentos, quando praticada na modalidade individual é introspectivo. Ao caminhar, se percorre duas topografias, a do mundo e a da mente. “Tudo o que é aleatório, sem filtro, nos permite encontrar aquilo que não sabíamos estar procurando, e não há como conhecer de fato um lugar até ele nos surpreender” (Solnit, 2016, p.32).
Embora haja forças para se caminhar solitariamente, desde as manifestações culturais, o caminhar convoca formas de desvios subversivos, o ato de marchar em conjunto ratifica e produz solidariedade. No seio de um grupo, os pés batendo no chão arranjam os ritmos e alinham duas pessoas emocional e fisicamente (Solnit, 2016, p.385). O caminhar é o contato com o chão em escala 1:1, em nível sensível. Nesse sentido, o caminhar pode ser uma experiência solo, em dupla ou em grupo, o importante é o estado disposto e atento aos acontecimentos.
Deslocando a prática para o campo da estética, o caminhar em grupo dos situacionistas criticava o urbanismo moderno e tinham seus pensamentos voltados à psicogeografia e à deriva. Através da psicogeografia, estavam preocupados com os efeitos gerados em um espaço geográfico que incidiam diretamente nos comportamentos afetivos dos praticantes. Através da deriva, ao atravessar rapidamente lugares distintos, criavam situações, inventando novos jogos2 e interagindo mais.
O errante vai de encontro à alteridade na cidade, ao Outro, aos vários outros, à diferença, aos vários diferentes; ele vê a cidade como um terreno de jogos e de experiências. Além de propor, experimentar e jogar, os errantes buscam também transmitir essas experiências através de suas narrativas errantes. São relatos daqueles que erraram sem objetivo preciso, mas com uma intenção clara de errar e de compartilhar essas experiências (Jacques, 2012, p.23).
Ainda com base nos movimentos estéticos, o grupo denominado Stalker experimenta a cidade do ponto de vista da errância, percorre lugares tidos como residuais, espaços que escapam das lógicas de controle. Um território de fluxos, que pode ainda superar a separação de espaço nômade e sedentário, a cidade nômade vive dentro da sedentária, apropria-se dos seus resíduos e em troca oferece sua presença como para ser percorrida e habitada (Careri, 2013, p.31).
São nos espaços entendidos como vazios pelo capital, que é encontrada a multiplicidade e o devir social. Tais espaços não estão somente à espera, como já mencionado por Careri (2013), não esperam ser preenchidos de coisas, mas podem também ser preenchidos de interpretações. Não necessariamente precisam ser modificadas, mas reconhecidas como parte de uma cidade que apresenta dinâmicas e estruturas singulares que contribuem para processos de subjetivação.
Ainda que embasado pelas práticas errantes, o caminhar proposto neste trabalho se difere, avançando em aspectos como o uso de gps, fotografias, vídeos, registros em cadernos de bordo e até mesmo em questão dos contextos das cidades latino-americanas. No contexto brasileiro, as ruas são espaços que abrigam uma diversidade de grupos sociais, expressões culturais e movimentos sociais. No entanto, historicamente, a elite econômica sempre enxergou essas ocupações como ameaças, influenciados por um ideal estrangeiro, trabalharam para reprimi-las. Podendo, assim, ter sido um dos motivos que consolidou a cultura do medo em torno das ruas, tendo tudo o que acontece nelas como perigoso e imoral.
Dessa maneira, o caminhar pode ser um ato transformador, que pode ainda quebrar tais paradigmas. Se liberta das amarras sociais e contribui para um reconhecimento e uma conexão com a cidade, sendo utilizado como instrumento para novas formas de ver, de sentir e de narrar a cidade.
O cartografar
Acrescenta-se ao caráter processual da caminhada a cartografia deleuziana-guattariana (1995), a qual se expressa como uma perspectiva de construção de realidade, uma assimilação do pensamento e de posição do mundo. Emprestando os princípios dos filósofos pós-estruturalistas, tem-se a cartografia como uma forma de investigação. Ao mapear os processos das dinâmicas moventes, subvertem as lógicas científicas precedentes, as quais representam objetos.
Tal mapeamento é povoado de afetos3, de intensidades e de ritmos desencadeados por uma experiência. Mais do que mapear as estruturas ou os estados das coisas, se preocupa em expressar o que não consta nos mapas tradicionais, assim sendo capaz de se sobrepor a eles, assumindo um caráter de multiplicidade4. Essa modalidade não nega e nem tampouco se opõe ao modo de fazer da cartografia tradicional, mas soma-se a ele.
A cartografia, pelo seu princípio rizomático, se distancia da figura árvore de raízes profundas e de única origem com ramificações hierarquizadas. O rizoma não tem origem, centro e nem hierarquia. Ao invés de adotar uma visão centrada em uma única perspectiva, a pesquisa cartográfica permite que múltiplos pontos de vistas e experiências se entrelaçam, constituindo um mapa diverso do território estudado.
Em outras palavras, a cartografia é uma maneira de investigar o mundo sem fixar relações de estruturas hierárquicas, de maneira aberta, mapear as interações, multiplicidade e fluxos. Busca aproximar o pesquisador com aquilo que é pesquisado. A investigação metodológica referenciada por Deleuze e Guattari (1997) avança com Kastrup, Passos e Escóssia (2009), e aposta na ação de acompanhar os movimentos. Quando há disposição para os encontros com a multiplicidade e a heterogeneidade da cidade, se reconhece a ciência menor.
Enquanto uma metodologia não se baseia em regras predeterminadas, busca reinterpretar a rigidez do caminho em prol da insurgência de micropolíticas. Trata-se de uma inversão etimológica, não só da palavra, mas da prática metodológica, “hódos-métá”, onde a experiência indica o caminho. Aposta na experimentação corporal profundamente relacionada com a reflexão e conexão com o mundo.
Nesse sentido, a cartografia acolhe o inconsciente como parte de um processo de subjetivação individual e coletivo. Assim, analisando relações que constituem o território social e afetivo. Acaba por construir mapas processuais que conectam campos de pensamentos e exploram os desejos em busca do corpo vibrátil5. Com isso, se distancia de tudo o que se coloca como universal e unitário. Dessa forma, o caminhar e a cartografia são adotados como modalidades de pesquisa investigativa, utilizando ferramentas como o caderno de bordo, com registros narrativos durante a experiência, registros audiovisuais em fotos, vídeos e áudios, além da coleta de objetos ao longo dos trajetos.
A experiência do caminhar solitariamente no corpo-mulher
O ato de caminhar nunca ocorre de forma isolada; neste trabalho, ele se une ao reconhecimento, ao registro e à narração. Entendemos que narrar experiências envolve um conjunto de estratégias discursivas, uma vez que se trata de vivências corporificadas, carregadas de intenções comunicativas. Dessa forma, o texto narrado é organizado com finalidades expressivas. Por meio da busca pelo reconhecimento dos espaços ao longo da linha férrea são-carlense, revela-se a multiplicidade das ambiências. Atualmente, embora a linha esteja ativa, as transformações urbanas e suas características industriais permeiam os trilhos são-carlenses com espaços de espera, que oscilam entre lisos e estriados.
Mesmo sozinha, a caminhante estava atenta e disposta a se deixar atravessar pelos acontecimentos, que não são individuais e sim subjetivos. No ritmo da troca de passos, se permitiu notar de forma sensível o que aflora da cidade e na cidade, resgatando a ligação entre corpo e cidade. Personifica a nômade, e mais do que chegar a algum lugar, sua única preocupação foi em aproveitar o trajeto. Fez pausas, “quem perde tempo, ganha espaço” (Careri, 2013, p.171), assim subvertendo a subjetividade maquínica da contemporaneidade.
Adentrou-se no espaço com duas propostas: a) coletar fragmentos que pudessem adicionar texturas aos registros e expressões posteriores; b) verbos de ação que ajudassem na identificação das emoções enquanto corpo-mulher que caminha solitariamente e reconhecimento das práticas sociais no leito férreo. Os verbos denunciam uma série de ações que podem ser lidas decorrentes da espacialização na cidade (Figura 1). Um instrumento útil para reconhecer e explorar os territórios nômades dentro da cidade sedentária. Podendo ainda se aproximar do exercício proposto por Francesco Careri (2013).
Figura 1 – Mapeamento da experiência solitária em São Carlos.

Fonte: Elaborado pela autora. 2024.
O coletar não é semelhante ao tomar posse de objetos, mas se aproxima de colecionar, os objetos funcionam e consolidam uma coleção, que foi constantemente revisitada e reorganizada. De ordem de apropriação sensível e subjetiva, do campo das ações poéticas, lugar onde o corpo reformula as experiências urbanas. Além de revelar texturas da cidade.
Uma vez que o processo subjetivo individual é constituído por coletividades, o caminhar solitário não se opõe ao coletivo. Nesse sentido, é possível pensar a caminhada como um processo iminente do coletivo, a experiência se compõe por interações com a cidade ainda que solitariamente. O caminhar em questão foi realizado por uma mulher branca, integrante do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, vinda de uma cidade de porte pequeno no interior paulista.
Durante o caminhar, o percurso ganha heterogeneidade. Em cada percurso reconhecem-se novos territórios, seja por um trajeto desconhecido, ou não, assim, pode ser transformado pela ação do caminhar (Figura 2). Afinal, “caminhar é uma maneira de criar o mundo e também de estar nele” (Solnit, 2016, p.59).
Figura 2 – Expressão com coletas da experiência solitária.

Fonte: Elaborado pela autora. 2024.
Terça-feira, 07 de novembro de 2023.
Tomo a linha de ônibus 38 e chego defronte à estação ferroviária às 16h:08min. No viaduto Quatro de Novembro, coloquei meus pés em curso, atenta ao chão que estavam tocando. Coleto um caco de cerâmica, o baixio do viaduto está em reforma. Alguns homens trabalham na montagem dos vergalhões, ouço as vozes ecoando de maneira indesejada, forçando uma interação comigo. É o início da caminhada e meu corpo se enrijeceu. O corpo-mulher e qualquer outro corpo menor sente outras camadas de medo. Somam-se aos medos já revelados por Careri, de ser assediada ou violentada, sempre à espreita de um acontecimento. Em meio aos passos largos e ritmo acelerado, acolho meu medo e volto minha atenção para os ruídos dos automóveis e a movimentação estrutural do viaduto. Após vencer a topografia, embaixo de uma área com vegetação mais adensada, na sombra, repouso meus braços no muro para narrar. Coleto folhas em diferentes níveis de processo de decomposição. As diferentes cores e tempos de decomposição expõem o passar do tempo, o tempo está presente em tudo na paisagem. Canto dos pássaros. No bairro atrás da estação, contemplo o silêncio. Paralelo aos trilhos, foram construídos dutos para auxiliar na captação da água pluvial dos bairros mais altos. Em um dos dutos, observo um uso. Pilares de concreto do alambrado se tornaram uma singela ‘pinguela’ para praticar a travessia e vencer o vão e a diferença de nível. Mais adiante, chego na rua, onde encontrei uma mulher cuidando do jardim. Demoro e troco algumas palavras com ela. Ao percorrer essa região, volto ao passado. Algumas casas possuem textura na fachada, ao tocá-las, sou deslocada diretamente para minha escola do ensino primário. Atravesso uma ruela de britas soltas, ali os pixos expressam pensamentos e reivindicações coletivas. Coleto britas pequenas. Inicio meu retorno até a estação ferroviária junto com o entardecer. Nos lugares onde o fluxo de veículos é mais intenso, me desprendi da intenção de coletar, assim, assumindo passos mais rápidos. A diferença da topografia me permitiu ver a copa de uma árvore. Desvio. Uma praça cheia de bancos pintados. A ausência de pessoas me concede imaginar quem pintou. Deixo a praça após ler a seguinte frase em um dos bancos: “Cada um deixa na praça o que traz no coração”. Chego à rua José Bonifácio, percorro lugares familiares, a antiga fábrica Faber Castell e a antiga fábrica de tecidos. Coleto pastilhas soltas da fachada. Em um giro, chego à estação. Sento-me e reflito sobre o percurso, olhando os fragmentos coletados. Na alternância afoita dos pés constituíram-se afetos e sentimentos pela cidade. Em casa, exibiram-se as coleções sobre a mesa, vasculharam-se lembranças, aquietando meus pensamentos, assim, permitiu-se que novas relações se efetivassem. Elas geraram frases com os verbos identificados na cidade sobre a prática do caminhar. Impressas em papel provocaram outra possibilidade de jogo, com uma mistura de água e cola, posteriormente distribuiu-se em grupo por alguns percursos.
O caminhar em dupla ou em grupo: um jogo de desmontar, rasgar, adaptar, e, e, e...
Retorna-se às margens dos trilhos carregando alguns materiais: papéis impressos, uma garrafa de água com cola, um rolo de pintura e potes de coleta de objetos. O jogo anterior produziu conhecimento e despertou um estado de interação ativa com a cidade. Acompanhada do companheiro, a dupla foi formada por um casal de homem e mulher brancos vindos de cidades de porte médio interioranas, no centro oeste paulista e no sul mineiro (Figura 3). Com formações profissionais distintas, a mulher atua em arquitetura e urbanismo, e o homem, em engenharia biomédica, ambos integram programas de pós-graduação no estado de São Paulo. Por ocuparem áreas profissionais diferentes, acabam somando formas distintas de apreenderem o contexto. Nesse caso, por meio do jogo coletaram-se áudios, identificações, objetos e cheiros (Figura 4).
Figura 3 – Mapeamento da experiência em dupla em São Carlos.

Fonte: Elaborado pela autora. 2024.
Sábado, 18 de novembro de 2023.
Parte do comércio está fechado, iniciamos às 16h36min. O sol ardido nos lembrava da semana mais quente do ano, 34 graus. Iniciamos a caminhada pela Vila Prado, acompanhada, me sinto mais segura para adentrar aos trilhos. O capim alto cria uma barreira visual e física, mas isso não nos impede de entrar. No encontro do asfalto com a terra vermelha, havia descarte de lixo. O sol escaldante evidencia os cheiros. Bota. Calça. Na parte mais baixa havia um cemitério de vagões, um deles foi invadido por uma árvore, sua copa forma uma espécie de telhado. Fumaça. Após alguns ensaios analisando onde devo pisar, eu subo em um vagão. O odor é indescritível, toda parte interna está em cinzas. Metal. Lã acrílica. Garrafas de pinga. Angústia. Ao cruzarmos com um casal sentado à margem do bolsão de contenção de água pluvial, nos sentimos invasores do território. Rumamos para o bairro, abandonando os trilhos. Quando se caminha acompanhada, a marcha assume um ritmo outro, possibilitando que o intervalo da troca dos pés seja preenchido com conversas banais: - “Devemos acrescentar ovos na lista do mercado”. Por ser final de tarde, os bares no bairro residencial estavam abertos. Na calçada, a churrasqueira com espetinhos propagava o cheiro de churrasco no ar mesmo antes de enxergarmos a churrasqueira de fato. Capturei o áudio singular dessa ambiência. As vozes se confundiam com os ruídos do rádio e escapamento das motos. Na placa, Bar da Travessa 8. Como coletora, um carro de coleta abre espaço para identificação. Chico: recicláveis de todos os tipos. Quebrando a esquina, uma outra paisagem sonora nos invadiu, uma pizzaria com música dançante. No baixio de um viaduto, lugar onde apressei os passos e me senti insegura, outrora, em um corpo-mulher solitária, colei o primeiro impresso – “Caminhar para sentir a cidade”. Mais adiante, na fachada do antigo Tecidão, uma foto da minha mão em contato com a parede se desfazendo foi impressa e posicionada na mesma fachada em questão. Ao cruzar a rua, o impresso - “Caminhar é colecionar cidade” em composição com fotos das pastilhas soltas e coletadas foi posicionado na antiga Faber Castell. O gesto de grudar os impressos me despertou a visão para identificar outros impressos. Hot dog. Gato perdido. Encerramos a caminhada em gesto lento e contemplativo, acolhendo a decisão de percorrer o caminho mais longo.
Figura 4 – Expressões da experiência em dupla em São Carlos.

Fonte: Elaborado pela autora. 2024.
Rodeada por amigos, o grupo foi formado por uma mulher branca e três homens brancos, vindos de cidades de porte pequeno e médio no interior do estado de São Paulo (Figura 5). Quatro integrantes do grupo compartilham da mesma formação profissional, na área das ciências sociais aplicadas, da arquitetura e do urbanismo. E, um dos integrantes representando a ciência biológica na área da biologia (Figura 6).
Figura 5 – Mapeamento da experiência em grupo em São Carlos.

Fonte: Elaborado pela autora. 2024.
Sábado, 25 de novembro de 2023.
Tendo os impressos revelando os verbos como possíveis indicadores para linhas de fuga, chegamos na frente da estação ferroviária com singelas regras, distribuí papéis com a motivação de fixarmos em lugares onde identificamos uma emoção ou um verbo de ação. Eram 15h30min, na sombra, o vento gelado esfriava os nossos corpos, na luz, o sol ardia. Tinha um movimento intenso de veículos na José Bonifácio, na primeira intervenção no muro do Tecidão, somos interceptados pelo som de uma sirene. O corpo enrijeceu, ficando em alerta. Colamos o impresso na fachada “Caminhar para memorizar a cidade”. Cruzamos a rua, apoiados na janela da antiga Faber Castell, meu amigo biólogo destaca a presença de uma avenca dentro da fábrica. O pixo da fachada, escrito “democracia”, o movimenta. Pediu pausa. Abriu a sacola, pegou a garrafa com grude e imprimiu “Caminhar é expressar a cidade”. Um de nós estava à espreita e os outros três estavam compenetrados no ato. Um motoqueiro em alta velocidade grita “fora Lula!”. Polícia. Em uma moto, um guarda faz a ronda. Figueira. Apertamos o passo, dobrando a esquina vimos uma senhora lavando a antiga Faber Castell abandonada. Curioso. Ao nos aproximarmos, um gesto corporal convidativo permitiu nossa entrada. Poeira. Eco. Entulho. O grupo se dispersa. Coleto rastros. Balas de airsoft, pequenas esferas brancas – “Vão lá ver a fábrica, é tão grande, mesmo vocês ficando a tarde toda aqui não vai dar tempo de ver”. Seguimos o conselho. Na ausência sentimos presença. As potencialidades transbordavam. Das paredes nascem plantas e pixos: - “Vem? Oi?!”. O grupo se recorda do jogo, em meio ao grude, colam “Caminhar é narrar a cidade” respondendo ao pixo. Na parede de um galpão queimado, imprimi “Caminhar para registrar a cidade”. Tomamos consciência de que estávamos ao lado da chaminé, um dos poucos vestígios industriais na cidade. Um dos caminhantes, arquiteto, se sensibiliza. No aviso para não subir as escadas, alonga seu corpo até alcançar a placa, e assim cola “Caminhar é encontrar a cidade”. No entorno da chaminé havia pixos com endereços de rede social. Um dos caminhantes inicia uma interação com eles, buscando dar rostos aos nomes nas paredes. Pausa. Na fábrica, demoramos. Ao percorrermos os trilhos, encontramos o cemitério de vagões. Um dos caminhantes salta e adentra. O outro solicita cola e a impressão. “Caminhar é inventar a cidade”. Lá de dentro do vagão, lê o apelo: - “Escute Mc Primitivo”. Ele pega o celular e inicia um terceiro jogo, abre um aplicativo de música e começa a ouvir o som. Coleto áudio desse momento. Ao cruzar a linha, uma voz gritou para nós: - “Vocês vão atravessar?”. Sentimos o chão trepidando e o trem se aproximando. Agradecemos o aviso, resolvemos esperar. O trem cria uma barreira, conosco havia outros corpos no aguardo, cada um com uma postura de espera diferente. Um dos integrantes cola no poste “Caminhar para sentir a cidade”. Finalizamos fisicamente a experiência com a certeza de que ela continuaria ecoando em nossos corpos.
Figura 6 – Expressões da experiência em grupo em São Carlos.

Fonte: Elaborado pela autora. 2024.
O jogar, o registrar, o coletar e o intervir.
Independente da modalidade, uno ou múltipla, o caminhar e o cartografar são capazes de mapear práticas, sensações e conexões que interessam ao registro do processo. O acompanhar dessa prática pode construir processos de subjetivação e no praticante da cidade. Ao longo do reconhecimento, narrado neste trabalho, foram utilizados cadernos de campo para anotações, filmagem, fotografias e coletas. Coleções que posteriormente foram revisitadas, ecoando nos saberes que integram e transformam as experiências da caminhada em conhecimento e vice-versa. A caminhada se torna um ponto de encontro entre muitas formas de estética, no caso desse trabalho, para urbanismo, para biologia, para o mero movimentar-se o corpo e, para outro, poesia... fica evidente o encontro transdisciplinar no qual o corpo é a materialidade que nos permite fazer tudo isso (Careri; Chaparim; Caon, 2022, on-line).
A ludicidade do jogo trata de unir presente e passado e aproximar o jogador/caminhante da cidade criativa. A caminhada pode ser propulsora do jogo, mas o jogo, somado ao caminhar consciente, produz conhecimento e proporciona interação direta com a cidade. O caminhar se torna uma espécie de consciência cívica, portanto, “[...] uma exploração e uma reapropriação da cidade; a deambulação como metodologia de pesquisa e de didática; a experimentação direta da arte da descoberta e da transformação poética e política dos lugares” (Careri, 2017, p 102).
Ao mapear os acontecimentos e os pensamentos que se revelavam nos espaços se está registrando nos corpos, memórias e saberes das próprias vivências, que quando narrada se transforma em experiência. Apesar dos métodos de registros serem realizados de forma singular para cada caminhante, o estar em grupo ativa relações sensíveis e genuínas, com isso, foi possível perceber semelhanças e diferenças de afetos dentro do grupo. Seja qual for a modalidade, o jogo tem a capacidade de se reinventar e se adaptar e se desmontar e se remontar, e, e, e...
O caminhar, ainda que não seja a construção física de um espaço, ocasiona transformações dos lugares e de seus significados (Careri, 2013, p.51). Neste trabalho, além de uma ferramenta para o reconhecimento das margens dos trilhos são-carlense, foi um dispositivo propositor de jogos, os quais consistiram em coletar os verbos de ação que denunciavam práticas sociais no espaço ou sensações individuais, colecionar objetos da cidade como forma de adicionar texturas e camadas aos registros, intervir colando frases sobre o caminhar no trajeto, interagir com os inscritos encontrados, conversar com habitantes da cidade e dar rostos para os endereços de redes sociais pixados.
De forma lúdica, os jogos permitem a apropriação dos territórios existenciais, aproxima o caminhante da própria experiência, dessa forma, rompe com o comportamento que usualmente se assume ao estar em espaços públicos. Os relatos extraídos do caderno de bordo, mesmo que seja de uma experiência narrada em primeira pessoa do singular, possui uma dimensão coletiva. Um modelo grupal de ver a cidade que não se adequa aos modelos tradicionais hierárquicos. Esse deslocamento vai em busca de um conhecimento inventivo para dar conta da fluidez da realidade.
As ações lúdicas constroem um pensamento que inventa possibilidades de apreensão das texturas, das nuances e dos territórios. Como uma forma de interpretar os espaços que são recorrentemente transformados e modificados, assim, acolhendo a efemeridade. A prática do caminhar não é somente uma maneira lúdica, mas é uma forma de apreensão e cognição da cidade e de reconhecer tudo aquilo que a compõem e a transforma.
O caminhar continua reverberando
Ao caminhar solitariamente coletaram-se verbos de ação os quais indicavam agenciamentos com práticas sociais. O jogo aconteceu na tentativa de capturar as texturas desse trajeto através dos objetos. Caminhar em dupla e em grupo possibilitou agir no espaço e jogar com o espaço. O jogo inventa sua própria regra, vai além dos limites culturais e do controle. É uma espécie de despertar. Acaba aproximando o jogador do conceito da cidade nômade, a qual interage e coexiste com a cidade sedentária, nas dobras/brechas e que revelam territórios existenciais.
Os impressos, uma vez colados nas pausas do trajeto, se tornam rastros, ainda que efêmeros pela própria materialidade, que podem mobilizar outros caminhantes. Afinal, as caminhadas podem ser vistas como atividade primeiramente visual, passamos a pensar a paisagem para que o conhecido possa assimilar o novo (Solnit, 2016, p.32).
A cartografia enquanto modalidade coletiva é baseada em uma política cognitiva inventiva e possui uma dimensão de grupo, mesmo quando feita da experiência que é narrada em primeira pessoa do singular. Se produz através do efeito por contágio e de intervenção (Hirao; Tarocchi; Frascareli, 2024). Os caminhantes/cartógrafos não precedem a prática da cartografia, da caminhada, mas se constituem com elas, em um mesmo movimento, por meio da ação do caminhar, do registrar, do jogar, do cartografar, ou seja, dos verbos que acontecem o aprendizado.
O caminhar em coletivo liberta a atenção para outros pontos, constrói uma narrativa múltipla, durante e depois, através das expressões gráficas, relatos repletos de processos subjetivos e de singularidade. Com as experiências narradas no trabalho se evidencia formas de expressão que desestabilizam as certezas da prática arquitetônica para incluir os afetos como potência criativa de um corpo político que transita pela cidade planejada, mas encontra a cidade nômade, do aqui e do agora.
O grupo alterou o jogo inicialmente proposto. Além de colar lambe-lambes, exploraram-se os endereços pichados ao redor da chaminé, ouviu-se um músico cujo nome estava gravado na lataria do trem, coletaram-se objetos, escreveu-se com reboco no peitoril e discutiram-se áreas de conhecimento específicas de cada integrante. Embora fundamentado nos situacionistas e atualizado pelos Stalkers, o jogo proposto no território hoje define um recorte temporal e espacial distinto, transformando-se e adaptando-se aos modos de reconhecer a cidade contemporânea.
Ao se distanciar das representações e se aproximar da prática processual cartográfica desloca também os saberes outros, construídos pelas lógicas vigentes. Trata-se de traçar linhas de fuga responsáveis pela desterritorialização, incluindo e reconhecendo tudo e a todos, como potências criadoras e o espaço urbano como lugar do dissenso.
A cartografia, enquanto método, forneceu ferramentas para acompanhar os acontecimentos da cidade durante as experiências realizadas. Ao contrário de impor ou se deixar determinar por linhas rígidas de um desenvolvimento urbano pautado em um ponto de vista totalizante, buscou inverter a escala de estudo. Embasada pela filosofia da diferença, partiu-se da microescala para construir um outro tipo de mapa: um mapa aberto, constituído por linhas em movimento e variações de configurações. Tais linhas reconhecem o cotidiano e a experiência de estar e habitar a cidade.
Nas experiências cartografou-se e atravessou-se, não só os espaços físicos das margens dos trilhos, mas também, suas ambiências e suas potências simbólicas enquanto espaço público. Isso só ganhou sentido através da subjetividade do grupo. Um mapeamento que certamente continua reverberando internamente em cada caminhante, mesmo a caminhada se findando.
Nesse ato de mapear, reconhece-se um campo aberto, caracterizado por relações de disputa e articulações possíveis. Afastando-se do decalque, que representa algo pré-existente e fechado em si mesmo. Enquanto o decalque é uma simples reprodução do real, o mapa é uma proposição aberta para experimentações, um agenciamento de processos que vai além da mera representação do real, criando uma cartografia fundamentada pela experiência vivida, com múltiplas entradas e saídas.
Este mapeamento aberto reflete as experiências dos pesquisadores, reconhecendo forças que vão além do que o mapa pode captar. Durante os percursos, buscou-se uma conexão profunda com os lugares visitados, integrando teoria e práticas cotidianas. A pesquisa pode ser enriquecida com metodologias que envolvam caminhadas em grupos heterogêneos, incluindo moradores das margens dos trilhos ferroviários. Um mapeamento coletivo pode revelar as potências com os habitantes ao longo dos trilhos, desmistificando a visão do local como abandonado, obsoleto, vazio, e à espera de um novo plano.
Referências
CARERI, Francesco. Caminhar e parar. Barcelona, Gustavo Gili, 2017
DELEUZE, Gilles. (1978) L’Affect et l’Idée. In: Gilles Deleuze explique Spinoza – Vincennes 1978-1981 – www.webdeleuze.com.
DELEUZE, Gilles. Espinosa: Filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002, p. 55-60.
FRASCARELI, Marina Biazotto; FIORIN, Evandro; ROMÃO, Kauê Marques. São Carlos: from urban formation to the arrival of the railway. Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, v. 11, n. 82, 2023.
HIRAO, Hélio; TAROCCHI, Carolina Silva; FRASCARELI, Marina Biazotto. (2024). Walking and expressing the city collectively, a teaching-learning experience in the Postgraduate Program in Architecture and Urbanism. Revista Nacional De Gerenciamento De Cidades, 12(85). https://doi.org/10.17271/23188472128520245025.
JACQUES, Paola Berenstein. Corpografias urbanas. Arquitextos, São Paulo, ano, v. 8, 2008.
JACQUES, Paola Berenstein. Elogio aos errantes. SciELO-EDUFBA, 2012.
MAGNAVITA, Pasqualino Romano. Subjetividade, corpo, arte, cidade. Experiências metodológicas para compreensão da complexidade da cidade contemporânea. Salvador: EDUFBA, 2015.
PARNET, Claire. O abecedário de Gilles Deleuze. Site Dossiê Deleuze, 2010.
ROLNIK, Suely; GUATTARI, Félix. Micropolítica: cartografias do desejo. Buenos Aires: Tinta Limón, 2006.
ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. 2 ed. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2016.
SOLNIT, Rebecca. A história do caminhar. São Paulo: Martins Fontes - Selo Martins, 2016.
Data de Recebimento: 30/06/2024
Data de Aprovação: 09/09/2024
1 A desterritorialização ocorre entre o processo de territorialização e reterritorialização. Sendo estes, conceitos fundamentais para compreensão das dinâmicas sociais. Entender o espaço como vetor de desterritorialização é acolher a efemeridade da cidade, um território não se fecha em si mesmo “(...) não há território sem um vetor de saída do território, e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte”. Ver mais em: PARNET, Claire. O abecedário de Gilles Deleuze. Site Dossiê Deleuze, 2010, p.4). Quando, em contato com espaços desconhecidos, busca-se repouso em um lugar de segurança, o modo como saímos deste território diz respeito aos processos de desterritorialização. Esse movimento se relaciona ao errante (Jacques, 2008, p.7), que ao perder-se acaba se desterritorializado para posteriormente se reterritorializar.
2 Reflexo da maneira como os indivíduos interagem com o ambiente urbano enquanto navegam entre espaço e tempo.
3 Na leitura de Deleuze (1978, p.6) sobre Espinoza, a definição de afeto: "Afeto, variação contínua da força de existir ou da potência de agir". Ver mais em: DELEUZE, G. (1978) L’Affect et l’Idée. In: Gilles Deleuze explique Spinoza – Vincennes 1978-1981 – www.webdeleuze.com; DELEUZE, G. Espinosa: Filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002, p. 55-60.
4 De forma breve, a multiplicidade na filosofia da diferença possibilita pensar não somente em termos binários ou opostos, mas pensar a multiplicidade como elementos que são compreendidos através das relações recíprocas.
5 De acordo com Suely Rolnik (2016), a relação entre a subjetividade e o mundo intervém algo mais do que a dimensão psicológica a qual nos familiarizamos, o corpo vibrátil. Em outras palavras, é um plano em que seus afetos tomam corpo, delineando um território no qual nos situamos. Ver mais em: ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. 2 ed. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2016.