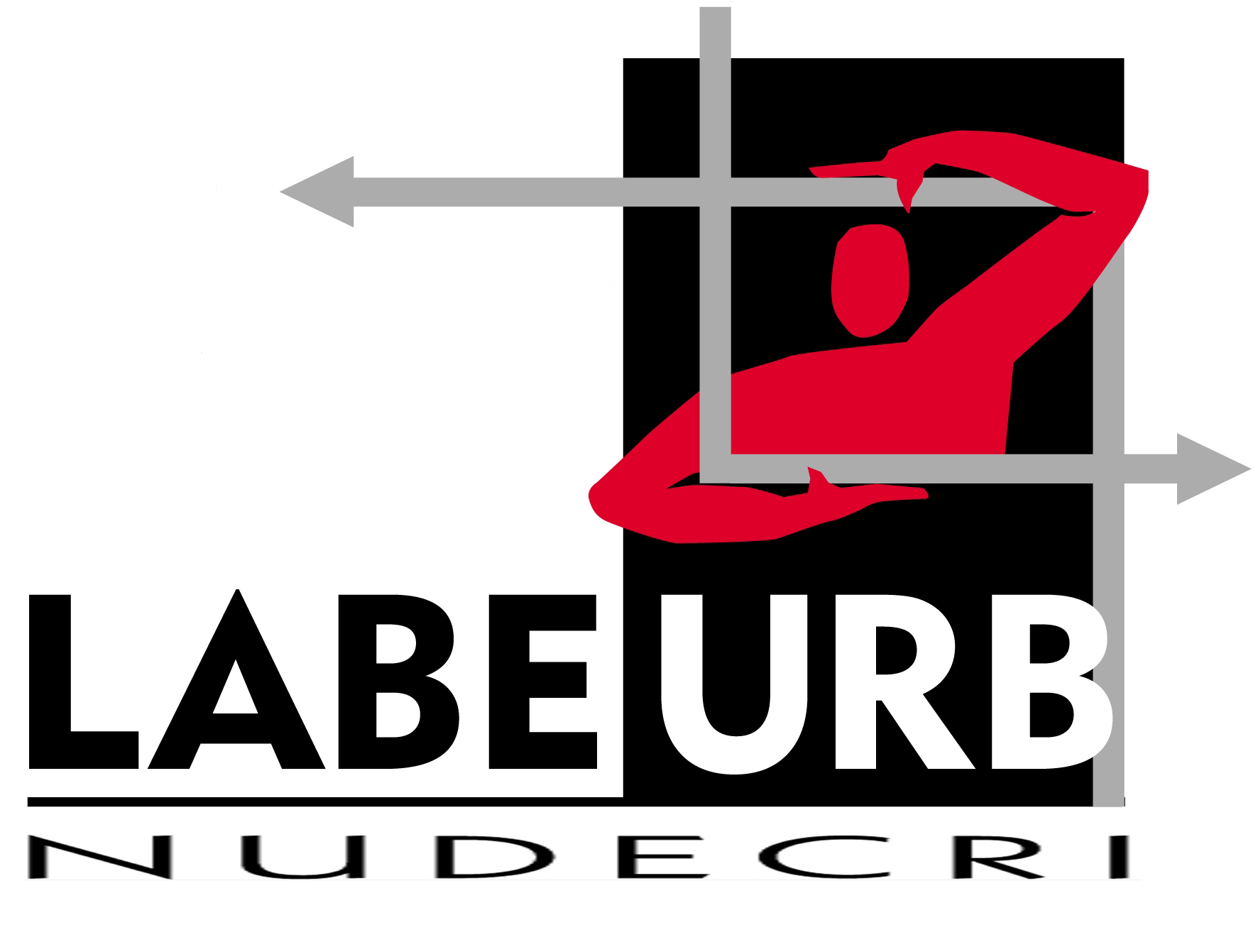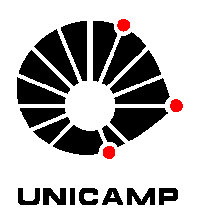Construção do espaço urbano em Içara: do planejamento tecnicista ao fazer-cidade


Bruno da Silva da Silveira
Viviane Kraieski de Assunção
Introdução
Imagem 1 – Viaduto Ângelo Giassi

Fonte: Acervo dos autores.
A imagem acima (Imagem 1) apresenta a parede leste do Viaduto Ângelo Giassi, localizado na Rua Ângelo Giassi, em Içara. O município de Içara está localizado no litoral sul do Estado de Santa Catarina e tem sua origem comumente associada à instalação da Ferrovia Dona Tereza Cristina e à construção da Estação do km-47 em 1919. Autores locais, como Pavei (2011), apontam a construção da estrada de ferro como um marco civilizatório da região que, junto de um impulso econômico, trouxe consigo a ideia de progresso (MENDES, 2005). Apesar disso, relatos de antigos moradores da região demarcam a existência de uma Içara que antecede os trilhos do trem, uma localidade que, antes das aberturas das minas de carvão, já contava com habitantes que viviam, principalmente, da pesca e do plantio de mandioca. A produção da farinha de mandioca tornou-se, inclusive, o principal pilar econômico da região até a década de 1960 (FERNANDES, 2006; 2022).
As abelhas que percorrem a parede do viaduto e o mel que escorre da lata de tinta fazem referência à indústria apicultora que teve um papel importante na formação de identidade do município, principalmente na primeira década do século XXI (FERNANDES, 2006). Após se emancipar do município de Criciúma, habitantes com alto poder aquisitivo viam em Içara a oportunidade de comprar melhores terrenos por um menor preço, e a cidade passou a ser caracterizada como uma cidade dormitório (NUERNBERG, 2001). Ojima, Pereira e Silva (2016) caracterizam o termo tendo como base sua relação com processos demográficos e sociais nas regiões metropolitanas que, por meio da expansão urbana e da conurbação, levam à constituição de uma cidade polo, que detém maior fluxo econômico e populacional, e uma cidade polarizada que, mesmo com sua “independência” administrativa e econômica, acaba intimamente vinculada à cidade polo.
A fim de se desvincular da imagem de cidade dormitório, o poder público começa a investir em diversos setores da economia. Com a indústria apicultora ganhando destaque, inicia-se um processo de vinculação de imagem da cidade a esse setor, o que passa a ser expresso, inicialmente, nos jornais locais e, posteriormente, na infraestrutura urbana, que começa a ter sua imagem em formato ou com características de um favo de mel, sejam bancos, paradas de ônibus, outdoors ou lixeiras públicas.
Esse movimento caracteriza o que Sanches (1999; 2001) nomeia de city-marketing. O termo se refere a políticas estratégicas que buscam, por meio de discursos, meios e instrumentos de difusão, modificar a imagem subjetiva da cidade, a forma como ela é vista por aqueles que estão fora dela, de maneira a chamar sua atenção. Reitera-se que este “outro”, localizado fora do espaço da cidade, não é visto como um possível morador ou turista (por mais que o aquecimento do turismo seja uma das consequências dessas estratégias), mas sim como um investidor (PUJOL; COUTINHO, 2019; SÁNCHEZ, 1999, 2001).
Além de operar na busca de investidores, o city-marketing também atua, internamente, na forma de um “patriotismo urbano”, sendo esse o aspecto ideológico do caráter regulador do governo da cidade (SÁNCHEZ, 2001). Esse movimento leva à construção de um projeto de cidade que aparenta ser resultado da participação popular e de um esforço coletivo mas, como define a Sánchez (2001, p.42), “encobre práticas autoritárias e tecnocráticas nas definições das políticas, com escassas possibilidades de influência da sociedade civil”.
Dessa forma, inviabiliza-se a constituição do direito à cidade, inicialmente discutido por Lefebvre (2001). Ao fazer uma análise da influência do sistema econômico capitalista no espaço urbano, o autor propõe uma distinção entre a “cidade tradicional”, aquela que precede a Revolução Industrial, e a “cidade industrial”, que faz da cidade um produto. Nesse contexto, o autor aponta que “o direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como um direito à vida urbana, transformada, renovada” (LEFEBVRE, 2001, p.117-118).
É caminhando nesse sentido que Harvey (2014) aponta o direito à cidade como mais do que um direito de acesso aos recursos da cidade. Reivindicar o direito à cidade, para o autor, é equivalente à participação coletiva de ter poder influenciador no processo de urbanização das cidades. Desse modo, o processo de formação das cidades não ficaria apenas nas mãos de engenheiros, arquitetos e do capital, mas da sociedade como um todo. Ao tratar sobre a conceitualização do termo, Oliveira e Neto (2020) apontam que sua popularização levou à cooptação do termo por governos e setores imobiliários, resultando no esvaziamento de seu potencial reivindicatório e em promessas retóricas de direitos abstratos.
Apesar da dominação que o poder público exerce sobre a narrativa da cidade, tem-se o que Certeau (1998) caracteriza como “astúcia”. Partindo do conceito de tática, como uma ação calculada, portanto, intencional, que joga com o que lhe é imposto no campo controlado por um outro, o autor aponta a “astúcia” do sujeito do cotidiano como o potencial criativo, que se utiliza da ressignificação de espaços, objetos e do próprio consumo que se dá no meio urbano (CERTEAU, 1998). Na imagem 1, quem segura a lata de tinta que pinta as paredes da cidade não é uma figura de autoridade, mas a figura de um sujeito que esconde seu rosto. Um sujeito marginalizado e criminalizado, que faz uso do espaço cedido pelo poder público para a circulação de uma outra mensagem, produzindo um novo sentido e disputando seu espaço na cidade.
Na mesma ótica, Agier (2015) contribui com esta perspectiva partindo da etnografia das margens e da antropologia da cidade. O autor argumenta que a cidade é feita essencialmente de movimento e transformação no tempo e no espaço. Tal ideia considera a diversidade de vozes e atores que fazem a cidade, compreendendo-a de forma múltipla, uma vez que esta cidade não é menos real quanto aquela pensada por urbanistas e administradores.
Assim, opta-se por olhar a cidade a partir da insurgência de atores não reconhecidos pelo poder público no seu processo de construção. A insurgência, enquanto conceito, pode assumir múltiplas facetas, seja como planejamento (HOLSTON, 2016; MIRAFTAB, 2017), prática espacial (PEREIRA, 2017), ação (LIMA, 2015) ou processo (FERRARÁ; GONSALE; COMARU; 2021). Mas todas elas partilham o mesmo núcleo contra hegemônico e subversivo que busca produzir uma outra cidade.
Seguindo esta perspectiva, o fazer-cidade é resultado de disputas e interações complexas entre grupos, organizações, movimentos sociais e sujeitos, cada qual com seus objetivos, interesses e possibilidades, que levam à construção, desconstrução e reconstrução de espaços e lugares no meio urbano. Aparece, então, como uma forma alternativa àquela tecnicista, proposta pelos Planos Diretores, para entender a produção do espaço urbano (AGIER, 2011).
Para contemplar o fazer-cidade, é preciso compreender a concepção de margem, tomada por Agier (2011) em uma perspectiva, concomitantemente, epistemológica e política, que contribui para superar seu sentido geográfico de delimitação, proveniente da definição oficial e dominante. A margem é um recurso para perceber e descrever “o que, a partir de quase nada ou de um estado aparentemente caótico, faz cidade” (AGIER, 2011, p.487). Assim, emerge seu potencial produtivo, que vai além das visões normativas sobre a constituição do espaço citadino.
Partindo dessas concepções teóricas, o texto aqui apresentado discute a forma como os instrumentos tecnicistas de planejamento e produção das cidades inviabilizam e excluem atores que estão às margens do poder hegemônico. Assim, urge a necessidade de considerar o fazer-cidade de sujeitos invisibilizados, e reconhecer suas táticas e astúcias enquanto um movimento criador e subversivo no que diz respeito à construção de espaços. Para isso, o texto divide-se em duas partes.
A primeira busca caracterizar o esvaziamento do direito à cidade enquanto um conceito filosófico que foi deslocado para o plano jurídico, principalmente, por meio do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor “Participativo”, que, sob seu aspecto técnico, esconde um processo autoritário e parcial de planejamento urbano. Propõe-se, como alternativa, a insurgência como um outro processo de construção da cidade, não excludente e subversivo. Já a segunda parte apresenta o fazer-cidade no município de Içara de sujeitos marginalizados, apresentando a construção de uma cidade para além daquela técnica e burocrática do planejamento urbano. Essa apresentação se dá por meio de um diálogo entre o referencial teórico e os dados etnográficos, enfatizando as intervenções nas paredes e muros da cidade e as práticas de sujeitos em situação de rua.
Processo caminhatório
Este artigo é resultado de uma pesquisa etnográfica realizada no ano de 2022 no Centro de Içara. A delimitação do Centro enquanto lócus da pesquisa se dá a partir da compreensão de que este seria um local privilegiado devido às diversas disputas que têm essa área como palco, como os projetos de planejamento urbano e expansão imobiliária. Assim, inspirados por Agier (2011), foram elaboradas as perguntas norteadoras: Para além do poder hegemônico, quem são atores sociais invisibilizados que participam da construção da cidade? Como estes atores fazem a cidade?
Conforme Agier (2011), a etnografia urbana trata dos diferentes modelos de organização social introduzidos pelo e no meio urbano. Esse método etnográfico remete ao que Magnani (2002) aponta sobre a perspectiva antropológica, a proposta de uma pesquisa que compreende um olhar “de perto e de dentro”, possibilitando abordar aspectos excluídos de outros enfoques.
A partir das ideias de Michel de Certeau (1998), passou-se a caminhar pela cidade. Ao dissertar sobre as práticas de urbanidade, o autor diferencia o observador do caminhante. O primeiro é aquele que se coloca numa posição alheia à realidade vivida no âmago da cidade: “O corpo não está mais enlaçado pelas ruas que o fazem rodar e girar segundo uma lei anônima; nem possuído, jogador ou jogado, pelo rumor de tantas diferenças e pelo nervosismo do tráfego [...]” (CERTEAU, 1998, p.170).
Certeau (1998) aproxima o ato de caminhar, os “processos caminhatórios”, como descrito em sua obra, às formações linguísticas. Caracteriza-o com a tríplice função de apropriação do espaço topográfico, realização espacial do lugar e espaço de enunciação: “[...] caminhar é ter falta de lugar. É o processo indefinido de estar ausente e à procura de um próprio. A errância, multiplicada e reunida pela cidade, faz dela uma imensa experiência social da privação de lugar [...]” (CERTEAU, 1998, p.183).
O primeiro passo nesse processo foi delimitar o que seria o Centro de Içara. Ao invés de utilizar as indicações técnicas do poder público, optou-se por questionar os transeuntes e pedir a informação da localização do Centro da cidade, o que levou a pesquisa ser, inicialmente, realizada nos arredores da Praça da Igreja Matriz. Partindo deste ponto referencial, a pesquisa foi guiada por luzes, pessoas, cheiros, sons (às vezes, a ausência deles), levando à construção do percurso apresentado na imagem 2.
Imagem 2 – Processo caminhatório

Fonte: Acervo dos autores.
O ponto vermelho destacado no mapa representa o ponto de partida e o de chegada dessas incursões, sendo esse localizado na Rua Paulo Rizzieri, próxima à Rodovia Deputado Paulino Búrigo, também conhecida como SC-445. O ponto verde destaca a localização da Praça da Matriz São Donato, que é contornada pela Rua Coronel Marcos Rovaris (à direita), Rua Altamiro Guimarães (à esquerda) e a Rua Duque de Caxias (acima). O ponto azul demarca a localização da Praça da Juventude Fernando Pacheco, com a SC-445 à sua direita e os trilhos do trem logo abaixo.
Durante esses processos caminhatórios foram produzidos registros. Em um primeiro momento, registros fotográficos de elementos que chamaram a atenção nesse meio urbano; associado a isso, o relato e descrição das andanças pela cidade, levando à construção de um diário de campo. Estes registros possibilitaram a produção de um mapa que apresenta o trajeto percorrido durante a pesquisa.
Em meio a esse processo, os grafites e as pixações passaram a ganhar destaque ao apresentar mensagens outras, subversivas e que desafiavam os poderes hegemônicos locais. Outro grupo que também se destaca a partir de suas práticas contestatórias é o das pessoas em situação de rua. Suas práticas estão intrinsecamente relacionadas à reapropriação e ao uso dos espaços públicos em seu cotidiano, dando novos sentidos a espaços estabelecidos.
Esvaziamento do Direito à Cidade e as Práticas Insurgentes
Após a publicação do Estatuto da Cidade e de seus instrumentos urbanísticos (PINHEIRO, 2012), o direito à cidade foi associado a estes processos jurídicos por parte dos pesquisadores na primeira década do século XXI (AMANAJÁS; KLUG, 2018). Dentre eles, ganha destaque o Plano Diretor Participativo por seu caráter de ordenamento das relações sociais (REZENDE; ULTRAMARI, 2007).
Inicialmente, o Plano Diretor Participativo foi visto como um importante instrumento no combate às desigualdades socioterritoriais, principalmente por se tratar de um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana (CORIOLANO; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2013). Tendo seus objetivos e princípios orientados pelo direito à cidade (LEFEBVRE, 2001), o instrumento conseguiu vencer os impasses impostos por realidades locais e levar a mensagem primária de sua construção participativa, dando início a processos de transformação e de construção coletiva das cidades (SOUZA; GAZOLLA; PEREIRA, 2010).
Tavolari (2016), ao buscar estabelecer uma trajetória conceitual para o termo, aponta que a generalização do conceito nos círculos acadêmicos e na mídia levou ao esvaziamento e a uma confusão quanto ao seu significado. Reitera que a cristalização do termo em um direito ou conceito específico é apenas uma disputa do que o direito à cidade deve ser, levando a obscurecer o caráter filosófico da concepção desenvolvida por Lefebvre. Seria justamente pela multiplicidade de sentidos que o direito à cidade consegue unir uma diversidade de atores sociais, e isso mostra que sua reivindicação não se dá apenas por meio do estabelecimento de leis, pois não seria restrita ao âmbito estatal, o que leva a discussões sobre a própria noção de cidadania e a um novo olhar para o direito (TAVOLARI, 2016).
Em oposição ao que diz Tavolari (2016), alguns autores já apontam o direito à cidade como um direito consolidado por meio dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que contempla a política urbana brasileira, e pela lei nº10.257, de 2001, o Estatuto da Cidade (AMANAJÁS; KLUG, 2018).
Pinheiro (2012) considera, baseado no Estatuto, que a relevância do Plano Diretor Participativo se dá por orientar a formulação e gestão da política urbana de um município, sendo um instrumento básico para o desenvolvimento que, por meio de um diagnóstico da cidade, traça objetivos e estratégias para a transformação da realidade. Assim, no contexto do Estatuto da Cidade, o plano é visto não apenas como um instrumento direcionado ao planejamento físico territorial, mas também ligado ao ordenamento das relações sociais que se dão sobre o espaço do município (REZENDE; ULTRAMARI, 2007)
É por meio destes instrumentos urbanísticos que o Estatuto da Cidade busca regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, com o objetivo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade. A ressalva a este instrumento se dá pela proximidade estabelecida entre ele e a garantia do direito à cidade (AMANAJÁS; KLUG, 2018), já que a premissa do plano é garantir a participação da sociedade civil no seu processo de elaboração (PINHEIRO, 2012).
Considerando a multiplicidade de atores e sentidos envolvendo o direito à cidade, o estabelecimento de leis, por si só, garante o direito à cidade? Sobre isso, valem aqui as considerações de Flores (2008, p. 53) que evidenciam a imparcialidade do direito, que pode ser usado como técnica de domínio social particular, neutralizando conflitos desde a perspectiva da ordem dominante, já que “determina a priori quem está legitimado para produzi-la e quais são os parâmetros desde onde julgá-la.”
Azevedo (2021) aponta que, apesar de o Plano Diretor Participativo priorizar a participação popular, tem fracassado em promover o desenvolvimento inclusivo das cidades brasileiras. Segundo o autor, a classe política não prioriza medidas que melhorem a comunicação entre membros da sociedade e do poder público, o que acaba inviabilizando a participação popular na tomada de decisões, uma vez que essa população não consegue ver no Plano Diretor a possibilidade de uma vida melhor nas cidades.
Paralelo a isso, estudos como o de Santos e Marchetti (2021) mostram que não existe fiscalização no que concerne à aplicação da Lei do Estatuto da Cidade e ao uso de seus instrumentos, dentre eles, o Plano Diretor. Ademais, Pereira (2017) aponta que o desconhecimento de urbanistas da articulação entre espaço urbano, estrutura social e relações de poder conduz à construção de planos descolados da realidade, em que a dinâmica da cidade é inicialmente desconsiderada no planejamento, pois primeiro se imagina uma cidade idealizada e depois busca-se moldar a cidade real com base nesse ideal.
Ao discutir o planejamento urbano a partir do urbanismo humano, Miraftab (2017) defende a necessidade de uma virada ontológica na teorização das práticas de planejamento. Do mesmo modo que Pereira (2017), a autora aponta que os planejadores estão a serviço do bem privado e isso tem levado a uma crise de identidade e legitimidade, pois, enquanto profissão, o planejamento urbano atende (ou deveria atender) ao bem público.
Esse movimento de importação de modelos de cidade, pautado pelo tecnicismo e crescimento econômico, não está necessariamente associado à melhoria da qualidade de vida das pessoas no cotidiano urbano. Como apresentado por Porto (2008), os Planos Diretores, apesar de terem ideias pertinentes, falham em aplicá-las, principalmente, por tentar atender a uma minoria dominante das cidades. Ao discutir o Plano Diretor de São Paulo, Villaça (2005) apresenta conclusões semelhantes, caracterizando o que chama de “ilusão da participação popular”.
Expondo resultados similares, nos últimos anos vem se debatendo o “fracasso” dos Planos Diretores Participativos, como o estudo de Venâncio Filho (2014), que buscou apresentar as potencialidades e fracassos dos Planos Diretores no sertão da Bahia. Frente a essas colocações, aqui se propõe a seguinte reflexão: fracasso para quem?
Em todos os casos apresentados, até então o processo de construção do Plano Diretor Participativo tem sido claramente demarcado pela influência de setores que compõem o poder hegemônico das cidades, exemplos são as empreiteiras em São Paulo - SP (VILLAÇA, 2005), o setor da construção civil em Criciúma - SC (PORTO, 2008), o setor de turismo em Monte Santo - BA (VENÂNCIO FILHO, 2014) e os poderes econômicos em Florianópolis - SC (PEREIRA, 2017).
Passados mais de 20 anos da construção do Estatuto da Cidade e seus instrumentos, percebe-se que, para esses grupos, os Planos Diretores Participativos têm se mostrado não só bem-sucedidos, mas também uma oportunidade, já que seu poder econômico se traduz, quanto à construção desses planos, em poder político. Souza (2010), ao tratar da luta institucional, afirma que essa deve se orientar pela ação direta, não se constituindo como uma necessidade, mas sim como uma possibilidade. Alerta, ainda, que o Estado não serve à liberdade, mas está estruturalmente ligado à sua restrição e supressão e, portanto, os movimentos sociais devem estar atentos ao risco de cooptação e degeneração de suas práticas.
Portanto, o que se propõe nesse estudo não é apresentar apenas o “fracasso” dos Planos Diretores, pois fazer isso alimenta ainda uma esperança de que um instrumento técnico e desenvolvimentista possa contribuir para a melhoria das cidades brasileiras. É necessário considerar outras formas de produção do espaço urbano e, neste sentido, o que se pretende apresentar é o fazer-cidade de grupos marginalizados e excluídos desse processo burocrático de construção da cidade, mas que atuam diretamente no cotidiano e se fazem presente nos diversos espaços.
Discutindo as práticas insurgentes a partir do planejamento urbano, Miraftab (2017) aponta o planejamento insurgente como uma medida alternativa ao planejamento inclusivo liberal que, após tantas promessas, entregou apenas mais desigualdade e exclusão social. Para a autora, esse modo busca uma ruptura ontológica e epistemológica dessa forma neoliberal contemporânea, e faz isso ao abrir a teorização do planejamento a outras formas de ação, aquelas insurreições e insurgências que são constantemente criminalizadas pelo Estado liberal e combatidas pelas corporações. Nesse sentido, o planejamento insurgente muda o sujeito de sua teorização, pois o foco não é o planejador, mas sim o planejamento. Para que isso ocorra, urge a necessidade de uma abordagem relacional de planejamento, que exponha as injustiças e desigualdades a fim de promover uma compreensão transacional (MIRAFTAB, 2017).
Tratando do planejamento insurgente no início do século XXI, Holston (2016) parte das revoltas urbanas realizadas desde 2009 na Grécia até Hong Kong em 2014, para apontar que o aspecto central destas manifestações é a compreensão do fracasso das condições urbanas. O autor define os movimentos insurgentes como aqueles realizados por cidadãos organizados em assembleias, que contestam suas condições por meio de propostas que não objetivam apenas ampliar direitos, mas fazer com que o Estado aceite os direitos desenvolvidos a partir de seus encontros políticos organizados.
Ao discutir as práticas espaciais em Florianópolis, Pereira (2021) conceitua as “práticas espaciais insurgentes” como coletivas, complexas e especializadas, que transgridem códigos jurídicos para defender direitos a partir de uma perspectiva contra hegemônica. O autor identifica e discute essas práticas a fim de reconhecer os conflitos na reivindicação pelos espaços, propondo uma escala de insurgência com seis graus diferentes, indo desde a apatia (práticas que não se opõem ao pensamento hegemônico) até a “insurgência em espaços inventados” (quando a insurgência acontece por meios não reconhecidos pelo Estado).
De modo semelhante, para Lima (2015), a ação insurgente é caracterizada por estratégias e práticas espaciais realizadas por coletivos ou sujeitos que se desenvolvem no espaço público a partir de uma ação crítica, e que tendem a alterar o ambiente e a programação previamente determinada. Ao analisar dois movimentos coletivos realizados na cidade de Rio de Janeiro, o autor identifica duas demandas recorrentes no campo do urbanismo: cidades mais abrangentes e inclusivas que valorizem áreas urbanas livres não apenas como espaços de uso, mas como um local político; e cidades como locais de disseminação, troca e mobilidade de ideias plurais, que não excluem as pequenas comunidades em favor de cidades globais.
Freitas et al (2021) também partem da perspectiva de que o planejamento, por si só, não dá conta de todas as questões urbanas, por mais que, eventualmente, contribua com a qualidade de vida de alguns habitantes (a depender de quem decide e para quem se decide). Ao apresentar a história da Ocupação Raízes da Praia em Fortaleza, os autores demonstram a incongruência entre as ações do poder público municipal e a legislação federal, assim como o poder da organização popular e a autonomia da comunidade em resistir aos avanços do mercado imobiliário e às tentativas de desapropriação por parte das forças opressoras do Estado. Ademais, afirmam que a comunidade, por meio do planejamento popular, subverteu a lógica dos poderes hegemônicos locais, prevenindo a repressão de movimentos sociais. Partindo das ocupações realizadas no centro de São Paulo, Ferrara, Gonsales e Comarú (2019) apontam que essas são entendidas enquanto processos insurgentes e contestatórios ao evidenciar o quanto a propriedade privada impõe limites à questão habitacional, e seu papel de transgredir o direito à posse como barreira para superação desse problema contemporâneo.
É nesse sentido que Catalão e Magrini (2013) se questionam sobre o “dever” de continuar a procurar o direito à cidade. Para os autores, a insurgência é resultado da resistência de grupos excluídos das dinâmicas da urbanização e expressão, que se dá por meio de manifestações que promovem rupturas no funcionamento rotineiro de determinados espaços. Delimitam, assim, que “insurgir-se significa, a partir de uma inconformidade, promover uma reação ao estado geral das coisas; significa contrapor-se aos movimentos hodiernos, surpreendendo aqueles que estão no controle dos processos” (CATALÃO, MAGRINI, 2013, p. 132).
Lima (2015) demonstra que a cultura urbana de massa e a proliferação de ferramentas tecnológicas propuseram novas abordagens sobre a cidade, resultando em ativismos e grupos organizados que apontam para a certeza de que o planejamento urbano não deriva apenas de uma abordagem técnica, mas sim de interações mutáveis e disputas que se dão no campo social. Conclui, assim, que a pluralidade de vozes no contexto atual demanda um urbanismo que não ignore as nuances reveladas pelos movimentos que permeiam a cidade. Da mesma forma, após apresentarem o caso da Ocupação Raízes da Praia, Freitas et al (2021) concluem que o planejamento contra hegemônico precisa caminhar na direção do reconhecimento do conflito, das diferenças e das desigualdades estruturais, a fim de se distanciar do ideal de planejamento popular dado até então.
É a partir destas colocações que urge a necessidade de se problematizar a urbanização contemporânea. O ponto aqui não é repensar o planejamento, mas ir além dele. Caminhar com essas práticas não planejadas, porém estrategicamente organizadas no espaço urbano. Ao aproximar as práticas urbanas insurgentes ao conceito de território, Balem e Reys (2022) afirmam que, entendendo o território como um ato sempre em disputa, a partir de um aspecto temporal, dinâmico e em rede, visto por meio de relações de poder, os corpos insurgentes territorializam táticas a fim de espalhar seus discursos orientados por uma estratégia de desidentificação com a ordem hegemônica.
Almeida e Campos (2022) sustentam que, por mais que a estrutura hegemônica favoreça a combinação entre atores dominantes na apropriação de territórios, é por meio das práticas espaciais e cotidianas que atores contra hegemônicos estruturam ações transformativas do espaço urbano, caracterizando as práticas insurgentes com seu caráter colaborativo e contestatório. Para as autoras, essas práticas precisam de seus territórios, pois esses constituem seu próprio espaço de fala, colocando-se não só como uma possibilidade de contestação às más condições de habitação e garantia da estabilidade através da propriedade, mas também como a reivindicação de condições de vidas dignas.
Percebe-se, então, que a insurgência não aparece como um conceito filosófico da academia que transborda para a realidade material. Há um caminho inverso, complexo não apenas por sua definição teórica, mas por suas múltiplas possibilidades de ações, movimentos e práticas, que compartilham da perspectiva contra hegemônica e transcendem a dimensão do direito e do direito à cidade, entendido enquanto um objeto jurídico. É nesse sentido que essas práticas na cidade de Içara serão apresentadas a partir do fazer-cidade.
O fazer-cidade das práticas insurgentes em Içara
No município de Içara, esse fazer-cidade também está expresso nas paredes dos viadutos e muros, assim como nas praças da cidade. Trata-se aqui das intervenções urbanas expostas em diferentes partes da área central. Essas manifestações estéticas, por vezes, fazem uso de elementos da história do município, ora com permissão do poder público, ora de maneira subversiva.
No contexto deste trabalho, tanto o grafite quanto a pixação são considerados, conforme Gohl e Fort (2016), manifestações populares contemporâneas expressivas que, por vezes, não são planejadas. O objetivo de utilizar essa terminologia para denominar estas duas práticas é considerar o papel de ambas no fazer-cidade, considerando sua potência na produção de novos sentidos no espaço urbano. No entanto, cabe ponderar que, no cotidiano das cidades, há uma distinção sobre como essas manifestações são aceitas ou não em determinados espaços. O grafite vêm sendo considerado uma manifestação artística contemporânea, diferentemente da pixação, que é criminalizada (BLAUTH; POSSA, 2013).
Ao discutir o tema, Oliveira e Marques (2015) apontam que o modo de tratamento do pixo e do grafite está marcado não apenas por uma perspectiva estética, mas também mercantil. As autoras reiteram, ainda, que essa ocupação estética da cidade assusta as autoridades pelo seu caráter “descorporificado”, ou seja, manifestações e intervenções que surgem da noite para o dia sem uma identificação de quem as fez (p.135): “Por isso, o controle tem que ir a todas as esferas, de forma ampla: tornar a lei mais severa, apagar as marcas, identificar os pichadores, ensinar o grafite para as crianças da periferia para que não pixem, etc.” A partir deste contexto, é necessário evidenciar que essas intervenções urbanas (CAMPOS; ABALOS; MEIRINHO, 2021) também fazem a cidade (AGIER, 2015).
Ao estabelecer um diálogo entre a arte e a cidade, Gorczevski, Albuquerque e Lima (2021) mostram que, em momentos extremos, as expressões artísticas ganham a dimensão de “guerrilha sensível”, mobilizando e acolhendo a condição humana. Nesse sentido, reaver a cidade é também reaver a política, pois “quando nos omitimos do comprometimento estético e social, portanto, político, com as cidades que coabitamos, liberamos a sua exploração para o modelo desenvolvimentista [...]” (GORCZEVSKI; ALBUQUERQUE; LIMA, 2021, p.43).
Nos últimos anos, o Brasil foi marcado por “momentos extremos”. Pandemia, desastres naturais e crises políticas têm ganhado destaque num contexto em que a retórica da extrema-direita se aglutinou ao redor da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro (ALMEIDA, 2019). O que inicialmente foi caracterizado como “onda conservadora” tornou-se rapidamente um movimento neofascista brasileiro, como aponta Mattos (2020).
Dado este contexto, os muros, as pistas de skate e as praças da cidade passaram a ser o local de atividade das “guerrilhas sensíveis” (GORCZEVSKI; ALBUQUERQUE; LIMA, 2021), nas quais símbolos e frases tomam forma e produzem outro sentido, que ultrapassam o discurso hegemônico presente (Imagem 3).
Imagem 3 – Suástica cortada

Fonte: Acervo dos autores.
Um dos espaços utilizados para a circulação de sentidos é a pista de skate localizada no Módulo Esportivo de Içara (Imagem 3). As manifestações populares contemporâneas neste local, como caracteriza Gohl e Fort (2016), recorrentemente se dão por meio das tags e trazem linguagens ou imagens subversivas. Pereira (2017) relata que muitos pixadores afirmam protestar por meio da pixação, assim essa prática assume um caráter contestatório. Como apresentado na sessão anterior do texto, é por meio dessas práticas subversivas que o ambiente e o espaço público passam a ser alterados a partir de uma ação crítica (LIMA, 2015).
Ademais, a imagem 4 apresenta uma série de manifestações estéticas que apresentam origens diferentes. Pereira (2010), ao tratar sobre a pixação em São Paulo, explica que essa tem uma característica específica e um formato “bastante peculiar”: traços retos e angulosos, que podem ser percebidos estilizados com tinta branca. Além disso, é possível observar o estilo estadunidense de pixação, a tag, com formato mais arredondado, lembrando, muitas vezes, uma rubrica (PEREIRA, 2010).
Ao questionar “de onde vem os desenhos da cidade?”, Abalos Junior (2018) reflete como o grafite e o modo de produção da street art é impactado pelo processo de globalização de tecnologias digitais, e que manifestantes locais se apropriam e reinventam designações globalizantes em um saber fazer localizado. Em Içara, esse processo fica demarcado na diversidade e nos estilos das intervenções estéticas. Estas transmitem mensagens em um movimento político que não se dá apenas na dimensão material, mas também simbólica e estética.
A opção por pixar nas áreas centrais da cidade não se dá por mera conveniência. Pereira (2010) aponta que a pixação é uma forma de marcar o nome de um grupo ou de um pichador específico em determinado local. O autor ainda retrata que os centros urbanos normalmente são locais estratégicos para pixação por serem um ponto de convergência. Nesse sentido, pode-se pensar o centro enquanto um local estratégico para manifestações contemporâneas e intervenções urbanas, pois se ganha mais visibilidade.
Nesse sentido, a cidade é vista também como um terreno de ação política, onde movimentos sociais e formas de resistência se manifestam no espaço público. Para além desses movimentos com protagonismo claramente demarcados, há a participação de indivíduos anônimos que marcam e tensionam a cidade, levando a impulsos disruptivos, simbólicos e estéticos que, com a criatividade, entendendo-a como uma prática político-estética e discursiva, levam a inúmeras formas de subversão (CAMPOS; JÚNIOR; MEIRINHO, 2021).
Outro exemplo destas manifestações estéticas está nas frases que expõem sentimentos de seus manifestantes (Imagem 4). Não são raras as aparições de frases como está nos muros de praças ou de instituições públicas e/ou privadas.
Imagem 4 – "Uma Merda"

Fonte: Acervo dos autores.
Percebe-se que, mesmo excluídos do processo técnico e burocrático de construção da cidade proposto pelo Plano Diretor Participativo, sujeitos marginalizados usam de suas táticas e astúcias (CERTEAU, 1998) para realizarem o que Agier (2015) caracteriza como fazer-cidade. Ao propor uma antropologia da cidade, o autor aponta que a representação de uma cidade resultante tanto de processos construtivos quanto desconstrutivos tem a possibilidade de ser mais verdadeira do que aquela produzida pelas políticas urbanas.
Esse processo de disputa em Içara fica representado nos muros da escola Salette Scotti dos Santos (Imagem 5), localizada no centro da cidade. Após anos sendo um espaço dedicado à exposição destas manifestações populares contemporâneas (GOLH; FORT, 2016), o muro foi pintado com as cores da bandeira do Estado de Santa Catarina.
Como apresentado anteriormente, esse tipo de disputa estética não representa apenas uma alteração arquitetônica no centro da cidade. Retoma-se Balem e Reys (2022) no que tange às estratégias de ocupação do território. Os autores afirmam que a territorialização insurgente leva à recriação da localização, não tratando apenas de aspectos geográficos ou arquitetônicos, mas de coordenadas da imaginação da sociedade. É uma disputa de poder que revela um processo de identificação/desidentificação.
Imagem 5 – Intervenção no muro da escola

Fonte: Acervo dos autores.
Além de cobrir as intervenções urbanas, uma outra estratégia do poder público é fazer uso da Polícia Militar para afastar esses sujeitos de determinado espaço. Isso é feito por meio de certas iniciativas, por exemplo, a polícia estacionar suas viaturas próximo das praças ou outros locais de encontro por alguns dias, sob a justificativa de combater a insegurança, e assim revistando sujeitos “suspeitos” que transitam por aquele espaço.
Esse movimento de militarização da vida urbana, não só marcado pela acentuação da presença da Polícia Militar na cidade, mas também pela incorporação de recursos de tecnologia para vigilância e controle da vida cotidiana, caracteriza o que Graham (2016) nomeia de “novo urbanismo militar”. Ao dissertar sobre o tema, o autor evidencia que esse processo amplia e revive a securitização, o pensamento maniqueísta e a instigação do medo por meio de uma divisão conceitual entre o interno e o externo.
Em um mundo cada vez mais marcado pelo uso das redes sociais, essas passam a integrar as táticas dos pichadores. Campos (2020) analisa como a expansão da Internet e do consumo dos dispositivos móveis tiveram impacto na forma como o espaço é vivido, caracterizando o que denomina de culturas juvenis híbridas.
O autor considera o hibridismo numa dupla vertente. A primeira remete à forma como a tecnologia se apresenta, cada vez mais, como uma extensão do corpo humano. E a segunda está relacionada ao modo como o mundo físico e sensorial encontra seu duplo hiper midiático. Conforme os sujeitos captam imagens, gravam vídeos e compartilham esse material pelas redes sociais, acontece a construção de uma cidade digital fragmentada, produzindo um vai e vem entre o mundo sensorial e o virtual. Por isso, faz pouco sentido estabelecer um antagonismo entre o mundo offline e online (CAMPOS, 2020). Assim, conforme a polícia se organiza para ocupar determinado espaço, os sujeitos que realizam intervenções pela cidade se movem para outro, caracterizando uma disputa socioespacial cada vez mais complexa.
A organização da polícia para essa ocupação não acontece apenas com o princípio de disputa de espaço com pichadores. Outra população marginalizada, que também é alvo desse processo de militarização da cidade, é a população em situação de rua. Durante o processo caminhatório, essa população foi outra que se destacou no sentido do fazer-cidade, não só pela astúcia e suas táticas (CERTEAU, 1998), mas pelo intenso processo de disputa que essa população passa com esse meio urbano militarizado.
Exemplo desse processo se dá pelas falas de um casal que, após perderem o emprego no município de Tubarão, dirigiram-se até a região de Criciúma em busca de trabalho.
Armamos uma barraca na frente da rodoviária de Criciúma. Fomos acordados uma noite, às duas e meia da manhã: “Saiam da barraca, se não a gente vai fuzilar!” Quando saímos da barraca, ao invés de assaltantes, a gente viu a polícia. Nós gostamos de ficar nas áreas centrais justamente por conta da polícia, fomos assaltados tantas vezes, nunca imaginei que aqui a polícia nos trataria dessa forma. Eles riam da nossa cara e diziam que em Criciúma não existia morador de rua porque quem mandava era a polícia
A figura da pessoa em situação de rua sofre, no urbanismo militar, aquilo que Graham (2016) denomina como a demonização e criação de um inimigo que se torna, ao mesmo tempo, a origem do medo e da insegurança. Deste modo, justifica-se a violência sobre esses sujeitos, destituindo-os de sua condição humana e transformando-os em alvos.
Em Içara, o combate a pessoas em situação de rua acontece de maneira muito mais sutil, mas não menos violenta. Trata-se aqui da maneira como a arquitetura hostil vem tomando forma e caracterizando o Centro da cidade. Kussler (2021), ao conceituar o termo, apresenta-o também como arquitetura defensiva ou arquitetura disciplinar, e analisa que estas propostas revelam o uso intencional de elementos estruturais em espaços públicos para restringir e controlar a apropriação daquele espaço por outros grupos. Reitera que o projeto arquitetônico hostil redefine o próprio conceito de espaço público, já que é seletivo na decisão de qual grupo pode ou não frequentar determinado lugar, fazendo uso do argumento de defesa da propriedade privada para hostilizar o espaço público.
Uma das táticas utilizadas por pessoas em situação de rua no Centro de Içara é a de se aproximar do bairro após o término do horário comercial e do intenso fluxo de pessoas que transitam do trabalho para casa. A praça, os bancos e a área de entrada da igreja, utilizados durante o dia como espaços de passagem e/ou lazer, tornam-se espaços de descanso para esses sujeitos, que permanecem ali até às seis horas da manhã, quando recolhem todos seus pertences e saem sem deixar rastros. De forma a coibir a presença desses sujeitos próximo a lojas e edifícios comerciais, os proprietários deixam as luzes de suas vitrines e fachadas ligadas durante a noite, impossibilitando que as pessoas possam dormir perto desses locais.
Retoma-se aqui a tese de Graham (2016). A militarização da cidade vai além do uso de instrumentos tecnológicos e forças militares do Estado. Também está relacionada à transformação dos cidadãos em combatentes a esses inimigos socialmente demarcados, um movimento civil militar que tem como um de seus fins higienizar a cidade.
Frente a esses processos, a noção de insurgência permite revelar o fazer-cidade. Como apresentado, o movimento subversivo de produção da cidade se dá de forma criativa; assim, a noção de criatividade, quando inclusa nesse discurso, não é feita de maneira vazia ou caricata. Trata da capacidade de grupos marginalizados de enfrentarem, subverterem e sobreviverem às investidas dos poderes hegemônicos apesar de todas as circunstâncias adversas. É assim que a insurgência revela o fazer-cidade (AGIER, 2015), não apenas pelo conflito, mas também pelo que esse conflito apresenta: um processo de desconstrução de uma sociedade que exclui determinados grupos e a construção de uma outra que caminha em um sentido diferente.
Ao falar da insurgência no campo do planejamento urbano, Miraftab (2017) aponta a necessidade de subverter a forma como cidadãos e burocratas são situados na construção das cidades. Segundo a autora, é preciso atentar-se a outras formas de ação, as insurreições constantemente criminalizadas. Nesse sentido, ao olhar para as pessoas em situação de rua, é preciso estar atento ao que a presença e ação desses sujeitos revela sobre o meio urbano. Como citado anteriormente, Balem e Reys (2022) apresentam a concepção de “corpos insurgentes” ligados ao território. Os autores não fazem o uso do termo apenas para se referirem a participantes e/ou membros de movimentos insurgentes, mas tratam de corpos que se desidentificam da ordem hegemônica.
É a partir dessas concepções que se entende aqui o fazer-cidade das pessoas em situação de rua. Não porque estão necessariamente ligados a um movimento organizado, ou vinculados a um grupo específico, mas porque seus “corpos insurgentes” revelam aquilo que Pereira (2017) compreende como ponto de surgimento da insurgência, ou seja, as fissuras no discurso do projeto hegemônico.
É a partir dessas práticas insurgentes, traduzidas nas manifestações populares contemporâneas expressivas, que a disputa entre sujeitos marginalizados e o poder público acontece na cidade de Içara. Uma disputa onde um grupo, dotado do poder hegemônico e de mecanismos de controle, planeja e idealiza uma cidade pautada no seu crescimento econômico e na securitização, e outro grupo utiliza de táticas e estratégias para subverter e reconstruir o espaço urbano.
Considerações Finais
Caminhar pelo centro da cidade de Içara se deu, também, num processo reflexivo constante. Transitar repetidas vezes pelo mesmo local e se deparar com as diversas manifestações expressivas, apresentadas nas paredes e muros, possibilitou olhar para esses locais e ultrapassar a superficialidade. Por mais que Içara seja uma “cidade pequena” comparada às metrópoles brasileiras, ela apresenta processos complexos em contexto histórico e suas disputas atuais.
Ao caracterizar o município de Içara enquanto uma cidade que, na tentativa de ganhar um destaque regional, passou a adotar estratégias que beneficiam determinados setores da sociedade, evidenciou-se um processo que, por trás de seu aspecto burocrático e técnico, está longe de ser neutro e imparcial. Conforme aponta Agier (2015), a cidade não é constituída apenas de dados quantitativos, mas sim por essa construção e desconstrução constante, caracterizando disputas, intenções e afetos no meio urbano.
A segunda parte do texto destaca as insurgências, que vem ganhando cada vez mais destaque no meio técnico-científico como uma outra forma de olhar e pensar a cidade, apresentando o fazer-cidade de sujeitos marginalizados. Reitera-se que o fazer-cidade, apresentado neste trabalho, reuniu manifestações estéticas contemporâneas (GOHL; FORT, 2016) e a ocupação do espaço das pessoas em situação de rua do município. Enfatiza-se que dado o contexto político e social da região, muitos outros sujeitos marginalizados também se apropriam e fazem a cidade a sua maneira.
Portanto, pensar o fazer-cidade parte da observação desses diversos grupos e seus movimentos no meio urbano, sem impor juízo de valor ou cair em armadilhas discursivas. Nesse sentido, partindo também de Michel de Certeau (1998), o fazer-cidade esteve no caminhar e olhar sobre o ambiente urbano, que através desse texto também busca contribuir na construção de uma Içara subversiva e que não se aliena frente aos poderes hegemônicos locais.
Referências
ABALOS JÚNIOR, J. L. De onde vem os desenhos na cidade? PIXO - Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade, Pelotas, v. 2, n. 4, p. 36–49, 2018. Disponível em: https://revistas.ufpel.edu.br/index.php/pixo/article/view/474. Acesso em: 20 jun. 2023.
AGIER, M. Antropologia da Cidade: lugares, situações, movimento. São Paulo: Terceiro Nome, 2011.
AGIER, M. Do direito à cidade ao fazer-cidade: o antropólogo, a margem e o centro. Mana, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 483-498, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p483. Acesso em: 20 jun. 2023.
ALMEIDA, N. B. L.; CAMPOS, H. Á. Espaço urbano e práticas insurgentes no 4° Distrito de Porto Alegre. Revista V!RUS, São Paulo, v. 1, n. 25, 2022. Disponível em: http://www.nomads.usp.br/virus/papers/v25/615/615pt.php. Acesso em: 20 jun. 2023.
ALMEIDA, R. de. Bolsonaro Presidente: Conservadorismo, Evangelismo E a Crise Brasileira. Novos estudos CEBRAP, São Paulo, v. 38, p. 185–213, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.25091/S01013300201900010010. Acesso em: 20 jun. 2023.
AMANAJÁS, R.; KLUG, L. Direito à Cidade, cidade para todos e estrutura sociocultural urbana. In: COSTA, M. A.; THADEU, M.; FAVARÃO, C. B. (org.). A Nova Agenda Urbana e o Brasil: insumos para sua construção e desafios para sua implementação. Brasília: Ipea, 2018. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8380. Acesso em: 20 jun. 2023.
AZEVEDO, T. A. Os desafios em elaborar e executar um Plano Diretor Participativo. Zeiki, Barra do Bugres, v. 2, n. 1, p. 124–134, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.30681/zeiki.v2i1.5371. Acesso em: 20 jun. 2023.
BALEM, T.; REYES, P. O território para as práticas urbanas insurgentes. PIXO - Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade, Pelotas, v. 6, n. 22, p. 58–71, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.15210/pixo.v6i22.2563. Acesso em: 20 jun. 2023.
BLAUTH, L.; POSSA, A. C. K. Arte, grafite e o espaço urbano. Palíndromo, Florianópolis, v. 4, n. 8, 2013. Disponível em: https://revistas.udesc.br/index.php/palindromo/article/view/3458. Acesso em: 10 set. 2023.
CAMPOS, R.; ABALOS JÚNIOR, J. L.; MEIRINHO, D. Olhares cruzados sobre arte, imagem e resistências urbanas. Iluminuras, Porto Alegre, v. 22, n. 56, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.22456/1984-1191.115991. Acesso em: 20 jun. 2023.
CAMPOS, R. M. O. Juventude e Culturas de Rua Híbridas. Sociol. Antropol., Rio de Janeiro, v.10, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2238-38752020v10211. Acesso em: 20 jun. 2023.
CATALÃO, I.; MAGRINI, M. A. Insurgência, espaço público e direito à cidade. Revista da ANPEGE, Dourados, v. 13, n. 22, p. 119–135, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.5418/RA2017.1322.0005. Acesso em: 20 jun. 2023.
CERTEAU, M. de. A Invenção do Cotidiano. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1998.
CORIOLANO, G. P.; RODRIGUES, W.; OLIVEIRA, A. F. de. Estatuto da Cidade e seus instrumentos de combate às desigualdades socioterritoriais: o Plano Diretor Participativo de Palmas (TO). urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, Curitiba, v. 5, p. 131–145, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.7213/urbe.05.002.AC04. Acesso em: 20 jun. 2023.
FERNANDES, E. M. As Dobras do Tempo: história e memórias de nossa terra e nossa gente. Blumenau: AmoLer Editora, 2022.
FERNANDES, E. de M. O Município de Içara: nossa terra nossa gente. Criciúma: ed. do autor, 2006.
FERRARA, L. N.; GONSALES, T. A.; COMARÚ, F. A. Espoliação urbana e insurgência: conflitos e contradições sobre produção imobiliária e moradia a partir de ocupações recentes em São Paulo. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 21, p. 807–830, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2236-9996.2019-4606. Acesso em: 20 jun. 2023.
FLORES, J. H. Os Direitos humanos no Contexto da globalização: três precisões conceituais. Lugar Comum: Estudos de mídia, cultura e democracia, Rio de Janeiro, n.25-26, p. 39-71, 2008. Disponível em: https://www.forumjustica.com.br/wp-content/uploads/2013/02/aula-17_Joaquin-DHs.pdf. Acesso em: 20 jun. 2023.
FREITAS, C. S.; ARIAS, M. T.; ROCHA, R. T.; FIGUEIREDO, L. G.; ROLDAN, A. C. A.; NASCIMENTO, V. Comunidade Raízes da Praia: uma experiência de práticas insurgentes na cidade de Fortaleza. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 160–184, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.12957/rdc.2021.44166. Acesso em: 20 jun. 2023.
GOHL, F. C.; FORT, M. C. Conflitos urbanos: grafite e pixação em confronto devido à legislação repressiva. Logos, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.12957/logos.2016.17412. Acesso em: 20 jun. 2023.
GORCZEVSKI, D.; ALBUQUERQUE, A. M.; LIMA, J. M. D. A. Artes de Intervenção, Inventar Cidades. Iluminuras, Porto Alegre, v. 22, n. 56, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.22456/1984-1191.112374. Acesso em: 20 jun. 2023.
GRAHAM, S. Cidades Sitiadas: o novo urbanismo militar. São Paulo: Boitempo, 2016.
HOLSTON, J. Rebeliões metropolitanas e planejamento insurgente no século XXI. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, São Paulo, v. 18, p. 191–204, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.22296/2317-1529.2016v18n2p191. Acesso em: 20 jun. 2023.
KUSSLER, L. M. Arquitetura hostil e hermenêutica ética. Geograficidade, Niterói, v. 11, n. Especial, p. 16–25, 2021. Disponível em: https://periodicos.uff.br/geograficidade/article/view/29463. Acesso em: 20 jun. 2023.
LIMA, C. H. M. de. Cidade em movimento: práticas insurgentes no ambiente urbano. Oculum Ensaios, Campinas, v. 12, n. 1, p. 39–48, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.24220/2318-0919v12n1a2711. Acesso em: 20 jun. 2023.
MAGNANI, J. G. C. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v.17, n. 49, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0102-69092002000200002. Acesso em: 20 jun. 2023.
MATTOS, M. B. Governo Bolsonaro: neofascismo e autocracia burguesa no Brasil. São Paulo: Usina Editorial, 2020.
MENDES, L. W. Um novo mundo: alterações espaciais e imaginário social na instalação da ferrovia em Içara. Criciúma: UNESC, 2005.
MIRAFTAB, F. Insurgência, planejamento e a perspectiva de um urbanismo humano. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Presidente Prudente, v. 18, n. 3, p. 363–377, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.22296/2317-1529.2016v18n3p363. Acesso em: 20 jun. 2023.
NUERNBERG, A. Diagnóstico socioeconômico de Içara. Criciúma: Unesc, 2001.
OJIMA, R.; PEREIRA, R. H. M.; SILVA, R. B. Cidades-dormitório e a mobilidade pendular: espaços da desigualdade na redistribuição dos riscos socioambientais. In: XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, Caxambú, 2016. Anais [...]. Caxambú: ABEP, p. 1-20, 2016.
OLIVEIRA, A. K. C.; MARQUES, A. C. S. Só pode pixar quem não é pixador: artifícios capitalistas de criminalização e capitalização no universo da pixação. Revista Eco-Pós, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p. 126–137, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.29146/eco-pos.v18i3.2498. Acesso em: 20 jun. 2023.
OLIVEIRA, F. M. G.; NETO, M. L. S. Do direito à cidade ao direito dos lugares. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, Curitiba, v. 12, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2175-3369.012.e20190180. Acesso em: 20 jun. 2023.
PAVEI, M. F. S. Além dos trilhos do trem: 1961-2011: 50 anos de emancipação política de Içara. Içara: Ed. do Autor, 2011. 323 p.
PEREIRA, A. B. As marcas da cidade: a dinâmica da pixação em São Paulo. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 79, p. 143–162, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0102-64452010000100007. Acesso em: 20 jun. 2023.
PEREIRA, E. M. Como anda a participação? As condições para a elaboração de planos diretores participativos. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Presidente Prudente, v. 19, n. 2, p. 235–235, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.22296/2317-1529.2017v19n2p235. Acesso em: 20 jun. 2023.
PEREIRA, E. M. Práticas espaciais insurgentes em Florianópolis: conteúdos e níveis de insurgência desiguais. Anais do XIV ENANPEGE. Campina Grande: Realize Editora, 2021. Disponível em: https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/78715. Acesso em: 20 jun. 2023.
PINHEIRO, O. M. Plano Diretor e Gestão Pública. 2. ed. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração/UFSC, 2012.
PORTO, E. P. Planos Diretores e (Re) Produção do Espaço Urbano no Município de Criciúma: a produção da cidade e sua regulação legal. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2008. Disponível em: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/90974. Acesso em: 20 jun. 2023.
REZENDE, D. A.; ULTRAMARI, C. Plano diretor e planejamento estratégico municipal: introdução teórico-conceitual. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 41, p. 255–271, 2007.
SÁNCHEZ, F. A reinvenção das cidades para um mercado mundial. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 16, p. 31-49, jun. 2001.Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rsocp/n16/a03n16.pdf. Acesso em: 20 jun. 2023.
SÁNCHEZ, F. Políticas urbanas em renovação: uma leitura dos modelos emergentes. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Presidente Prudente, n. 1, p. 115-132, 1999. Disponível em: https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/13. Acesso em: 20 jun. 2023.
SANTOS, P. R.; MARCHETTI, M. C. Análise do plano diretor participativo de Ibimirim, Pernambuco: ineficiências e desafios. Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade, Curitiba, v. 10, n. 20, p. 72–86, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.22292/mas.v10i20.952. Acesso em: 20 jun. 2023.
SOUZA, M. L. Com o Estado, apesar do Estado, contra o Estado. Revista Cidades, Chapecó, v. 7, n. 11, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.36661/2448-1092.2010v7n11.12223. Acesso em: 20 jun. 2023.
SOUSA, T. G.; GAZOLLA, D. A.; PEREIRA, L. S. F. Adaptação Metodológica em Modelo de Plano Diretor Participativo: A Experiência do PDP de Novo Oriente de Minas. In: Encontros Nacionais de Engenharia e Desenvolvimento Social, 7, 2010, Teófilo Otoni. Anais [...], Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. Disponível em: https://anais.eneds.org.br/index.php/eneds/article/view/232. Acesso em: 20 jun. 2023.
TAVOLARI, B. Direito à Cidade: uma trajetória conceitual. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, v. 35, n.1, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/nec/a/hdLsr4FXMpVZWPJ7XswRRbj/abstract/?lang=pt. Acesso em: 20 jun. 2023.
VENÂNCIO FILHO, R. P. As Potencialidades Locais e o Fracasso dos Planos Diretores no Sertão da Bahia: o exemplo de Monte Santo. In: Simpósio Cidades Médias e Pequenas da Bahia, 2014, Bahia. Anais [...]. Bahia: UESB, 2014. Disponível em: http://anais.uesb.br/index.php/ascmpa/article/view/4428. Acesso em: 20 jun. 2023.
VILLAÇA, F. As Ilusões do Plano Diretor. São Paulo: Edição do Autor, 2005.
Data de Recebimento: 21/06/2023
Data de Aprovação: 01/11/2023